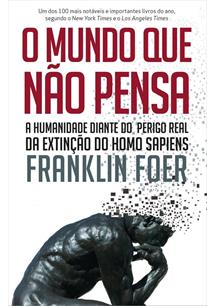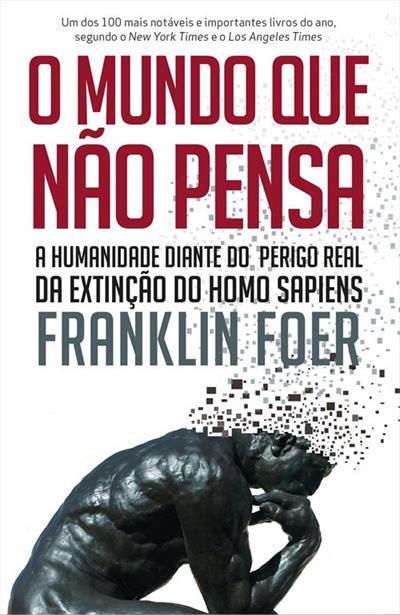
O mundo que não pensa, um dos livros mais aclamados e polêmicos dos últimos anos, mostra o lado sombrio e preocupante da tecnologia do nosso cotidiano. O jornalista Frankin Foer afirma que estamos terceirizando nossas capacidades intelectuais para empresas como Apple, Google e Facebook, dando origem a um mundo onde a vida social e política passa a ser cada vez mais automatizada e menos diversa. Com um texto inteligente, perspicaz, claro e elegante, herdeiro da melhor tradição do jornalismo, Foer revela os tentáculos sorrateiros de nossos mais idealísticos sonhos tecnológicos...
Capa comum: 240 páginas Editora: Leya; Edição: 1 (27 de agosto de 2019) ISBN-10: 8544107672 ISBN-13: 978-8544107676 Dimensões do produto: 22,2 x 15,6 x 2 cm
Leia trecho do livro
Até pouco tempo atrás, era fácil definir as empresas mais proeminentes da nossa época. Qualquer estudante de oito ou nove anos de idade sabia descrever a essência delas. A Exxon comercializa petróleo; o McDonald’s faz hambúrgueres; o Walmart é o lugar onde se encontra de tudo um pouco. Só que o mundo mudou. Hoje, monopólios cada vez mais poderosos querem abarcar a existência em sua totalidade. Algumas dessas empresas foram batizadas em função de aspirações ilimitadas. A Amazon – cujo nome se refere ao rio mais volumoso do mundo – tem uma logo que aponta da letra A à letra Z; Google deriva de googol, número (1 seguido de 100 zeros) que os matemáticos usam como símbolo para quantidades enormes, inimagináveis.
Onde essas empresas começam e onde elas terminam? Larry Page e Sergey Brin fundaram o Google com a missão de organizar o conhecimento, mas isso se provou bastante limitado. Agora a empresa planeja montar carros que prescindam de motorista, fabricar smartphones e vencer a morte. No passado, a Amazon se contentava em ser “a loja que vende de tudo”, mas atualmente produz programas de televisão, projeta drones e potencializa a nuvem. As empresas de tecnologia mais ambiciosas – como Facebook, Microsoft e Apple – estão numa disputa para se tornar nosso “assistente pessoal”. Querem nos despertar de manhã, usar um software de inteligência artificial para nos guiar ao longo do dia e permanecer o tempo todo em nosso encalço. Pretendem se tornar um repositório de itens preciosos e pessoais, nosso calendário e contatos, fotos e documentos. A ideia é que a gente recorra a elas quase no automático, em busca de informação e entretenimento; enquanto isso, essas empresas criam vastos catálogos com nossas intenções e aversões. O Google Glass e o Apple Watch antecipam o dia em que a inteligência artificial será implantada dentro de nós.
Mais do que qualquer “panelinha” de empresas do passado, os monopólios de tecnologia querem moldar a humanidade a seu bel-prazer. Acreditam ter a oportunidade de completar a extensa fusão entre homem e máquina, redirecionando a trajetória da evolução humana. Como sei disso? Esses indícios são lugar-comum no Vale do Silício, ainda que grande parte da imprensa de tecnologia não dê muita bola para isso, obcecada que está em cobrir a última novidade. Em discursos anuais e debates públicos, os fundadores dessas empresas costumam fazer grandes pronunciamentos acalorados sobre a natureza humana – na verdade, sobre a visão de natureza humana que pretendem impor a nós.
É comum tentarmos resumir a visão de mundo compartilhada por quem é da área de tecnologia. Presume-se que o liberalismo predomine no Vale do Silício, o que não é de todo equivocado. Encontram-se ali ilustres devotos de Ayn Rand. Porém, quando ouvimos com atenção os gigantes da tecnologia, não é essa visão de mundo que vem à tona. Na verdade, o que desponta é quase o oposto da veneração liberal do indivíduo heroico e solitário. As grandes empresas de tecnologia acreditam que somos, em essência, seres sociais, destinados à existência coletiva. Elas creem na rede, na sabedoria das massas e na colaboração. Acalentam o desejo profundo de que o mundo atomizado consiga se curar. Ao agrupar esse mundo num todo unificado, estarão aptas a tratar suas enfermidades. No plano retórico, as empresas de tecnologia acenam para a individualidade – para o fortalecimento do “usuário” –, mas sua visão de mundo se afasta disso. Mesmo a onipresente invocação de usuários revela muita coisa: uma descrição passiva e burocrática de nós.
As gigantes da tecnologia – agrupadas pelos europeus sob a palatável sigla GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) – estão triturando os princípios que protegem a individualidade. Seus dispositivos e sites acabaram com a privacidade; e, quando elas demonstram resistência em relação à propriedade intelectual, estão desrespeitando o princípio de autoria. No campo econômico, justifica-se o monopólio com o ponto de vista muito bem articulado de que a competição enfraquece nossa busca pelo bem comum e por objetivos grandiosos. No que diz respeito ao principal pressuposto do individualismo – o livre-arbítrio –, as empresas de tecnologia têm outra abordagem. Elas esperam automatizar as escolhas que fazemos ao longo do dia, quer sejam decisões grandes, quer sejam pequenas. São seus algoritmos que recomendam as notícias que lemos, os bens que compramos, o caminho que pegamos e os amigos que trazemos para perto.
É difícil não se deslumbrar com essas empresas e suas invenções, que não raro facilitam demais nossa vida. Acontece que já passamos muito tempo nessa fase de deslumbramento. Chegou a hora de levar em conta as consequências desses monopólios, de reafirmar nosso papel na determinação dos rumos da humanidade. Depois de cruzar certos limites – de transformar os princípios das instituições, de abandonar o conceito de privacidade –, não há como voltar atrás, como recuperar a individualidade perdida.
Ao longo das gerações, já houve outras revoluções como essa. Algum tempo atrás, nos encantamos com as maravilhas da comida congelada e de alimentos ultramodernos que de uma hora para outra povoaram as cozinhas: fatias de queijo embaladas em plástico, apetitosas pizzas saídas direto do freezer e pacotes industrializados de guloseimas fritas. Na história humana, essas pareciam inovações revolucionárias. Como num passe de mágica, tarefas que consumiam um tempo danado viraram coisa do passado: ir às compras para procurar ingredientes; depois enfrentar o passo a passo maçante das receitas e ainda ter de lidar com o rastro deixado por potes e panelas com crostas de sujeira.
A revolução alimentar não foi apenas fascinante: tratou-se de algo transformador. Novos produtos foram incorporados à vida cotidiana, tanto assim que levou muitas décadas até entendermos o preço que se paga por sua conveniência, eficácia e abundância. Esses alimentos eram obra de uma engenharia perfeita, mas foram projetados para nos fazer engordar. O gosto delicioso era obtido à custa de muito sódio e reservas consideráveis de lipídios, que acabaram redefinindo nosso paladar e dificultando a saciedade. Para fabricar esse tipo de comida, eram usadas quantidades inéditas de carne e milho, um pico de demanda que recriou a própria essência da agricultura norte-americana e cobrou um preço altíssimo em termos ambientais. Surgiu um sistema de agricultura industrial totalmente novo, com conglomerados sem a menor responsabilidade, que amontoavam galinhas em aviários cobertos de fezes e as entupiam de antibióticos. Quando começamos a entender as consequências dessa reformulação de nossos padrões de consumo, o estrago já tinha sido feito. As vítimas foram as medidas da nossa cintura, nossa longevidade, nossa alma e também o planeta.
Algo semelhante à revolução alimentar de meados do século XX está agora reorganizando a produção e o consumo de conhecimento. Nossos hábitos intelectuais estão sendo embaralhados pelas empresas hegemônicas. A Nabisco e a Kraft queriam mudar a forma como nós comíamos e o que comíamos; hoje, Amazon, Facebook e Google querem ditar nossa maneira de ler e também escolher o que iremos ler. As grandes empresas de tecnologia são, entre outras coisas, os maiores vigias de todos os tempos. O Google nos ajuda a organizar o que há na internet, hierarquizando as informações; o Facebook usa seus algoritmos e sua inteligência refinadíssima nos nossos círculos sociais para selecionar as notícias que encontramos; e a Amazon domina a publicação de livros, com sua influência esmagadora sobre esse mercado.
Com tamanha supremacia, essas empresas têm a capacidade de refazer os mercados que controlam. Assim como as gigantes do ramo alimentício, as grandes empresas de tecnologia deram origem a uma nova ciência que busca criar produtos para atender com precisão ao gosto de seus consumidores. Elas querem reformular toda a cadeia de produção cultural, com a meta de angariar mais lucros. Intelectuais, escritores autônomos, jornalistas investigativos e romancistas de vendagem mediana equivalem aos agricultores familiares, que nunca deixaram de lutar, mas não têm condições de competir nessa nova economia.
No império do conhecimento, o monopólio e a conformidade são perigos inseparáveis. Monopólio implica o risco de empresas poderosas usarem sua hegemonia para acabar com a diversidade competitiva. Conformidade implica o risco de uma dessas empresas usar sua hegemonia – intencionalmente ou não – para acabar com a diversidade de opinião e de gosto. Após a concentração vem a homogeneização. No caso da comida, essa lógica só foi compreendida tardiamente.
Nem sempre fui tão cético quanto sou hoje. No meu primeiro emprego, almoçava olhando para o Muro de Berlim, com sua extensão impressionante e todas aquelas falhas e marcas. No passado, o Muro tinha definido a fronteira impenetrável de um império; naquele momento posterior, servia de elemento decorativo para um novo centro de poder mundial. Essa parte do Muro pertencia a Bill Gates e ficava no café da Microsoft.
Minha carreira no jornalismo começou na empresa de software de Gates. A Microsoft tinha acabado de construir um novo campus – concentrado numa quadra, com um córrego passando pelo terreno – nos arredores de Seattle, para abrigar todos os veículos de mídia recém-lançados na época. A empresa havia criado uma revista feminina on-line chamada Underwire (que com esse nome não tinha como dar certo; em inglês, é como chamamos o aro do sutiã), uma revista automotiva e outros sites voltados para a vida urbana. Depois de me formar, segui para a Costa Oeste, para ocupar o cargo mais baixo dentro da equipe de um novo veículo de mídia chamado Slate, que viria a ser a revista de interesse geral mais intelectualizada da Microsoft.
Essas primeiras tentativas de fazer jornalismo na internet foram muito empolgantes. Nossos leitores nos liam por uma tela, o que sugeria a necessidade de adotar estilos diferentes de escrita. Mas de que tipo? Não estávamos mais sujeitos às restrições do correio nem das máquinas de impressão, então com que frequência publicaríamos? Todo dia? Toda hora? Era um momento incrível: todas as convenções desse novo tipo de escrita ainda estavam por ser estabelecidas.
Como aconteceu a muitos aspectos da internet, a Microsoft avaliou mal o que estava por vir. Tentou se reinventar como empresa de comunicação de ponta, mas seus esforços foram canhestros e caros. Cometeu o erro de efetivamente produzir conteúdo editorial. Os sucessores – Facebook, Google e Apple – não repetiram o equívoco. Superaram a Microsoft ao adotar uma abordagem revolucionária: deter a supremacia sobre a mídia sem ter que contratar escritores e editores, sem precisar possuir muita coisa.
Nas últimas décadas, a internet revolucionou os padrões de leitura. Em vez de começarem pela página principal da Slate ou do New York Times, uma parcela cada vez maior de leitores encontra as matérias jornalísticas por meio do Google, do Facebook, do Twitter e da Apple. Entre os americanos, 62% leem notícias a partir das mídias sociais, sendo a maioria via Facebook; um terço de todo o tráfego que chega nos sites de veículos midiáticos vem do Google. Isso deixou a mídia num estado de abjeta dependência financeira em relação às empresas de tecnologia. Para sobreviver, as empresas de comunicação se desvirtuaram de seus valores. Mesmo os jornalistas mais íntegros internalizaram uma nova mentalidade; estão preocupados em satisfazer a contento os algoritmos do Google e do Facebook. Na busca por cliques, alguns dos mais importantes provedores de notícias americanos abraçaram o sensacionalismo, publicando histórias duvidosas e canalizando atenção em torno de propagandistas e conspiradores, um dos quais foi eleito presidente dos Estados Unidos. Facebook e Google criaram um mundo no qual as antigas fronteiras entre fato e mentira caíram por terra, em que as informações falsas se propagam de forma viral.

Eu vivi uma versão poderosa dessa narrativa. Passei a maior parte da minha carreira na New Republic, uma pequena revista com sede em Washington, sempre com menos de cem mil assinantes, com foco em política e literatura. Cavamos nosso espaço em meio às convulsões da era da internet até 2012, quando a revista foi comprada por Chris Hughes. Chris não foi apenas o salvador da pátria; ele era o rosto do Zeitgeist. Em Harvard, tinha dividido o quarto com Mark Zuckerberg, que o ungira como um dos primeiros funcionários do Facebook. Chris deu a nossa revista antiga e ultrapassada uma roupagem mais moderna, um orçamento maior e informações privilegiadas sobre mídias sociais. A sensação era de que carregávamos as esperanças do jornalismo, que clamava por uma solução digna para todas as suas agruras. Chris me contratou para editar a New Republic – cargo que eu já havia ocupado antes –, e começamos a reestruturá-la, na tentativa de satisfazer nossas elevadíssimas expectativas.
No fim das contas, essas expectativas se provaram insustentáveis. Não conseguimos nos mover com tanta agilidade quanto Chris gostaria. Nosso tráfego cresceu muito, mas não exponencialmente. Na visão dele, nunca chegamos a dominar bem as mídias sociais. Minha relação com Chris se desgastou de forma desastrosa. Ele me demitiu depois de dois anos e meio, um rompimento amplamente interpretado como parábola da incapacidade do Vale do Silício de entender o mundo jornalístico, sobre o qual passou a exercer tanto poder. Não há dúvida de que essa experiência influenciou o argumento deste livro.
Espero que estas páginas não sejam interpretadas como material movido pela raiva, mas tampouco gostaria de negá-la. As empresas de tecnologia estão destruindo algo muito precioso, que é a possibilidade de contemplação. Elas criaram um mundo onde estamos o tempo inteiro distraídos e sendo vigiados. Por terem acumulado muitos dados, construíram um retrato da nossa mente, que usam para guiar de forma invisível o comportamento das massas (e cada vez mais o comportamento individual), com o intuito de promover seus interesses financeiros. Elas corroeram a integridade das instituições – de mídia e do mundo editorial – que fornecem matéria-prima intelectual capaz de estimular o pensamento e guiar a democracia. O ativo mais valioso dessas empresas é justamente o nosso ativo mais valioso – nossa atenção –, e elas passaram dos limites.
As empresas já alcançaram o feito de alterar a evolução humana. Todos já viramos um pouco ciborgues. O celular funciona como uma extensão da nossa memória; terceirizamos funções mentais básicas para diversos algoritmos; entregamos de bandeja nossos segredos, para serem armazenados em servidores e analisados por computadores. O que nunca podemos esquecer é que não estamos apenas nos fundindo a máquinas, mas às empresas que controlam as máquinas. Este livro é sobre as ideias que alimentam essas empresas – e a urgência de resistir a elas.