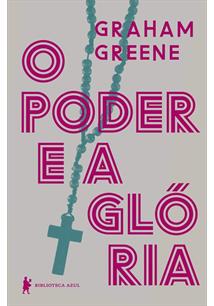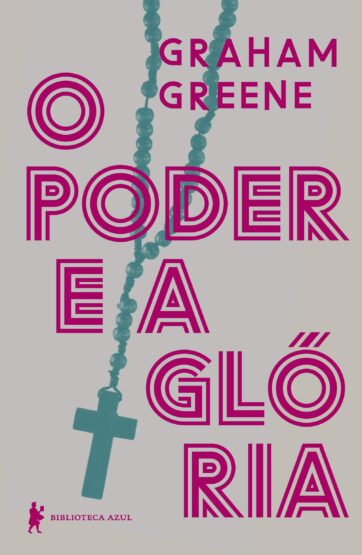
A obra-prima de Graham Greene com tradução de Mario Quintana. Graham Greene viajou ao México em 1938 para observar de perto a campanha antirreligiosa imposta pelo governo local e os efeitos desta prática sobre a população da província de Tabasco. Anos depois, viria a afirmar que sua conversão ao catolicismo se iniciara ali, ao testemunhar a fidelidade das pessoas à religião perseguida, e como isto o comoveu profundamente. O poder e a glória é o relato ficcional que surge dessa experiência — o livro foi publicado dois anos depois de sua viagem, e ganhou esta tradução para o português em 1953, pelas mãos de Mario Quintana. Uma narrativa sobre razão e fé, materialismo e espiritualismo; que provocou controvérsias com a Igreja Católica e é considerada a obra-prima de Greene.
Páginas: 296 páginas; Editora: Biblioteca Azul; Edição: 1 (9 de fevereiro de 2020); ISBN-10: 6580722045; ISBN-13: 978-6580722044; ASIN: B084BPBMQF
Leia trecho do livro

O inglês Graham Greene (1904-1991) teve uma formação ortodoxa em colégios no interior da Inglaterra, sempre se arriscando na vida literária — em poemas, artigos e contos. Aos 22 anos, mudou-se para Londres, onde trabalhou para os mais importantes jornais, como Times e The Spectator. A conversão ao catolicismo moldaria em grande parte sua obra, que, desde o início, trata de questões morais em meio a histórias policialescas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Greene trabalhou no serviço de inteligência inglês e, depois da guerra, viajou por vários países — introduzindo em seus romances um forte teor político. Recebeu inúmeros prêmios e hoje é considerado um dos autores mais importantes do romance moderno inglês. Dele, a Biblioteca Azul publica ainda Os farsantes, O americano tranquilo, Um lobo solitário, O condenado, Nosso homem em Havana e O cerne da questão.
Introdução
Para Gervase
Fecha-se o cerco; avança, cada vez mais forte,
o solerte poder da opressão e da morte.
DRYDEN
PRIMEIRA PARTE
CAPÍTULO 1
O PORTO
SR. TENCH SAIU PARA buscar o seu tubo de éter, sob o ardente sol mexicano e a poeira alvacenta. Do alto do telhado, alguns abutres olharam para ele com sórdida indiferença: ainda não era carniça. Um tímido sentimento de revolta agitou o coração do sr. Tench e, com as unhas, ele arrancou uma pedra do solo e atirou-a molemente contra os bichos. Um deles ergueu-se e voou por sobre a cidade: sobre a pequena praça, sobre o busto de um ex-presidente, ex-general, ex-criatura humana, sobre as duas tendas que vendiam água mineral, na direção do rio e do mar. Ali nada encontraria: era para aquelas bandas que os tubarões vinham procurar o que comer. Sr. Tench atravessou a praça.
Disse Buenos días a um homem de espingarda, sentado numa estreita nesga de sombra contra um muro. Mas ali não era como na Inglaterra: o homem não disse coisa alguma, limitando-se a olhar de má vontade para o sr. Tench, como se nunca houvesse lidado com aquele estrangeiro, como se o sr. Tench não fosse responsável pelos dois dentes de ouro que lhe havia colocado. Suando em bicas, o sr. Tench passou pela Tesouraria, que fora antes uma igreja, e encaminhou-se para o cais. Eis que no meio do caminho se esqueceu de súbito por que motivo havia saído. Seria para tomar um copo de água mineral? Era só o que havia para beber naquela província onde vigorava a lei seca, exceto cerveja, que era monopólio do Governo e muito cara, a não ser em certas ocasiões. Uma terrível sensação de náusea convulsionou o estômago do sr. Tench — não podia ser água mineral o que desejava. Ah! sim… o seu tubo de éter… o vapor já estava atracado. Tinha ouvido o seu alvissareiro apito enquanto descansava na cama, após o lanche. Passou pelas barbearias e pelos consultórios de dois dentistas e adentrou o cais entre um armazém e o edifício da Alfândega.
O rio corria pesadamente para o mar por entre as plantações de banana: o General Obregon achava-se ancorado e estavam descarregando cerveja — já se viam no cais umas cem caixas empilhadas. Sr. Tench parou à sombra da Alfândega e pensou: Que diabo vim fazer aqui? A memória fugia-lhe com o calor. Sentiu a bílis subir-lhe à boca e cuspiu desanimadamente. Depois sentou-se em cima de um caixote e ficou à espera. Não havia nada que fazer. Ninguém o procuraria antes das cinco.
O General Obregon tinha cerca de trinta metros de comprimento. Com alguns pés de amurada em mau estado, um barco salva-vidas, um sino pendente de uma corda podre, um lampião na proa, parecia capaz de aguentar mais dois ou três anos no Atlântico, caso não apanhasse uma nortada no golfo. Aí então seria o fim. Isso, na verdade, não importava: ficava-se automaticamente segurado ao comprar a passagem. Meia dúzia de passageiros se debruçavam na amurada, entre perus amarrados, e contemplavam o porto: os armazéns, a rua deserta e escaldante dos dentistas e barbeiros.
Sr. Tench ouviu atrás de si um ranger característico de coldre e voltou o rosto. Um funcionário da Alfândega estava a olhá-lo raivosamente. Disse qualquer coisa que o sr. Tench não pôde compreender.
“Como?”
“Os meus dentes”, disse o homem com voz engrolada.
“Ah!”, disse o sr. Tench, “sim, os seus dentes…” O homem não tinha nenhum: era por isso que não podia falar com clareza. Sr. Tench havia arrancado todos. Sentiu-se novamente acometido de enjoo. Alguma coisa não estava indo bem. Lombrigas, pensou, disenteria, talvez… “A dentadura está quase pronta”, disse ele. “Hoje de noite”, prometeu com raiva. Claro que era impossível; mas era assim que se vivia, adiando tudo. O homem deu-se por satisfeito: podia ser que se esquecesse, e, afinal de contas, que poderia fazer? Tinha pago adiantado. Essa era a vida do sr. Tench: o calor e o esquecimento, deixar para amanhã o que poderia fazer hoje e, se possível, receber adiantado. Mas para quê? Fitou as águas vagarosas: a barbatana de um tubarão movia-se como um periscópio na embocadura do rio. Várias embarcações, encalhadas com os anos, ajudavam agora a escorar a margem do rio, com as suas chaminés inclinadas como canhões, apontando para algum alvo distante além dos bananais e dos pântanos.
O tubo de éter, pensou o sr. Tench, quase ia me esquecendo. Sua boca pendeu aberta e ele começou a contar ociosamente as garrafas de Ceiveza Moctezuma. Cento e quarenta caixas. Doze vezes cento e quarenta. A saliva espessava em sua boca. Quatro vezes doze: quarenta e oito. “Hum! É bem bonita!”, disse em voz alta, na sua língua natal. Mil e duzentas, mil seiscentas e oitenta… Cuspiu, olhando com vago interesse para uma moça na proa do General Obregon, bela e esbelta — eram em geral tão gordas —, olhos castanhos, naturalmente, e o indefectível brilho do dente de ouro, mas algo de fresco e juvenil… Mil seiscentas e oitenta garrafas a um peso cada uma.
Alguém murmurou em inglês: “Que disse?”
Sr. Tench voltou-se rapidamente. “É inglês?”, perguntou, espantado, mas, à vista da cara larga e das faces cavas e sombreadas de uma barba de três dias, modificou a pergunta: “Fala inglês?”.
O homem disse que sim, que falava um pouco de inglês. Estava ali parado à sombra, muito teso, com um modesto traje escuro à moda da cidade e uma pequena mala de mão. Trazia um romance debaixo do braço: na capa destacavam-se trechos de uma cena de amor, vistosamente colorida. “Desculpe”, disse ele, “pensei que estivesse falando comigo.” Tinha olhos salientes; dava a impressão de uma intermitente hilaridade, como se tivesse acabado de comemorar um aniversário, sozinho.
Sr. Tench escarrou. “Que foi que eu disse?” Não podia lembrar-se.
“O senhor disse: ‘Hum! É bem bonita!’.”
“Que teria eu querido dizer com isso?” Olhou para o céu implacável! Um abutre pairava no ar como um vigia. “Ah! decerto era a moça. Não é sempre que se vê um bom pedaço por aqui. Quando muito uma ou duas por ano que valha a pena olhar.”
“É bem novinha.”
“Oh! não tenho intenções”, disse sr. Tench, enfadado. “Mas sempre se pode olhar. Faz quinze anos que vivo só.”
“Aqui?”
“Aqui por perto.”
Calaram-se; o tempo passou, a sombra da Alfândega alongou-se mais alguns centímetros na direção do rio: o abutre moveu-se um pouco, como um negro ponteiro de relógio.
“O senhor veio nesse vapor?”, indagou sr. Tench.
“Não.”
“Vai embarcar nele?”
O homenzinho não parecia disposto a responder, mas, afinal, como se julgasse necessário dar uma explicação, replicou: “Estava apenas olhando. Deve partir em breve, não?”.
“Para Vera Cruz”, disse sr. Tench. “Dentro de poucas horas.”
“Sem tocar em nenhum porto?”
“Onde poderia tocar?”, perguntou sr. Tench. “Como você veio para cá?”
“De canoa”, respondeu vagamente o desconhecido.
“Tem uma plantação?”
“Não.”
“É bom ouvir falar inglês”, disse sr. Tench. “O senhor aprendeu nos Estados Unidos, não foi?” O homem fez que sim com a cabeça. Não era muito conversador.
“Ah, o que eu não daria para estar lá agora”, suspirou o sr. Tench. E indagou ansiosamente em voz baixa: “Por acaso o senhor não terá nessa maleta qualquer coisa que se beba? Alguns dos que vêm de lá — conheci dois ou três — trazem sempre certa quantidade para fins terapêuticos.”
“Só trago remédios”, disse o homem.
“O senhor é médico?”
Os olhos inflamados fitavam astutamente, de soslaio, o sr. Tench. “Quem sabe se o senhor não queria dizer: curandeiro?”
“Especialidades farmacêuticas? A gente precisa viver”, disse sr. Tench.
“O senhor vai embarcar?”, indagou o outro.
“Não, eu vim aqui para… Bem, em todo caso, não importa.” Levou a mão ao estômago e disse: “O senhor não tem aí algum remédio para… Oh, diabo! Não sei para quê. É esta maldita terra. Disto o senhor não me pode curar. Nem o senhor, nem ninguém.”
“Quer voltar para a sua terra?”
“A minha terra?”, disse sr. Tench. “A minha terra é aqui. Viu a quanto está o peso na Cidade do México? Vinte e cinco centavos. Vinte e cinco. Santo Deus! Ora pro nobis.”
“O senhor é católico?”
“Não, não. É um modo de falar. Não acredito nessas coisas.” E acrescentou, inconsequentemente: “Em todo o caso, está fazendo muito calor”.
“Eu desejaria sentar nalguma parte.” “Vamos até minha casa. Tenho uma rede vaga. O vapor só sai daqui a algumas horas, se é que o senhor deseja assistir à partida.”
“Estava esperando encontrar alguém”, disse o desconhecido. “Um tal de Lopez.”
“Oh, deram-lhe um tiro há dias.”
“Foi morto?”
“O senhor sabe como são as coisas aqui… Ele era seu amigo?”
“Não, não”, apressou-se o homem em protestar. “Apenas amigo de um amigo meu.” “Pois foi isso mesmo”, disse sr. Tench. Sentiu de novo a buis subir-lhe à boca e cuspiu para o lado, à luz crua do sol. “Dizem que ele costumava auxiliar certos… indesejáveis… bem, a fugir. A pequena dele está agora com o chefe de polícia.”
“A pequena dele? Quer dizer a sua filha?”
“Ele não era casado. Estou falando da pequena com quem vivia.” Sr. Tench ficou por um momento surpreso com a expressão do desconhecido. “O senhor sabe como são as coisas…”, repetiu. Olhou para o General Obregon. “Ela é um pedaço. Naturalmente, daqui a uns dois anos estará como as outras. Gorda e estúpida. Meu Deus, não seria mau um traguinho. Ora pro nobis.”
“Tenho um pouco de aguardente”, disse o desconhecido.
Sr. Tench olhou para ele com vivacidade. “Onde?”
O desconhecido apontou para o quadril, como a indicar a origem da sua estranha hilaridade nervosa. Sr. Tench tomou seu pulso e disse: “Cuidado! Aqui não”. Olhou para o trilho de sombra no chão: um guarda achava-se reclinado sobre um caixote vazio, dormindo ao lado de seu fuzil.
“Venha até minha casa”, disse sr. Tench.
“Queria ver partir o vapor”, retrucou o homenzinho com relutância.
“Oh, ainda levará horas”, assegurou-lhe de novo sr. Tench.
“Horas? Tem certeza? Faz muito calor ao sol.”
“Seria melhor que o senhor desse uma chegada lá em casa.”
“Casa” era a expressão que significava quatro paredes para abrigar o sono. Nunca fora um lar. Atravessaram a praça escaldante, onde a umidade esverdinhava o falecido general e onde as tendas de gasosa se erguiam sob as palmeiras. Aquela casa, para o sr. Tench, era tal como um cartão-postal em cima de outros mais antigos: era só baralhar e surgia Nottingham, o lugar onde nascera nos arredores de Londres, depois Southend, onde vivera algum tempo. Seu pai também tinha sido dentista, e a mais remota das suas recordações era ter encontrado um molde no cesto de papéis, uma boca de gesso desdentada e escancarada, que mais parecia um achado arqueológico feito em Dorset — restos de um Neandertal ou de um Pithecantropus. Fora o seu brinquedo favorito: queriam tentá-lo com um Meccano, mas o destino havia vencido. Há sempre um momento na infância em que a porta se abre e deixa entrar o futuro. O porto, com o seu calor úmido, e os seus abutres jaziam no cesto de papéis, de onde o sr. Tench procurou tirá-los. Devíamos ficar agradecidos por não ver os horrores e degradações que cercaram a nossa infância, pelos armários, pelas estantes, por toda parte.
Não havia calçamento: durante as chuvas, a aldeia (pois não passava disso) atolava-se na lama. Mas agora sob os pés sentia-se um chão duro como pedra. Os dois homens passaram em silêncio pelas barbearias e os consultórios dos dentistas; em cima dos telhados, os abutres pareciam à vontade como aves domésticas; catavam piolhos debaixo das largas asas empoeiradas.
“Com licença”, disse sr. Tench, parando diante de uma casinha de madeira, de um só andar, com uma varanda onde balançava uma rede. A casa era um pouco maior do que as outras da viela que se estendia por uns duzentos metros até o pântano. “Não gostaria de dar uma olhada?”, disse ele, nervoso. “Não é para me gabar, mas eu sou o melhor dentista da terra. A instalação não é má.” O orgulho tremia-lhe a voz como uma plantinha frágil.
Fechando a porta atrás de si, conduziu-o através de uma sala de jantar, com duas cadeiras de balanço de cada lado da mesa vazia, alguns exemplares de velhos jornais americanos e um armário. “Vou tirar os copos, mas primeiro queria mostrar… o senhor é um homem educado…” O consultório dava para um pátio, onde alguns perus se moviam pomposamente. Havia ali uma broca de pedal, uma vistosa cadeira de dentista forrada de pelúcia vermelha, um armário de vidro onde se amontoavam instrumentos empoeirados. Viam-se mais um par de tenazes, uma lâmpada de álcool quebrada, jogada a um canto, e pensos de algodão em rama, espalhados pelas prateleiras. “Muito bonito”, comentou o desconhecido. “Não está mau, para este lugar. O senhor não imagina as dificuldades. Essa broca”, continuou ele amargamente, “é de fabricação japonesa. Tenho apenas há um mês e já está estragando. Mas não estou em condições de adquirir brocas americanas.”
“A janela é muito bonita”, disse o desconhecido.