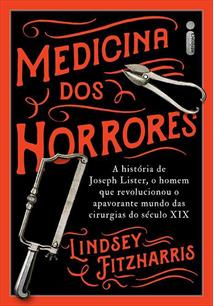Uma viagem assombrosa pela história da cirurgia. Em Medicina dos horrores, a historiadora Lindsey Fitzharris narra como era o chocante mundo da cirurgia do século XIX, que estava às vésperas de uma profunda transformação. A autora evoca os primeiros anfiteatros de operações — lugares abafados onde os procedimentos eram feitos diante de plateias lotadas — e cirurgiões pioneiros, cujo ofício era saudado não pela precisão, mas pela velocidade e pela força bruta, uma vez que não havia anestesia. Não à toa, os mais célebres cirurgiões da época eram capazes de amputar uma perna em menos de trinta segundos...
Editora: Intrínseca; Com pintura trilateral edição (5 julho 2019) Idioma: Português Capa dura: 320 páginas ISBN-10: 8551005227 ISBN-13: 978-8551005224 Dimensões: 23.6 x 16 x 2 cm
Melhor preço cotado ⬇️
Leia trecho do livro

Para minha avó, Dorothy Sissors, meu prêmio nesta vida
PRÓLOGO:
A ERA DA AGONIA
“Quando um cientista eminente mas idoso afirma que uma coisa é possível, é quase certo que tenha razão. Quando afirma que algo é impossível, é quase certo que esteja enganado.”¹
— ARTHUR C. CLARKE
NA TARDE DE 21 de dezembro de 1846, centenas de homens lotaram o anfiteatro cirúrgico do University College Hospital de Londres (UCL), onde o cirurgião mais famoso da cidade se preparava para fasciná-los com uma amputação na altura do meio da coxa. À medida que entravam, as pessoas não tinham a menor ideia de que estavam prestes a assistir a um dos momentos mais cruciais da história da medicina.
O anfiteatro estava abarrotado de estudantes de medicina e espectadores curiosos, muitos dos quais haviam arrastado consigo para o recinto a sujeira e a fuligem do dia a dia da Londres vitoriana. O cirurgião John Flint South comentou que a correria e os empurrões para conseguir um lugar num anfiteatro cirúrgico não diferiam dos observados na disputa por assentos na plateia ou na galeria dos teatros.² As pessoas se amontoavam como sardinha em lata, e as que ocupavam as últimas fileiras se acotovelavam constantemente para conseguir um ângulo melhor, gritando “Abaixem a cabeça!” toda vez que sua visão era bloqueada. Em algumas ocasiões, a plateia desses anfiteatros ficava tão cheia que o cirurgião era impossibilitado de operar, e o espaço precisava ser parcialmente esvaziado. Embora fosse inverno, a atmosfera no anfiteatro era abafada, beirando o insuportável. Com as pessoas amontoadas, o lugar ficava num calor infernal.
A plateia era formada por um grupo eclético de homens, alguns dos quais não eram profissionais nem estudantes de medicina. Tradicionalmente, as duas primeiras fileiras de um anfiteatro cirúrgico eram ocupadas por “assistentes hospitalares”, termo que se referia àqueles que acompanhavam os cirurgiões em suas rotinas, carregando caixas com os suprimentos necessários para fazer curativos. Atrás dos assistentes ficavam os alunos, empurrando-se e cochichando uns com os outros, inquietos, além de convidados de honra e outros membros do público.
O voyeurismo médico nada tinha de novo. Surgira nos anfiteatros de anatomia mal iluminados do Renascimento, onde, diante de espectadores fascinados, os corpos de criminosos executados eram submetidos à dissecação, como um castigo adicional por seus crimes. Os presentes, munidos de ingressos, observavam os anatomistas cortarem o ventre distendido de cadáveres em decomposição, de cujos órgãos jorravam não apenas sangue, mas também o pus fétido. Às vezes, as notas cadenciadas mas incongruentes de uma flauta acompanhavam a macabra demonstração. As dissecações públicas eram apresentações teatrais, uma forma de entretenimento tão popular quanto as rinhas de galo ou o açulamento de cães contra ursos aprisionados. Nem todos, porém, tinham estômago para elas. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, disse o seguinte sobre essa experiência: “Que visão terrível é um anfiteatro de anatomia! Cadáveres fétidos, a carne lívida e purulenta, sangue, intestinos repulsivos, esqueletos medonhos, vapores pestilentos! Acreditem, não é um lugar em que eu vá para procurar diversão.”
O anfiteatro cirúrgico do University College Hospital era mais ou menos igual aos outros da cidade. Consistia num palco parcialmente cercado por uma arquibancada semicircular, cujos degraus subiam em direção a uma grande claraboia que iluminava a área abaixo. Nos dias em que nuvens carregadas bloqueavam a luz solar, o palco era iluminado por velas grossas. No centro do aposento ficava uma mesa de madeira, manchada por sinais reveladores de carnificinas anteriores. Embaixo dela, o piso era coberto de serragem, para absorver o sangue que logo brotaria do membro amputado. Na maioria dos dias, os gritos dos que se debatiam sob a faca se misturavam numa sinfonia dissonante com os sons corriqueiros que vinham da rua: crianças rindo, gente conversando, charretes ribombando ao passar.
Na década de 1840, a cirurgia era um trabalho imundo, repleto de perigos ocultos, que deveria ser evitada a todo custo. Em função dos riscos, muitos cirurgiões se recusavam categoricamente a operar, optando, em vez disso, por restringir sua alçada ao tratamento de problemas externos, como doenças de pele e ferimentos superficiais. Os procedimentos invasivos eram muito raros, uma das razões por que tantos espectadores compareciam aos anfiteatros cirúrgicos em dias de procedimento. Em 1840, por exemplo, apenas 120 operações foram realizadas na Royal Infirmary de Glasgow. A cirurgia era sempre o último recurso, realizada apenas em casos de vida ou morte.
O médico Thomas Percival recomendava aos cirurgiões que trocassem de avental e limpassem a mesa e os instrumentos entre as cirurgias, não por medida de higiene, mas para evitar “tudo que possa incitar pavor”. Poucos, no entanto, seguiam o conselho. O cirurgião, usando um avental imundo de sangue, raras vezes lavava as mãos ou os instrumentos, e empestava o anfiteatro com o cheiro inconfundível de carne em putrefação, que os profissionais da área chamavam animadamente de “a boa e velha fedentina hospitalar”.
Numa época em que os cirurgiões achavam que o pus era parte natural do processo curativo, e não um sinal sinistro de sépsis, a maioria das mortes decorria de infecções pós-operatórias. Ou seja, os anfiteatros cirúrgicos eram portais para a morte. Era mais seguro fazer uma operação em casa do que num hospital, onde os índices de mortalidade eram de três a cinco vezes mais altos do que no ambiente doméstico. Ainda em 1863, Florence Nightingale declarou: “A mortalidade real nos hospitais, sobretudo naqueles em cidades grandes e populosas, é muito maior do que nos levaria a imaginar qualquer cálculo baseado na mortalidade dos mesmos tipos de doenças entre pacientes tratados fora do hospital.” 9 Ser tratado em casa, entretanto, era dispendioso.
As infecções e a imundície não eram os únicos problemas; a cirurgia era muito dolorosa. Durante séculos, as pessoas buscaram maneiras de diminuir o sofrimento nesses procedimentos. Embora o óxido nitroso tivesse sido reconhecido como um analgésico eficiente desde que o químico Joseph Priestley o havia sintetizado pela primeira vez, em 1772, o “gás hilariante” não era normalmente usado nas cirurgias, porque seus resultados não eram confiáveis. O mesmerismo — baseado no médico alemão Franz Anton Mesmer, que inventou essa técnica hipnótica na década de 1770 — também não fora aceito na prática da corrente dominante da medicina no século XVIII. Mesmer e seus seguidores achavam que, ao moverem as mãos diante dos pacientes, gerava-se um tipo de influência física sobre eles. Essa influência provocava mudanças fisiológicas positivas, que ajudavam os pacientes a sarar, e também podia imbuir as pessoas de poderes psíquicos. A maioria dos médicos não se convencia de sua eficácia.
O mesmerismo gozou de um breve ressurgimento na Grã-Bretanha dos anos 1830, quando o médico John Elliotson começou a realizar demonstrações públicas no University College Hospital nas quais duas de suas pacientes, Elizabeth e Jane O’Key, conseguiram prever o destino de outros pacientes do hospital. Sob a influência hipnótica de Elliotson, elas afirmaram ver o “Big Jacky” (a morte) pairando sobre os leitos dos que viriam a falecer. No entanto, qualquer interesse sério despertado pelos métodos de Elliotson teve curta duração. Em 1838, ao induzir as irmãs O’Key a confessarem sua fraude, o editor da revista The Lancet — o maior periódico médico do mundo — denunciou Elliotson como charlatão.
O gosto amargo desse escândalo ainda estava fresco na memória dos que compareceram ao University College Hospital na tarde de 21 de dezembro, quando o renomado cirurgião Robert Liston anunciou que testaria a eficácia do éter em seu paciente. “Senhores, hoje vamos experimentar um truque ianque para deixar os homens insensíveis!”, declarou, enquanto se dirigia ao centro do palco. O silêncio desceu sobre o anfiteatro quando ele começou a falar. Tal como o mesmerismo, o uso do éter era visto como uma técnica estrangeira suspeita, usada para colocar as pessoas num estado de consciência suavizado. Era chamado de “truque ianque” por ter sido usado como anestésico geral, pela primeira vez, nos Estados Unidos. Oficialmente, porém, fora descoberto em 1275, embora seus efeitos entorpecentes só tivessem sido sintetizados em 1540, quando o botânico e químico alemão Valerius Cordus criou uma fórmula revolucionária, que envolveu o acréscimo de ácido sulfúrico ao álcool etílico. Seu contemporâneo Paracelso fez experiências com éter em galinhas e notou que, quando bebiam esse líquido, as aves caíam num sono prolongado e despertavam ilesas. Ele concluiu que a substância “acalma todo o sofrimento, sem nenhum prejuízo, e alivia todas as dores, aplaca todas as febres e previne complicações em todas as enfermidades”. Mesmo assim, o éter só seria testado em humanos centenas de anos depois.
Esse momento veio em 1842, quando Crawford Williamson Long se tornou o pioneiro no uso de éter como anestésico geral ao retirar um tumor do pescoço de um paciente na cidade de Jefferson, estado da Geórgia. Infelizmente, Long só publicou os resultados de seus experimentos em 1848. Na ocasião, o dentista bostoniano William T.G. Morton já tinha ganhado fama, em setembro de 1846, ao usá-lo numa extração dentária num paciente. Uma descrição desse procedimento bem-sucedido e indolor tinha sido publicada num jornal, o que levara um cirurgião eminente a pedir que Morton o auxiliasse numa operação para retirada de um grande tumor no maxilar inferior de um paciente, no Massachusetts General Hospital.
Em 18 de novembro de 1846, o dr. Henry Jacob Bigelow escreveu sobre esse momento inovador no Boston Medical and Surgical Journal: “Faz muito tempo que um problema importante da ciência médica é conceber um método para atenuar a dor das cirurgias. Descobriu-se, finalmente, um agente eficaz para esse propósito.” Bigelow descreveu, então, como Morton havia administrado o que chamava de “Letheon” ao paciente antes de iniciar a cirurgia. Tratava-se de um gás cujo nome era inspirado no rio Lete. Segundo a mitologia clássica, as águas do Lete faziam as almas dos mortos esquecerem sua vida terrestre. Morton, que havia patenteado a composição do gás logo depois da operação, manteve em segredo seus componentes, ocultando-os inclusive dos cirurgiões. Bigelow, no entanto, revelou ter detectado no produto o cheiro enjoativo e doce do éter. A notícia sobre essa substância milagrosa, capaz de deixar os pacientes inconscientes durante a cirurgia, espalhou-se rapidamente pelo mundo, à medida que os cirurgiões se apressavam para testar os efeitos do éter em seus pacientes.
Em Londres, o médico norte-americano Francis Boott recebeu uma carta de Bigelow com um relato completo dos importantes acontecimentos de Boston. Intrigado, Boott convenceu o cirurgião-dentista James Robinson a administrar éter numa de suas muitas extrações dentárias. O experimento foi um sucesso tão grande que Boott voltou às pressas para o University College Hospital, a fim de falar com Robert Liston no mesmo dia.
Liston se mostrou cético, mas não o bastante para abrir mão da oportunidade de tentar algo novo no anfiteatro cirúrgico. No mínimo, isso daria um bom espetáculo, algo pelo qual ele era conhecido em todo o país. O cirurgião concordou em usar o produto em sua operação seguinte, marcada para dois dias depois.
* * *
Liston chegou ao cenário londrino numa época em que os “médicos-cavalheiros” detinham poder e influência consideráveis na classe médica. Faziam parte da elite dominante e formavam o topo da pirâmide da medicina. Nessas condições, agiam como guardiães da profissão, admitindo nela apenas homens que lhes pareciam ser de boa estirpe e elevado valor moral. Pessoalmente, tratava-se de tipos livrescos, com pouquíssima formação prática, que usavam a mente, e não as mãos, para tratar os pacientes. Sua instrução enraizava-se nos clássicos. Não era incomum, nesse período, os médicos receitarem tratamentos sem executar primeiro um exame clínico. Na verdade, alguns forneciam orientação médica apenas por meio de cartas, sem jamais verem os pacientes.
Em contraste, os cirurgiões vinham de uma longa tradição de treinamento como aprendizes, treinamento cujo valor dependia, e muito, das aptidões do mestre. Seu ofício era prático, ensinado pelos preceitos e pelo exemplo. Muitos cirurgiões das primeiras décadas do século XIX não cursavam a universidade. Alguns eram até analfabetos. Logo abaixo deles vinham os boticários, que se encarregavam de ministrar medicamentos. Em tese, havia uma demarcação clara entre o cirurgião e o boticário. Na prática, porém, o homem que tivesse sido aprendiz de um cirurgião também podia exercer o ofício de boticário, e vice-versa. Isso deu origem a uma quarta categoria não oficial, a do “cirurgião-boticário”, que se assemelhava ao clínico geral de hoje em dia. O cirurgião-boticário era um médico de atendimento primário para a população pobre, especialmente fora de Londres.
A partir de 1815, começou a surgir no mundo da medicina uma forma de educação sistemática, em parte impulsionada por uma demanda nacional mais ampla de uniformidade num sistema fragmentado. Para os estudantes de cirurgia em Londres, a reforma trouxe a exigência de que eles assistissem a aulas e fizessem a ronda das enfermarias hospitalares durante pelo menos seis meses para obterem uma licença do órgão dirigente da profissão: o Royal College of Surgeons. Começaram a aparecer hospitais-escola por toda a capital, o primeiro deles em Charing Cross, em 1821, seguido pelo University College Hospital e pelo Hospital do King’s College, em 1834 e 1839, respectivamente. Caso pretendesse dar um passo adiante e se tornar membro do Royal College of Surgeons, o estudante tinha que passar pelo menos seis anos em estudos profissionais, que incluíam três anos num hospital; submeter por escrito relatórios de pelo menos seis casos clínicos; e fazer uma prova extenuante de dois dias, que às vezes exigia dissecações e operações em cadáveres.
Assim, o cirurgião iniciou sua evolução de técnico mal preparado para moderno especialista cirúrgico nas primeiras décadas do século XIX. Como professor de um dos hospitais-escola recém-construídos em Londres, Robert Liston foi parte integrante dessa transformação contínua.
Com quase 1,90 metro, Liston era vinte centímetros mais alto que a média dos homens britânicos. Havia construído sua reputação com base na força bruta e na velocidade, numa época em que as duas habilidades eram cruciais para a sobrevivência dos pacientes. Quem ia assistir a uma operação podia perder o momento da ação se desviasse os olhos por um momento que fosse. Os colegas de Liston diziam que, quando ele fazia uma amputação, “o brilho do seu bisturi era seguido tão instantaneamente pelo som da serra nos ossos que as duas ações pareciam ser quase simultâneas”. Diziam que seu braço esquerdo era tão forte que ele podia usá-lo como torniquete enquanto brandia a faca com a mão direita. Era um feito que exigia força e destreza imensas, visto que era comum o paciente se debater com o medo e a agonia do ataque do cirurgião. Liston era capaz de amputar uma perna em menos de trinta segundos, e, para manter as duas mãos livres, era comum segurar a faca ensanguentada entre os dentes enquanto trabalhava.
Sua velocidade era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Certa vez, ele decepou acidentalmente o testículo de um paciente, junto com a perna que estava amputando. Seu contratempo mais famoso (e, possivelmente, apócrifo) ocorreu numa operação durante a qual ele trabalhou tão depressa que decepou três dedos de seu assistente e, ao trocar de lâminas, cortou o casaco de um espectador. O assistente e o paciente morreram de gangrena, pouco tempo depois, e o pobre espectador faleceu no local, em razão do susto. Dizem que foi a única cirurgia na história a ter uma taxa de mortalidade de 300%.
De fato, antes do alvorecer dos anestésicos, os perigos do choque e da dor limitavam os tratamentos cirúrgicos. Um texto do século XVIII que versava sobre cirurgia declarou: “Os métodos dolorosos são sempre os últimos remédios nas mãos do homem que tem verdadeira competência em sua profissão; e são o primeiro, ou melhor, o único recurso daquele cujo conhecimento se restringe à arte de operar.” Aqueles que estavam suficientemente desesperados para entrar na faca eram submetidos a uma agonia inimaginável.
Os traumas do anfiteatro cirúrgico também podiam cobrar seu preço aos alunos na plateia. O obstetra escocês James Y. Simpson fugiu de uma amputação de mama quando estudava na Universidade de Edimburgo. A visão dos tecidos moles sendo levantados por um instrumento parecido com um gancho e do cirurgião se preparando para fazer dois cortes extensos no seio foi demais para Simpson. Ele forçou a passagem pela multidão, foi embora do anfiteatro, atravessou correndo os portões do hospital e foi até a Praça do Parlamento, onde declarou, esbaforido, que queria cursar a faculdade de direito. Felizmente para a posteridade, Simpson — que viria a descobrir o clorofórmio — foi dissuadido de levar adiante a mudança de carreira.
Apesar de ter plena consciência do que esperava seus pacientes na mesa de operações, Liston frequentemente minimizava os horrores, para não aumentar o nervosismo deles. Poucos meses antes de seu experimento com o éter, ele amputou a perna de um menino de doze anos chamado Henry Pace, que sofria de um edema tubercular no joelho direito. O menino perguntou ao cirurgião se a operação ia doer, e Liston respondeu: “Não mais do que arrancar um dente.” Chegado o momento de ter a perna amputada, Pace foi levado ao anfiteatro com uma venda nos olhos e mantido firmemente deitado na mesa pelos assistentes de Liston. O garoto contou seis passagens da serra até sua perna cair. Sessenta anos depois, Pace narrou essa história a estudantes de medicina do University College de Londres — sem dúvida, com o horror daquela experiência reavivado na memória, ao se sentar no mesmo hospital em que havia perdido a perna.
Como muitos cirurgiões que operavam na era pré-anestesia, Liston havia aprendido a lidar com fi rmeza diante de gritos e protestos dos que eram amarrados à mesa de operações salpicada de sangue. Certa vez, seu paciente, que havia chegado para retirar um cálculo da bexiga, saiu correndo da sala, apavorado, e se trancou no banheiro logo antes do início do procedimento. Seguindo-o de perto, Liston derrubou a porta e o arrastou aos gritos para a sala de operação. Ali, amarrou bem o homem e introduziu um tubo de metal curvo em seu pênis, até chegar à bexiga. Em seguida, inseriu um dedo no reto do paciente, a fi m de apalpar a pedra. Quando o cirurgião a localizou, seu assistente retirou o tubo de metal e o substituiu por um bastão de madeira que funcionaria como guia, para que o cirurgião não causasse uma ruptura fatal no reto ou no intestino do paciente ao fazer um corte profundo na bexiga. Com o bastão no lugar, Liston fez uma incisão diagonal no músculo fi broso do escroto, até chegar ao objeto de madeira. Em seguida, usou a sonda para alargar a abertura e, nesse processo, abriu a glândula prostática. Nesse momento, o bastão foi retirado, e o fórceps foi usado para extrair o cálculo da bexiga.
Liston — considerado o bisturi mais rápido do West End — fez tudo isso em pouco menos de sessenta segundos.

EM 1846, DIANTE das pessoas reunidas no novo anfiteatro cirúrgico do University College de Londres, dias antes do Natal, o veterano cirurgião tinha nas mãos o vidro de éter líquido transparente que poderia eliminar a necessidade da rapidez na cirurgia. Se o produto estivesse à altura das afirmações norte-americanas, talvez a natureza da cirurgia mudasse para sempre. Ainda assim, Liston não pôde deixar de se perguntar se o éter seria apenas mais um produto da charlatanice, com pouca ou nenhuma aplicação útil na cirurgia.
Era grande a tensão. Apenas quinze minutos antes de Liston entrar no anfiteatro, seu colega William Squire havia se dirigido à plateia abarrotada de espectadores e pedido um voluntário que servisse de cobaia. Um murmúrio nervoso enchera o recinto. Na mão de Squire estava um aparelho parecido com um narguilé árabe, feito de vidro, um tubo de borracha e uma máscara em formato de sino. O aparelho fora criado pelo tio de Squire, Peter, que era farmacêutico em Londres, e usado pelo cirurgião-dentista James Robinson para extrair um dente apenas dois dias antes. Mas aquilo parecia estranho aos membros da plateia, e ninguém se atreveu a ser voluntário para testá-lo.
Exasperado, Squire ordenou que Shelldrake, o porteiro do anfiteatro, se submetesse ao teste. Não foi uma boa escolha, porque o homem era “gordo, pletórico e com um fígado que, sem dúvida, estava bem habituado a bebidas fortes”. 19 Com delicadeza, Squire pôs o aparelho sobre o rosto gorducho do homem. Depois de respirar fundo algumas vezes, inspirando o éter, dizem que o porteiro deu um salto da mesa e saiu correndo da sala, xingando em alto e bom som o cirurgião e a plateia.
Não haveria outros testes. O momento inevitável tinha chegado.
Às 14h25, Frederick Churchill, um mordomo de 36 anos da rua Harley, foi levado numa maca. O homem sofria de osteomielite crônica na tíbia, uma infecção bacteriana dos ossos que fizera seu joelho direito inchar e se entortar violentamente. Sua primeira cirurgia ocorrera três anos antes, quando a área inflamada tinha sido aberta e “vários corpos laminados de formato irregular”, que variavam do tamanho de uma ervilha ao de um grão de feijão, tinham sido retirados. Em 25 de novembro de 1846, Churchill voltara ao hospital. Dessa vez, Liston tinha feito uma incisão e introduzido uma sonda no joelho. Usando suas mãos não lavadas, apalpara o osso, para garantir que não estava solto. Ordenara, então, que lavassem a abertura com água quente, fizessem um curativo e deixassem o paciente descansar. Nos dias seguintes, porém, o estado de Churchill havia deteriorado. Ele não tardara a sentir uma dor aguda, que irradiava do quadril até os dedos dos pés. Isso voltou a ocorrer três semanas depois, o que levou Liston a decidir que a perna deveria ser amputada.
Churchill foi carregado para o anfiteatro cirúrgico numa maca e deitado em cima da mesa de madeira. Dois assistentes ficaram por perto, para o caso de o éter não surtir efeito e eles terem de recorrer à contenção do paciente apavorado, enquanto Liston amputava o membro. A um sinal do cirurgião, Squire se aproximou e segurou a máscara sobre a boca de Churchill. Em poucos minutos, o paciente ficou inconsciente. Squire, então, depositou um lenço embebido em éter sobre o rosto de Churchill, para garantir que ele não acordasse durante a cirurgia. Fez um aceno para Liston com a cabeça, dizendo: “Acho que ele está pronto, senhor.”
Liston abriu um estojo comprido e retirou dali uma faca reta de amputação que ele mesmo havia criado. Um espectador na plateia, nessa tarde, observou que o instrumento devia ser um dos favoritos do cirurgião, porque o cabo tinha pequenos entalhes que mostravam o número de vezes que já fora utilizado. Liston roçou a unha do polegar na lâmina para testar se estava afiada. Convencido de que ela funcionaria bem, instruiu seu assistente, William Cadge, a “cuidar da artéria”, e então se virou para a plateia. “Agora, senhores, marquem o tempo!”, gritou. Ouviu-se uma onda de cliques, à medida que relógios de bolso eram tirados dos coletes e abertos.
Liston se virou outra vez e, com a mão esquerda, prendeu a coxa do paciente. Num movimento rápido, fez uma incisão profunda acima do joelho direito. Um de seus assistentes atou imediatamente um torniquete na perna, para conter o fluxo de sangue, enquanto Liston empurrava os dedos por baixo da aba de pele e a puxava para trás. Ele fez outra série de manobras rápidas com a faca, expondo o fêmur. Fez, então, uma pausa.
Muitos cirurgiões, uma vez confrontados com o osso exposto, sentiam-se intimidados pela tarefa de serrá-lo. Anos antes naquele século, Charles Bell alertava os estudantes a serrarem devagar e com gestos firmes. Até aqueles que eram hábeis em fazer incisões podiam perder a coragem quando se tratava de amputar um membro. Em 1823, Thomas Alcock proclamou que a humanidade “estremece ao pensar que homens sem habilidade com qualquer outra ferramenta, a não ser com garfo e faca no cotidiano, têm a pretensão, com suas mãos profanas, de operar seus semelhantes sofredores”. Ele recordou uma história de dar calafrios sobre um cirurgião cuja serra entalou a tal ponto no osso que não se mexia mais. Um contemporâneo de Alcock, William Gibson, recomendava que os novatos praticassem com um pedaço de madeira, para evitar semelhantes pesadelos.
Liston passou a faca para um dos assistentes cirúrgicos, que, por sua vez, lhe entregou um serrote. Esse mesmo assistente repuxou os músculos, que depois seriam usados para formar um coto adequado para o amputado. O grande cirurgião serrou meia dúzia de vezes, até que a perna caiu nas mãos de um segundo assistente, que a jogou prontamente numa caixa cheia de serragem bem ao lado da mesa de operações.
Enquanto isso, o primeiro assistente soltou por um instante o torniquete, revelando quais artérias e veias cortadas precisariam ser atadas. Numa amputação no meio da coxa, é comum haver onze a serem presas por ligaduras. Liston amarrou a artéria principal com um nó quadrado e voltou a atenção para os vasos sanguíneos menores, os quais foi puxando um a um, usando um gancho afiado chamado de tenáculo. Seu assistente afrouxou mais uma vez o torniquete, enquanto Liston fazia as suturas restantes na carne.
Ao todo, Liston levou 28 segundos para amputar a perna direita de Churchill, durante os quais o paciente não se mexeu nem gritou. Quando acordou, alguns minutos depois, teria perguntado quando ia começar a cirurgia e recebido como resposta a visão do coto elevado, para grande diversão dos espectadores, pasmos com o que tinham acabado de testemunhar. Com o rosto iluminado pela empolgação do momento, Liston anunciou: “Senhores, esse truque ianque põe o mesmerismo no chinelo!”
A era da agonia estava chegando ao fim.

📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.