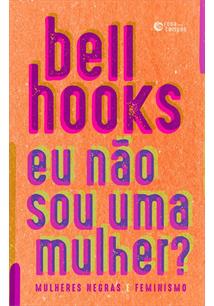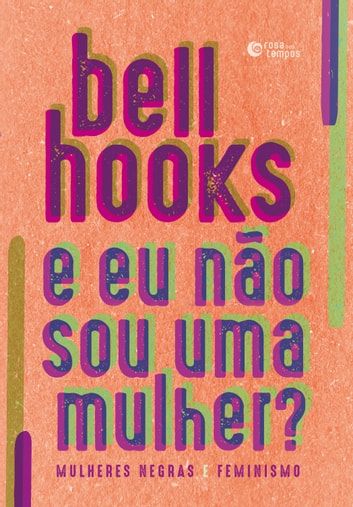
Uma obra fundamental sobre a mulher negra e os preconceitos socioculturais ainda presentes. Clássico da teoria feminista, Eu não sou uma mulher? tornou-se leitura obrigatória para as pessoas interessadas nas questões relacionadas à mulheridade negra e na construção de um mundo sem opressão sexista e racial. Sojourner Truth, mulher negra que havia sido escravizada e se tornou oradora depois de liberta em 1827, denunciou, em 1851, na Women's Convention – no discurso que ficou conhecido como "Ain't I a Woman" – que o ativismo de sufragistas e abolicionistas brancas e ricas excluía mulheres negras e pobres. A partir do discurso de Truth, que dá título ao livro, hooks discute o racismo e sexismo presentes no movimento...
Editora: Rosa dos Tempos; 4ª edição (18 novembro 2019) Páginas: 320 páginas ISBN-10: 8501117404 ISBN-13: 978-8501117403 ASIN: B08174PN63
Clique na imagem para ler o livro
Biografia do autor: Bell Hooks (Kentucky/EUA, 1952) é uma aclamada intelectual negra, teórica feminista, crítica cultural, artista e escritora. Escreveu mais de 30 livros, de gêneros diversos, como teoria crítica, memórias, poemas e literatura para crianças. Em seus trabalhos, trata de temas como gênero, raça, classe, espiritualidade, ensino e o significado da mídia na cultura contemporânea. Em 2014, fundou o bell hooks Institute. Pela Rosa dos Tempos, publicou O feminismo é para todo mundo.
Leia trecho do livro
Para Rosa Bell, minha mãe – que me contou, quando eu era criança, ter escrito poemas – que herdei dela meu amor pela leitura e meu anseio por escrever.
PREFÁCIO À EDIÇÃO DE 2015¹
Cresci sabendo que queria ser escritora. Desde os tempos de menina, livros têm me oferecido visões de novos mundos diferentes daquele com o qual eu tinha mais familiaridade. Como terras exóticas e estranhas, livros me proporcionaram aventura, novas formas de pensar e de ser. Sobretudo, apresentaram uma diferente perspectiva, que quase sempre me forçava a sair da zona de conforto. Eu ficava admirada por livros poderem oferecer pontos de vista diferentes, por palavras em uma página poderem me transformar e me mudar, alterar minha mente. Durante meus anos de graduação, o movimento feminista contemporâneo estava desafiando os papéis que eram definidos a partir de pensamentos sexistas, pedindo o fim do patriarcado. Naqueles dias arrebatadores, libertação da mulher foi o nome dado a essa incrível maneira nova de pensar os gêneros. Como eu jamais havia sentido que tinha um lugar na tradicional noção sexista do que uma mulher deveria ser e fazer, eu estava ansiosa para participar do movimento de libertação da mulher, desejando criar um espaço de liberdade para mim mesma, para as mulheres que eu amava, para todas as mulheres.
Meu envolvimento intenso com a criação de uma consciência feminista me levou a confrontar a realidade das diferenças de raça, classe e gênero. Assim como me rebelei contra as noções sexistas do lugar da mulher, desafiei as noções de lugar e identidade da mulher dentro dos círculos do movimento de libertação da mulher; não consegui encontrar meu lugar dentro do movimento. Minha experiência como jovem negra não era reconhecida. Minha voz, assim como a de mulheres como eu, não era ouvida. Sobretudo, o movimento mostrou como eu me conhecia pouco e também como conhecia pouco meu espaço na sociedade.
Enquanto não consegui fazer minha voz ser ouvida, não consegui pertencer verdadeiramente ao movimento. Antes de exigir que os outros me ouvissem, precisei ouvir a mim mesma, para descobrir minha identidade. Fazer cursos em Estudos de Mulheres me mostrou as expectativas da sociedade em relação às mulheres. Aprendi vários fatores sobre diferenças de gênero, sobre sexismo e patriarcalismo e como esses sistemas moldaram os papéis e a identidade feminina, mas aprendi pouco sobre o papel designado às mulheres negras em nossa cultura. Para me entender como negra, para compreender o lugar definido para as mulheres negras nesta sociedade, precisei explorar mais do que a sala de aula, mais do que os tratados e os livros que minhas companheiras e colegas brancas estavam criando para explicar o movimento de libertação da mulher, para oferecer formas radicais, novas e alternativas de pensar sobre gênero e o lugar da mulher.
A fim de criar um espaço para mulheres negras nesse movimento revolucionário por justiça de gênero, tive que aprofundar meus conhecimentos sobre nosso lugar na sociedade. Ainda que eu estivesse aprendendo muito sobre sexismo e sobre as formas que o pensamento sexista deu à identidade feminina, não me ensinavam sobre as formas que a raça deu à identidade feminina. Nas aulas e nos grupos de conscientização, quando eu chamava atenção para as diferenças que raça e racismo criaram na nossa vida, com frequência eu era tratada com desprezo por companheiras brancas que queriam se conectar por meio de noções compartilhadas de sororidade. E lá eu estava, esta jovem negra audaciosa, vinda da zona rural do Kentucky, insistindo em dizer que havia diferenças grandes determinando as experiências das negras e das brancas. Meu esforço para compreender essas diferenças, para explicar e comunicar o significado delas, fundamentou a escrita de E eu não sou uma mulher? Mulheres negras e feminismo.
Comecei a pesquisar e a escrever durante meus anos de graduação. Acho incrível que mais de quarenta anos tenham se passado desde que comecei o trabalho. Inicialmente, minha procura por um editor resultou em rejeição. Naquele tempo, ninguém imaginava que haveria público para um trabalho sobre mulheres negras. Em geral, era mais provável que as pessoas negras daquela época censurassem o movimento de libertação da mulher, entendendo que era coisa de mulher branca. Como consequência, era frequente que mulheres negras engajadas individualmente no movimento fossem isoladas e hostilizadas por outras pessoas negras. Em geral, éramos a única pessoa negra em círculos predominantemente brancos. E entendia-se que qualquer conversa sobre raça desviava a atenção que deveria ser dada à política de gênero. Já era de se esperar então que mulheres negras tivessem que criar um corpus de trabalho separado e distinto que reunisse nossa compreensão sobre raça, classe e gênero.
Associando as políticas feministas radicais com meu impulso de escrever, logo decidi que queria criar livros para serem lidos e compreendidos, atravessando as fronteiras das diferentes classes. Naquele tempo, pensadores feministas brigavam com a pergunta do público: quem queríamos alcançar com nosso trabalho? Alcançar um público maior exigia escrever um texto que fosse descomplicado e conciso, que pudesse ser lido por leitores que jamais frequentaram a universidade ou talvez que nem tenham terminado o ensino médio. Pensando em minha mãe como público ideal – a leitora que eu mais queria converter ao pensamento feminista –, cultivei um estilo de escrita que pudesse ser compreendido por leitores de diferentes classes de origem.
Terminar a escrita de E eu não sou uma mulher? e, anos mais tarde, ver o trabalho publicado, quando eu estava com quase 30 anos, marcou o ápice da minha própria luta pela total autorrealização, por ser uma mulher livre e independente. Quando entrei na minha primeira aula de Estudos de Mulheres, com a professora e escritora branca Tillie Olsen, e escutei sua palestra sobre o mundo das mulheres que lutam para trabalhar e ser mãe, mulheres que com frequência eram reféns da dominação masculina, chorei como ela chorou. Lemos seu trabalho seminal “I Stand Here Ironing”, e eu comecei a ver minha mãe e mulheres como ela, todas educadas nos anos 1950, sob um olhar diferente. Mamãe se casou jovem, quando ainda era adolescente, teve bebês nova e, apesar de nunca dizer que era ativista do movimento de libertação da mulher, vivenciou a dor da dominação sexista, e isso fez com que ela incentivasse todas as filhas, nós seis, a nos autoeducarmos, para que fôssemos capazes de cuidar das próprias necessidades materiais e econômicas e jamais sermos dependentes de qualquer homem. Era óbvio que deveríamos encontrar um homem e casar, mas não antes de aprender a tomar conta de nós mesmas. Mamãe, ela mesma refém das amarras do patriarcado, incentivou-nos a nos libertar. Faz sentido, então, que uma imagem de Rosa Bell, minha mãe, agora enfeite a capa desta nova edição.
Mais do que para qualquer outro livro que escrevi, meu relacionamento com minha mãe foi substrato da escrita de E eu não sou uma mulher? e me inspirou. Escrito quando o movimento feminista contemporâneo ainda era jovem, quando eu era jovem, este trabalho, um dos primeiros, tem várias falhas e imperfeições, no entanto, ainda age como poderoso catalisador para leitores que estão ávidos por explorar as raízes da relação mulheres negras e feminismo. Mesmo depois que minha mãe morreu, não passo um dia sem pensar nela e em todas as mulheres negras como ela, que, sem movimento político as apoiando, sem teorias sobre como ser feminista, forneceram um modelo prático de libertação, oferecendo às gerações seguintes o dom da escolha, liberdade e integridade da mente, do corpo e do ser.
AGRADECIMENTOS
Há oito anos, quando comecei a pesquisar para escrever este livro, debates sobre “mulheres negras e feminismo” ou “racismo e feminismo” eram incomuns. Amigos e desconhecidos não hesitavam em questionar e ridicularizar minha preocupação com todas as mulheres negras dos Estados Unidos. Lembro-me de um jantar durante o qual eu conversava sobre o livro, e uma pessoa, com voz forte e engasgando em risadas, exclamou: “Como se houvesse o que dizer sobre mulheres negras!” Outras pessoas riram junto. Eu tinha escrito no rascunho que a existência da mulher negra era, com frequência, esquecida, e que, com frequência, éramos ignoradas ou rejeitadas. Minhas experiências de vida, como compartilhei neste livro, mostraram a verdade nessa afirmação.
Na maioria das etapas de meu trabalho, tive ajuda e apoio de Nate, amigo e companheiro. Foi ele quem me disse, na primeira vez que voltei para casa, depois de ir a bibliotecas, sentindo raiva e frustração, que havia tão poucos livros sobre mulheres negras que eu deveria escrever um. Ele também pesquisou informação de apoio e me ajudou de várias maneiras. Uma tremenda fonte de incentivo e apoio para meu trabalho veio de colegas negras telefonistas da Universidade de Berkeley, em 1973 e 1974. Quando saí de lá para fazer pós-graduação em Wisconsin, perdi contato com aquelas mulheres. Mas a energia delas, o entendimento de que havia muita coisa a ser dita sobre mulheres negras e a crença delas de que “eu” poderia dizer essas coisas me sustentaram. Durante o processo de publicação, Ellen Herman, da South End Press, ajudou muito. Nosso relacionamento tem sido político; trabalhamos para preencher o espaço entre público e privado, fazendo do contato entre autora e editora uma experiência afirmativa, em vez de desumanizadora.
Este livro é dedicado a Rosa Bell Watkins, que me ensinou e a todas as suas filhas, que Sororidade empodera as mulheres, ao nos respeitar, proteger, incentivar e amar.
INTRODUÇÃO
Em um determinado momento da história dos Estados Unidos, quando mulheres negras em todas as regiões do país poderiam ter se juntado para exigir equidade social para as mulheres e reconhecimento do impacto do sexismo em nosso status social, estávamos, em geral, em silêncio. Nosso silêncio não era mera reação contra as brancas liberacionistas nem gesto de solidariedade aos patriarcas negros. Era o silêncio do oprimido: aquele profundo silêncio engendrado de resignação e aceitação perante seu destino. Não era possível para mulheres negras contemporâneas se juntarem para lutar pelos direitos das mulheres, porque não víamos “mulheridade” como aspecto importante da nossa identidade. A socialização racista e sexista nos condicionou a desvalorizar nossa condição de mulher e a considerar raça como o único rótulo relevante de identificação. Em outras palavras, pediam-nos que negássemos parte de nós mesmas – e nós fizemos isso. Consequentemente, quando o movimento de mulheres levantou a questão da opressão sexista, argumentamos que sexismo era insignificante à luz da realidade mais dura, mais brutal do racismo. Tínhamos medo de reconhecer que sexismo podia ser tão opressivo quanto racismo. Apegamo-nos à esperança de que a libertação da opressão racial era o bastante para sermos livres. Éramos uma nova geração de mulheres negras que tinham sido ensinadas a se submeter, a aceitar a inferioridade sexual e a permanecer em silêncio.
Diferentemente de nós, mulheres negras no século XIX tinham consciência do fato de que a verdadeira liberdade não estava vinculada somente à libertação de uma organização social sexista que sistematicamente negava a todas as mulheres os direitos humanos em sua totalidade. Essas mulheres negras participaram tanto da luta por equidade racial quanto do movimento pelos direitos da mulher. Quando foi questionado se a participação de mulheres negras no movimento pelos direitos da mulher seria prejudicial à luta por equidade racial, elas argumentaram que qualquer melhora no status social de mulheres negras beneficiaria todas as pessoas negras. Quando discursou no World’s Congress of Representative Women [Congresso Mundial de Mulheres Representantes], em 1893, Anna Cooper falou sobre o status da mulher negra:
O melhor da civilização não pode ser improvisado nem normalmente desenvolvido em um breve intervalo de trinta anos. Requer o demorado e doloroso crescimento das gerações. Ainda assim, por todo o período mais sombrio de opressão contra as mulheres de cor2 neste país a história delas, ainda não escrita, é cheia de luta heroica, uma luta contra probabilidades temerosas e devastadoras, que frequentemente terminaram em uma morte horrível, para manter e proteger aquilo que a mulher considera mais precioso do que a vida. A dolorosa, paciente e silenciosa labuta das mães para receber seus honorários, o simples direito ao corpo de suas filhas, a desesperada luta, como a de uma tigresa aprisionada, para se manterem honradas, poderia ser material para epopeias. O fato de que mais coisa foi por água abaixo do que deu origem a uma corrente não surpreende. A maioria de nossas mulheres não é heroína – mas não sei se a maioria das mulheres de qualquer raça é heroína. Para mim é suficiente saber que enquanto aos olhos dos mais altos tribunais nos Estados Unidos ela era considerada nada mais do que um bem material, uma coisa irresponsável, um bloco amorfo, a ser chamada aqui ou acolá à volição de um dono, a mulher afro-americana manteve ideais de mulheridade não intimidados por qualquer outro jamais concebido. Descansando ou fermentando em mentes não educadas, tais ideais não puderam pedir por uma audiência nos tribunais da nação. A mulher branca pôde ao menos litigar por sua própria emancipação; as mulheres negras, duplamente escravizadas, não puderam mais do que sofrer e lutar e permanecer em silêncio.
Pela primeira vez na história estadunidense, mulheres negras como Mary Church Terrell, Sojourner Truth, Anna Cooper, Amanda Berry Smith e outras romperam os longos anos de silêncio e começaram a dar voz a suas experiências e a registrá las. Enfatizaram especificamente o aspecto “feminino” de seu ser, que fez com que seu destino fosse diferente do de homens negros, um fato que se evidenciou quando homens brancos aceitaram dar aos homens negros o direito de voto enquanto deixavam todas as mulheres sem direitos. Horace Greeley e Wendell Phillips chamaram isso de “a hora dos negros”, mas na verdade o sufrágio negro referia-se ao sufrágio do homem negro. Ao apoiar o sufrágio de homens negros e ao condenar as defensoras brancas dos direitos das mulheres, homens brancos revelaram a profundidade de seu sexismo – um sexismo que era, naquele breve momento da história dos Estados Unidos, maior do que o racismo deles. Antes do apoio dos homens brancos ao sufrágio de homens negros, mulheres brancas ativistas já acreditavam que ampliaria sua causa aliarem-se a ativistas políticos negros, mas quando parecia que homens negros poderiam ganhar o direito de votar enquanto elas permaneceriam sem direitos, a solidariedade política com pessoas negras foi esquecida e incitaram os homens brancos a permitir que a solidariedade racial ofuscasse seus planos de apoio ao sufrágio de homens negros.
Quando o racismo das defensoras brancas dos direitos das mulheres emergiu, a conexão frágil entre elas e as ativistas negras se rompeu. Mesmo que Elizabeth Stanton, em seu artigo “Women and Black Men” [Mulheres e homens negros], publicado na edição de 1869 do jornal The Revolution,3 tenha tentado mostrar que o grito republicano pelo “sufrágio dos homens” estava focado em criar antagonismo entre homens negros e todas as mulheres, o rompimento entre os dois grupos não pôde ser remediado. Ainda que vários homens negros ativistas políticos fossem solidários à causa das defensoras dos direitos das mulheres, eles não estavam dispostos a perder a própria oportunidade de ganhar o direito de voto. As mulheres negras foram colocadas entre a cruz e a espada; apoiar o sufrágio das mulheres significaria que elas estavam se aliando às mulheres brancas ativistas que revelaram publicamente seu racismo, mas apoiar apenas o sufrágio dos homens negros era endossar uma ordem social patriarcal que não daria a elas qualquer voz política. As mulheres negras ativistas mais radicais exigiram que aos homens negros e a todas as mulheres fosse dado o direito de voto. Sojourner Truth foi a mulher negra mais direta ao falar sobre a questão. Ela argumentou em público a favor de que mulheres ganhassem o direito de votar, e enfatizou que, sem esse direito, mulheres negras teriam que se submeter ao desejo dos homens negros. Sua famosa declaração, “existe uma grande agitação em relação aos homens negros receberem seus direitos, mas não há uma palavra sobre as mulheres negras; e se homens negros ganharem seus direitos e mulheres negras não, você verá os homens negros serem donos das mulheres, e isso será tão ruim quanto era antes”, lembrou o público estadunidense de que tanto a opressão sexista quanto a opressão racial eram uma ameaça real à liberdade da mulher negra. No entanto, apesar dos protestos das ativistas brancas e das negras, o sexismo venceu e homens negros receberam o direito ao voto.
Apesar de mulheres e homens negros terem lutado igualmente pela libertação durante a escravidão e em grande parte do período de Reconstrução dos Estados Unidos, líderes políticos negros reafirmaram valores patriarcais. Enquanto os homens negros avançavam em todas as esferas da vida americana, eles incentivaram as mulheres negras a assumirem um papel mais subserviente. Aos poucos, o espírito radical revolucionário que caracterizou a contribuição intelectual e política das mulheres negras no século XIX foi subjugado. Uma mudança definitiva no papel desempenhado pela mulher negra nas relações políticas e sociais de pessoas negras ocorreu no século XX. Essa mudança foi indício de um declínio geral nos esforços de todas as mulheres estadunidenses para efetivar uma reforma social radical. Quando o movimento pelos direitos das mulheres acabou, na década de 1920, a voz das mulheres negras liberacionistas foi silenciada. A guerra havia roubado do movimento o fervor do início. Ainda que as mulheres negras tivessem participado da luta por sobrevivência, como os homens negros, entrando para a força de trabalho sempre que possível, elas não defenderam o fim do sexismo. As mulheres negras do século XX aprenderam a aceitar o sexismo como algo natural, uma realidade, um fato da vida. Se pesquisas tivessem sido feitas com mulheres negras durante as décadas de 1930 e 1940, e se tivessem pedido que indicassem a força mais opressiva na vida, o racismo, não o sexismo, estaria no topo da lista.
Quando o movimento pelos direitos civis começou, nos anos 1950, mulheres e homens negros novamente se juntaram para lutar por equidade racial. Ainda assim, ativistas negras não receberam o reconhecimento público dispensado aos líderes negros. O padrão de comportamento sexista era a norma em comunidades negras tanto quanto em qualquer outra comunidade estadunidense. Era um fato aceito entre pessoas negras que os líderes mais reverenciados e respeitados fossem homens. Ativistas negros definiram liberdade como ganhar o direito de participar da cultura estadunidense, sendo cidadãos completos; eles não estavam rejeitando o sistema de valores daquela cultura. Consequentemente, não questionaram a integridade do patriarcado. O movimento pela libertação negra nos anos 1960 marcou o primeiro momento em que pessoas negras se envolveram em uma luta de resistência contra o racismo, durante o qual limites foram bem estabelecidos para separar os papéis de mulheres e de homens. Ativistas negros reconheceram publicamente que esperavam que mulheres negras se envolvessem no movimento para cumprir um papel sexista padrão. Eles exigiram que mulheres negras assumissem uma posição de subserviência. Disseram a elas que deveriam cuidar das necessidades do lar e gerar guerreiros para a revolução. O artigo de Toni Cade, “On the Issue of Roles” [Sobre a questão dos papéis], discute as atitudes sexistas que prevaleceram em organizações negras durante a década de 1960:
Parece que qualquer instituição que você pensar precisou, em um momento ou outro, lidar com grupos de mulheres amotinadas, bravas por terem que atender ao telefone ou fazer café, enquanto os homens escreviam relatórios e tomavam as decisões sobre a política da instituição. Alguns grupos foram condescendentes e alocaram mulheres para duas ou três vagas na área executiva. Outros incentivaram as irmãs a se reunirem para encontrar uma solução que não dividisse a organização. Outros ainda foram desagradáveis ao forçar mulheres a sair e organizar um espaço de trabalho separado. Ao longo dos anos, as coisas parecem ter esfriado. Mas ainda estou para ouvir uma análise serena sobre a opinião de qualquer grupo específico acerca dessa questão. Invariavelmente, escuto de algum cara que mulheres negras devem apoiar e ser pacientes, para que homens negros possam reconquistar a virilidade. Argumentam que a noção de mulheridade – e só pensam ou argumentam sobre isso se forem pressionados a abordar eles mesmos essa noção – depende de eles definirem a virilidade deles. E assim a merda segue.
Enquanto algumas mulheres negras ativistas resistiram às tentativas dos homens negros de as coagirem a atuar em papel secundário no movimento, outras se renderam, por submissão, às exigências dos homens. O que se iniciou como ativismo para libertar todas as pessoas negras da opressão racista se tornou um movimento cujo objetivo principal era estabelecer o patriarcado negro. Não é surpreendente que um movimento tão preocupado em promover os interesses de homens negros falhasse em chamar a atenção para o duplo impacto da opressão sexista e racista no status social das mulheres negras. Pediram a elas que se posicionassem no fundo, permitindo que os holofotes brilhassem somente nos homens negros. O fato de que a mulher negra era vítima de opressão sexista e racista era considerado insignificante, porque o sofrimento da mulher, por maior que fosse, não poderia preceder à dor dos homens.
Ironicamente, enquanto o movimento recente de mulheres chamava atenção para o fato de que mulheres negras eram duplamente vitimadas pela opressão racista e sexista, feministas brancas tinham tendência a romantizar a experiência da mulher negra, em vez de discutir o impacto negativo da opressão. Quando feministas reconhecem coletivamente que mulheres negras são vitimadas e, ao mesmo tempo, enfatizam a força delas, deixam implícito que, apesar de mulheres negras serem oprimidas, elas conseguem contornar o impacto prejudicial da opressão ao serem fortes – e isso simplesmente não é o caso. Em geral, quando pessoas falam sobre a “força” de mulheres negras, referem-se à maneira como percebem que mulheres negras lidam com a opressão. Ignoram a realidade de que ser forte diante da opressão não é o mesmo que superá-la, que resistência não deve ser confundida com transformação. Com frequência, estudiosos da experiência das mulheres negras confundem essas questões. A tendência que começou no movimento feminista, a de romantizar a vida da mulher negra, refletiu-se na cultura como um todo. O estereótipo da mulher “forte” já não era mais visto como desumanizador, tornou-se a nova marca da glória da mulher negra. Quando o movimento de mulheres estava no ápice e mulheres brancas rejeitavam o papel de reprodutora, de responsável por carregar os fardos e de objeto sexual, mulheres negras eram parabenizadas por sua especial dedicação à tarefa de ser mãe, por sua habilidade “nata” de carregar fardos pesadíssimos e por sua disponibilidade cada vez maior como objeto sexual. Parecia que tínhamos sido eleitas por unanimidade para assumir o posto que as mulheres brancas estavam abandonando. Elas ganharam a revista Ms.; nós ganhamos a Essence.4 Elas ganharam livros que debatiam o impacto negativo do sexismo na própria vida, nós ganhamos livros que argumentavam que mulheres negras nada tinham a ganhar com a libertação das mulheres. Foi dito às mulheres negras que encontraríamos nossa dignidade não na libertação da opressão sexista, mas na nossa capacidade de harmonizar, adaptar e lidar com coisas difíceis. Pediram-nos para nos levantarmos e nos parabenizaram por sermos “boas garotas”, em seguida nos disseram para sentar e calar a boca. Ninguém se preocupou em discutir como o sexismo atua tanto independentemente do racismo quanto simultaneamente a ele para nos oprimir.
Nenhum outro grupo nos Estados Unidos teve sua identidade socializada tão à parte da existência quanto o das mulheres negras. É raro sermos reconhecidas como um grupo independente e distinto dos homens negros, ou como parte integrante do grupo maior “mulheres”, nesta cultura. Quando falam sobre pessoas negras, o sexismo milita contra o reconhecimento dos interesses das mulheres negras; quando falam sobre mulheres, o racismo milita contra o reconhecimento dos interesses de mulheres negras. Quando falam de pessoas negras, o foco tende a ser homens negros; e quando falam sobre mulheres, o foco tende a ser mulheres brancas. Em nenhum espaço isso é mais evidente do que no vasto corpus de literatura feminista. Um exemplo disso é o trecho a seguir, que descreve reações de mulheres brancas ao apoio de homens brancos ao sufrágio dos homens negros, no século XIX, retirado do livro Everyone Was Brave [Todo mundo era corajoso], de William O’Neil: “A descrença estupefata delas, de que os homens as humilhariam se elas apoiassem o direito ao voto dos negros mas não ao das mulheres, demonstrou o limite da empatia delas por homens negros, mesmo que isso separasse ainda mais esses anteriormente aliados.”
Esse trecho não registra bem a diferenciação sexual e racial que, conjuntamente, resulta na exclusão de mulheres negras. Na afirmação “a descrença estupefata delas, de que os homens as humilhariam se elas apoiassem o direito ao voto dos negros, mas não ao das mulheres”, a palavra “homens”, na verdade, refere-se somente a homens brancos, a palavra “negro” se refere somente a homens negros, e a palavra “mulheres” se refere somente a mulheres brancas. A especificidade racial e sexual à qual se refere o trecho foi convenientemente não reconhecida ou até mesmo deliberadamente suprimida. Outro exemplo vem de um trabalho mais recente, da historiadora Barbara Berg, The Remembered Gate: Origins of American Feminism [O portão do passado: As origens do feminismo estadunidense]. Berg comenta: “Em sua luta pelo direito de votar, as mulheres tanto ignoraram quanto comprometeram os princípios do feminismo. As complexidades da sociedade estadunidense na virada do século induziram as sufragistas a trocar a base da demanda para o direito de votar.”
As mulheres a quem Berg se refere são brancas, ainda que ela jamais afirme isso. Através da história estadunidense, o imperialismo racial branco tem apoiado o costume de acadêmicos de usar a palavra “mulheres”, mesmo quando se referem somente à experiência de mulheres brancas. Ainda que tal costume, seja ele consciente ou inconsciente, perpetue o racismo por negar a existência de mulheres não brancas nos Estados Unidos. Ele também perpetua sexismo à medida que pressupõe ser a sexualidade o único traço de definição da mulher branca e nega a identidade racial delas. Mulheres brancas liberacionistas não desafiaram essa prática sexista e racista; elas a continuaram.
O exemplo mais evidente do apoio delas à exclusão de mulheres negras foi revelado quando criaram analogias entre “mulheres” e “negros”, quando o que realmente comparavam era o status social de mulheres brancas com o de pessoas negras. Como várias pessoas em nossa sociedade racista, as feministas brancas conseguiam se sentir bastante confortáveis escrevendo livros ou artigos sobre a “questão da mulher” nos quais criavam analogias entre “mulheres” e “negros”. Uma vez que o poder, o apelo e a própria razão de ser das analogias derivem da ideia de dois fenômenos díspares serem aproximados, se mulheres brancas reconhecessem a sobreposição das palavras “negros” e “mulheres” (ou seja, a existência de mulheres negras), essa analogia seria desnecessária. Ao continuamente fazer essa analogia, elas involuntariamente sugerem que para elas a palavra “mulher” é sinônimo de “mulheres brancas” e a palavra “negros” é sinônimo de “homens negros”. O que isso indica é que há na linguagem do próprio movimento, que supostamente é preocupado em eliminar a opressão sexista, um comportamento sexista e racista em relação às mulheres negras. Comportamentos sexistas e racistas não estão presentes somente na consciência de homens na sociedade estadunidense; surgem em todas as nossas formas de pensar e ser. Com muita frequência, no movimento de mulheres pressupôs-se que uma pessoa poderia se livrar do pensamento sexista ao simplesmente adotar a retórica feminista apropriada; além disso, pressupôs-se que, ao se assumir oprimida, uma pessoa se livra de ser opressora. A tal ponto que esse pensamento impediu que feministas brancas compreendessem e superassem seus próprios comportamentos sexistas e racistas direcionados às mulheres negras. Elas poderiam falar, da boca para fora, sobre conceitos de sororidade e solidariedade entre mulheres, mas ao mesmo tempo repudiar mulheres negras.
Assim como o conflito do século XIX entre o sufrágio do homem negro versus o sufrágio da mulher colocou mulheres negras em uma situação difícil, mulheres negras contemporâneas sentiam que pediam a elas para escolherem entre um movimento negro que servia essencialmente aos interesses de patriarcas negros e um movimento de mulheres que servia essencialmente aos interesses de mulheres brancas racistas. A resposta delas não foi exigir uma mudança nesses dois movimentos e um reconhecimento dos interesses de mulheres negras. Em vez disso, a maioria das mulheres negras se aliou ao patriarcado negro, que acreditava proteger seus interesses. Poucas mulheres negras escolheram se aliar ao movimento feminista. Aquelas que ousaram falar em público, apoiando os direitos das mulheres, foram atacadas e criticadas. Outras mulheres negras se viram no limbo, sem querer se aliar a homens negros sexistas ou a mulheres brancas racistas. O fato de que as mulheres negras não se reuniram contra a exclusão de nossos interesses por ambos os grupos indicou que a socialização sexista e racista efetivamente nos fez uma lavagem cerebral para que sentíssemos que não valia a pena lutar por nossos interesses, para que acreditássemos que a única opção disponível para nós era submissão às determinações dos outros. Não desafiamos, questionamos nem criticamos; nós reagimos. Várias mulheres negras acusaram o movimento de libertação da mulher de “bobagem de mulher branca”. Outras reagiram ao racismo da mulher branca iniciando grupos de feministas negras. Enquanto denunciávamos os conceitos masculinos de macho negro como nojentos e ofensivos, não falávamos sobre nós mesmas, sobre ser mulher negra, sobre o que significa ser vítima de uma opressão sexista e racista.
fim da amostra…