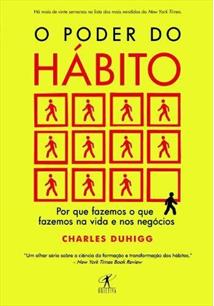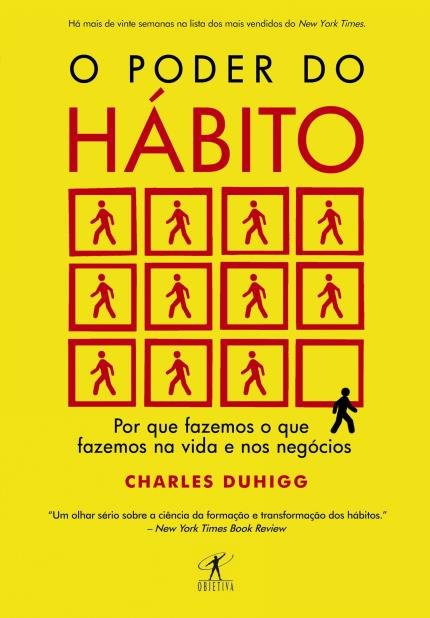
Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é entender como os hábitos funcionam – e como podemos transformá-los. Durante os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma maratona e foi promovida. Em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro dela mudaram de maneira fundamental. Publicitários da Procter & Gamble observaram vídeos de pessoas fazendo a cama. Tentavam desesperadamente descobrir como vender um novo produto chamado Febreze, que estava prestes a se tornar um dos maiores fracassos na história da empresa. De repente, um deles detecta um padrão quase imperceptível – e, com uma sutil mudança na campanha publicitária, Febreze começa a vender um bilhão de dólares por anos…
Páginas: 408 páginas; Editora: Objetiva; Edição: 1 (24 de setembro de 2012); ISBN-10: 8539004119; ISBN-13: 978-8539004119; ASIN: B00A3D10JE
Leia trecho do livro
Para Olivier, Jonh Hary,
John e Doris,
e, eternamente, para Liz
PRÓLOGO
A cura do hábito
Ela era a participante de estudo favorita dos cientistas.
Lisa Allen, de acordo com sua ficha, tinha 34 anos, começara a fumar e beber aos 16, e lutara com a obesidade durante a maior parte da vida. Chegou a um ponto, aos 20 e poucos anos, em que órgãos de cobrança começaram a persegui-la para recuperar mais de 10 mil dólares em dívidas. Um velho currículo listava que seu emprego mais longo durara menos de um ano.
A mulher que estava diante dos pesquisadores naquele dia, no entanto, era esbelta e vibrante, com as pernas tonificadas de uma corredora. Parecia uma década mais nova que as fotos em seu prontuário, e capaz de aguentar mais exercícios do que qualquer outra pessoa no recinto. Segundo seu relatório mais recente em seu arquivo, Lisa não tinha dívidas, não bebia e estava em seu 39º mês numa empresa de design gráfico.
“Quanto tempo faz desde o seu último cigarro?”, um dos médicos perguntou, dando início à lista de perguntas que Lisa respondia toda vez que vinha a esse laboratório perto de Bethesda, Maryland.
“Quase quatro anos”, ela disse, “e perdi 27 quilos e corri uma maratona desde então”. Ela também começara um mestrado e comprara uma casa. Tinha sido um período cheio de acontecimentos.
O grupo de cientistas na sala incluía neurologistas, psicólogos, geneticistas e um sociólogo. Durante os últimos três anos, com verba dos Institutos Nacionais de Saúde, eles vinham investigando Lisa e mais de vinte outros indivíduos que haviam deixado de ser fumantes, comedores compulsivos, bêbados problemáticos, viciados em compras e possuidores de outros hábitos destrutivos. Todos os participantes tinham uma coisa em comum: haviam reconstruído suas vidas em períodos curtos. Os pesquisadores queriam entender como. Por isso mediram os sinais vitais de cada um, instalaram câmeras de vídeo dentro de suas casas para observar suas rotinas, sequenciaram trechos de seus DNAs e, com tecnologias que lhes permitiam espiar dentro da cabeças das pessoas em tempo real, observaram o sangue e os impulsos elétricos fluírem através de seus cérebros enquanto eram expostos a tentações como fumaça de cigarro e refeiçoes fartas. O objetivo dos pesquisadores era descobrir como hábitos funcionam num nível neurológico – e o que era necessário para fazê-los mudar.
“Sei que você já contou essa história umas dez vezes”, disse o médico a Lisa, “mas alguns dos meus colegas só a ouviram em segunda mão”. Você se importaria em descrever de novo como parou de fumar?”
“Claro”, disse Lisa. “Começou no Cairo”. As férias tinham sido uma decisão um tanto impulsiva, ela explicou. Alguns meses antes, seu marido chegara do trabalho e anunciara que ia deixá-la porque estava apaixonado por outra mulher. Lisa levou um certo tempo para processar a traição e assimilar o fato de que estava realmente divorciando. Houve um período de luto, depois um período em que ela o espionava obsessivamente, seguia sia nova namorada pela cidade, ligava para ela depois da meia-noite e batia o telefone. Depois houve a noite em que em que Lisa apareceu na casa da namorada, bêbada, esmurrando a porta dela e gritando que ia queimar o prédio inteiro.
“Não foi uma época muito boa para mim”, disse Lisa. “Eu sempre quisera ver as pirâmides, e ainda não tinha estourado o limite dos meus cartões de crédito, então…”
Em sua primeira manhã no Cairo, Lisa acordou com o raia do dia ao som do chamado para uma oração de uma mesquita ali perto. Estava escuro como breu dentro de seu quarto de hotel. Meio cega, e com fuso horário alterado, ela pegou um cigarro.
Estava tão desorientada que não percebeu – até sentir o cheiro de plástico queimado – que estava tentando acender uma caneta, não um Malboro. Lisa passara os últimos quatros meses chorando, comendo compulsivamente, sem conseguir dormir, e sentindo-se envergonhada, desamparada, deprimida e furiosa, tudo ao mesmo tempo. Deitada na cama, ela entrou em colapso. “senti como se tudo o que eu jamais quisera tivesse desmoronado. Eu nem conseguia dormir direito.”
“E então comecei a pensar no meu ex-marido, e em como seria difícil arranjar outro emprego quando eu voltasse, e como eu ia odiar esse emprego e como me sentia pouco saudável o tempo todo. Levantei e derrubei uma jarra d’água que se estilhaçou no chão, e comecei a chorar ainda mais. Senti um desespero, como se tivesse que mudar algo, tivesse que achar pelo menos uma coisa que eu fosse capaz de controlar.”
Tomou uma ducha e saiu do hotel. Enquanto Lisa passava pelas ruas esburacadas do Cairo num táxi e depois pelas estradas de terra que levavam à Esfinge, às pirâmides de Gizé e ao vasto, interminável deserto ao redor delas, sua autocomiseração cedeu por um breve instante. Ela precisava de um objetivo na vida, pensou. Algo pelo qual pudesse batalhar.
Então ela decidiu, sentada dentro do táxi, que voltaria ao Egito e faria uma trilha pelo deserto.
Lisa sabia que era uma ideia maluca. Estava fora de forma, com excesso de peso e sem dinheiro no banco. Não sabia o nome do deserto para onde estava olhando, ou mesmo se uma tal viagem era possível. Nada disso importava, no entanto. Ela precisava de alguma coisa em que se focar. Lisa decidiu que se daria um ano para se preparar. E para sobreviver a uma expedição daquelas, tinha certeza de que precisaria fazer sacrifícios.
Principalmente, ela teria que parar de fumar.
Quando Lisa finalmente cruzou o deserto 11 meses depois — só que numa excursão motorizada com ar-condicionado, junto com meia dúzia de outras pessoas —, a caravana levava tanta água, comida, barracas, mapas, aparelhos de GPS e rádios bidirecionais que acrescentar um pacote de cigarros não teria feito muita diferença.
Mas no táxi, Lisa não sabia disso. E para os cientistas no laboratório, os detalhes da sua viagem não eram relevantes. Pois, por motivos que eles só estavam começando a entender, aquela pequena mudança na percepção de Lisa naquele dia no Cairo — a convicção de que precisava parar de fumar para realizar seu objetivo — desencadeara uma série de transformações que acabariam refletindo em todas as partes de sua vida. Ao longo dos seis meses seguintes, ela substituiria o cigarro pela corrida, e isso, por sua vez, mudou o jeito como ela comia, trabalhava, dormia, guardava dinheiro, organizava seus dias de trabalho, fazia planos para o futuro, e assim por diante. Ela começaria a correr meias-maratonas, depois uma maratona, voltaria a estudar, compraria uma casa e ficaria noiva. Por fim ela foi recrutada para o estudo dos cientistas, e quando os pesquisadores começaram a examinar imagens do cérebro de Lisa, viram algo notável: um conjunto de padrões neurológicos — seus antigos hábitos — tinha sido suplantado por padrões novos. Eles ainda podiam ver a atividade neural de seus antigos comportamentos, porém esses impulsos estavam superados por uma série de novos desejos. Conforme os hábitos de Lisa mudaram, seu cérebro mudara também.
Os cientistas acreditavam que não tinha sido a viagem ao Cairo que provocara a mudança, nem o divórcio ou a travessia do deserto, mas o fato de que primeiro Lisa se concentrara primeiramente em mudar um único hábito: o fumo. Todos os participantes do estudo haviam passado por um processo semelhante. Focando-se num único padrão — o que é conhecido como um “hábito angular” —, Lisa também ensinara a si mesma a reprogramar as outras rotinas automáticas de sua vida.
Não só os indivíduos são capazes de mudanças como essa. Quando as empresas se concentram em mudar hábitos, organizações inteiras podem se transformar. Empresas como a Procter & Gamble, a Starbucks, a Alcoa e a Target já tiraram proveito dessa revelação para influenciar o modo como o trabalho é feito, como os funcionários se comunicam, e — sem que os clientes percebam — o jeito como as pessoas fazem compras.
“Quero lhe mostrar uma de suas tomografias mais recentes”, um pesquisador disse a Lisa perto do final de seu exame. Ele exibiu uma figura numa tela de computador que mostrava imagens do interior da cabeça dela. “Quando você vê comida, estas áreas” — ele apontou para um lugar perto do centro do cérebro dela —, “que são associadas a anseios e fome, ainda estão ativas. Seu cérebro ainda produz os impulsos que faziam você comer em excesso.
“No entanto, tem atividade nova nesta área” — ele apontou para a região mais perto de sua testa —, “onde acreditamos que a inibição comportamental e a autodisciplina começam. Essa atividade foi se tornando mais acentuada a cada vez que você veio aqui”.
Lisa era a participante favorita dos cientistas porque suas tomografias eram muito convincentes, muito úteis para criar um mapa no qual os padrões comportamentais — os hábitos — residem dentro de nossas mentes. “Você está nos ajudando a entender como uma decisão se torna um comportamento automático”, o médico lhe disse.
Todas as pessoas no recinto sentiam que estavam no limiar de alguma coisa importante. E estavam mesmo.
Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que fez? Você foi direto para o chuveiro, checou seu e-mail ou pegou um donut no balcão da cozinha? Escovou os dentes antes ou depois de se enxugar? Amarrou o sapato esquerdo ou o direito primeiro? O que você disse para os seus filhos antes de sair de casa? Que caminho pegou para ir ao trabalho? Quando você chegou à sua mesa, respondeu e-mails, conversou com um colega ou foi logo escrever um memorando? Salada ou hambúrguer no almoço? Quando chegou em casa, calçou tênis e saiu para correr, ou pegou
um drinque e foi jantar na frente da TV?
“Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos”, escreveu William James em 1892. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos. E embora cada hábito signifique relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que dizemos a nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercícios, e o modo como organizamos nossos pensamentos e rotinas de trabalho têm impactos enormes na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e felicidade. Um artigo publicado por um pesquisador da Duke University em 2006 descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas realizavam todos os dias não eram decisões de fato, mas sim hábitos.
William James — assim como inúmeros outros, de Aristóteles a Oprah Winfrey — passou boa parte de sua vida tentando entender por que os hábitos existem. Porém só nas últimas duas décadas os neurologistas, psicólogos, sociólogos e marqueteiros realmente começaram a entender como os hábitos funcionam — e, mais importante, como eles mudam.
Este livro é dividido em três partes. A primeira parte é focada em como os hábitos surgem dentro de vidas individuais. Ela explora a neurologia da formação dos hábitos, os meios de formar novos hábitos e mudar antigos, e os métodos, por exemplo, que certo publicitário usou para transformar a escovação de dentes, antes uma prática obscura, numa obsessão nacional. Ela mostra como a Procter & Gamble transformou um spray chamado Febreze num negócio de um bilhão de dólares tirando proveito dos impulsos habituais dos consumidores, como os Alcoólicos Anônimos reformam vidas atacando hábitos que estão no cerne do vício, e como o técnico Tony Dungy reverteu a sorte do pior time da National Football League (Liga Nacional de Futebol Americano) fazendo com que as reações automáticas de seus jogadores focassem deixas sutis em campo.
A segunda parte examina os hábitos de empresas e organizações bem-sucedidas. Ela mostra em detalhes como um executivo chamado Paul O’Neill — antes de se tornar secretário da Fazenda — converteu uma produtora de alumínio em dificuldades na empresa de mais alto desempenho do índice Dow Jones, enfocando um hábito angular, e como a Starbucks transformou um menino que largara o ensino médio num alto gerente, incutindo hábitos projetados para tonificar sua força de vontade. Ela descreve por que mesmo os cirurgiões mais talentosos podem cometer erros catastróficos quando os hábitos organizacionais de um hospital
deterioram-se.
A terceira parte examina os hábitos de sociedades. Reconta como Martin Luther King Jr. e o movimento pelos direitos civis tiveram êxito, em parte, por mudarem os hábitos sociais arraigados dos moradores de Montgomery, Alabama — e por que um foco semelhante ajudou um jovem pastor chamado Rick Warren a construir a maior igreja do país em Saddleback Valley, Califórnia. Por fim, ela explora questões éticas delicadas, tais como se um assassino na Grã-Bretanha deve ser libertado caso possa argumentar de forma convincente que seus hábitos o levaram a matar.
Todos os capítulos giram em torno de um argumento central: hábitos podem ser mudados, se entendermos como eles funcionam. Este livro é baseado em centenas de estudos acadêmicos, entrevistas com mais de trezentos cientistas e executivos, e pesquisas realizadas em dezenas de empresas. (Para um índice de fontes, veja as notas do livro e o site http://www.thepowerofhabit.com.) Ele aborda os hábitos em sua definição técnica: as escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento, e nas quais paramos de pensar depois mas continuamos fazendo, normalmente todo dia. Em certo momento, todos nós decidimos conscientemente o quanto iríamos comer e quando sairíamos para correr. Depois paramos de fazer escolhas, e o comportamento tornou-se automático. É uma consequência natural da nossa neurologia. E entendendo como isso acontece, você pode reconstruir esses padrões do jeito que quiser.
Comecei a me interessar pela ciência dos hábitos oito anos atrás, quando estava trabalhando como repórter de jornal em Bagdá. As forças armadas dos Estados Unidos, como me ocorreu enquanto eu as observava em ação, são um dos maiores experimentos de formação de hábitos da história. O treinamento básico ensina aos soldados uma série de hábitos cuidadosamente projetados: como atirar, pensar e se comunicar sob fogo. No campo de batalha, cada comando emitido se baseia em comportamentos praticados a ponto de virarem automáticos. A organização inteira depende de rotinas ensaiadas inúmeras vezes para construir bases, definir prioridades estratégicas e decidir como reagir a ataques. Naqueles primeiros dias da guerra, quando a insurreição se alastrava e o número de mortos crescia, os comandantes estavam buscando hábitos que pudessem incutir entre soldados e iraquianos, para assim criar uma paz duradoura.
Fazia cerca de dois meses que eu estava no Iraque quando ouvi falar de um oficial que realizava um programa improvisado de modificação de hábitos em Kufa, uma pequena cidade a 150 quilômetros da capital. Ele era um major do Exército que analisara fitas de vídeo de tumultos recentes e identificara um padrão: a violência geralmente era precedida por uma multidão de iraquianos que se reunia numa praça ou outro espaço aberto e, ao longo de várias horas, aumentava. Os vendedores ambulantes de comida
apareciam, assim como os espectadores. Então alguém jogava uma pedra ou uma garrafa, e o caos corria so
Quando o major se reuniu com o prefeito de Kufa, fez um pedido estranho: será que eles podiam manter os ambulantes afastados das praças? Claro, disse o prefeito. Umas poucas semanas depois, uma pequena multidão reuniu-se perto da Masjid al-Kufa, ou Grande Mesquita de Kufa. Ao longo da tarde, ela foi inchando de tamanho. Algumas pessoas começaram a entoar frases de protesto. A polícia iraquiana, pressentindo problemas, falou com a base por rádio e pediu que as tropas americanas ficassem de sobreaviso. Quando escureceu, a multidão começou a ficar inquieta e faminta. As pessoas procuraram os vendedores de kebab que geralmente enchiam a praça, mas não encontraram nenhum. Os espectadores se foram. Os protestantes ficaram desanimados. Às oito da noite, todo mundo tinha ido embora.
Quando visitei a base perto de Kufa, conversei com o major. As pessoas não pensam necessariamente na dinâmica de uma multidão em termos de hábitos, ele me disse. Mas passara toda sua carreira sendo treinado na psicologia da formação de hábitos. No acampamento militar, ele assimilara hábitos para carregar sua arma, adormecer numa zona de guerra, manter o foco em meio ao caos da batalha e tomar decisões enquanto estava exausto e sobrecarregado. Frequentara aulas que lhe ensinaram hábitos para economizar dinheiro, se exercitar todo dia e se comunicar com os colegas de dormitório. Conforme foi avançando de posto, ele aprendeu a importância dos hábitos organizacionais para garantir que os subordinados pudessem tomar decisões sem pedir permissão o tempo todo, e como as rotinas certas tornavam mais fácil trabalhar ao lado de pessoas que ele normalmente não suportava. E agora, na tarefa improvisada de construir uma nação, ele estava vendo como multidões e culturas seguiam muitas das
mesmas regras. Num certo sentido, ele disse, uma comunidade era um aglomerado gigante de hábitos que ocorriam entre milhares de pessoas e que, dependendo da forma como estas são influenciadas, podia resultar em violência ou em paz. Além de retirar os vendedores ambulantes, promovera dezenas de experimentos diferentes em Kufa para influenciar os hábitos dos moradores. Não houvera um único tumulto desde que chegara.
“Entender os hábitos foi a coisa mais importante que aprendi no Exército”, o major me disse. “Isso mudou tudo no modo como vejo o mundo. Você quer adormecer rápido e acordar se sentindo bem? Preste atenção aos seus padrões noturnos e ao que faz automaticamente quando acorda. Quer fazer com que correr seja fácil? Crie estímulos para transformar isso numa rotina. Treino meus filhos com esse tipo de pensamento. Minha mulher e eu
escrevemos planos de hábitos para o nosso casamento. É só nisso que falamos em reuniões de comando. Ninguém em Kufa teria me dito que podíamos influenciar multidões retirando as barraquinhas de kebab, mas uma vez que você vê tudo como um monte de hábitos, é como se alguém te desse uma lanterna e um pé de cabra e você pudesse pôr as mãos à obra.”
O major era um homem pequeno da Geórgia. Estava o tempo todo cuspindo sementes de girassol ou tabaco mascado num xícara. Ele me disse que, antes de entrar para as Forças Armadas, sua melhor opção de carreira era consertar linhas telefônicas ou, possivelmente, virar traficante de metanfetamina, caminho que alguns de seus colegas de ensino médio tinham escolhido com menos êxito. Agora, ele supervisionava oitocentas tropas numa das organizações de guerra mais sofisticadas do planeta. “Estou te dizendo, se um caipira como eu pode aprender essas coisas, qualquer pessoa pode. Eu falo para os meus soldados o tempo todo, não tem nada que você não possa se criar os hábitos certos.”
Na última década, nossa compreensão da neurologia dos hábitos e do modo como os padrões funcionam dentro de nossas vidas, sociedades e organizações expandiu-se de maneira que não poderíamos ter imaginado cinquenta anos antes. Agora sabemos por que os hábitos surgem, como eles mudam, e a ciência que há por trás de sua mecânica. Sabemos como dividi-los em partes e reconstruí-los de acordo com nossas especificações. Entendemos como fazer as pessoas comerem menos, se exercitarem mais, trabalharem de forma mais eficiente e levarem vidas mais saudáveis. Transformar um hábito não é necessariamente fácil nem rápido. Nem sempre é simples.
Mas é possível. E agora entendemos como.
1
O LOOP DO HÁBITO
Como os hábitos funcionam
I
No outono de 1993, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos entrou num laboratório em San Diego para uma consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80 metro de altura, bem-alinhado numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de cinquenta anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve enquanto percorria os corredores do laboratório segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eugene Pauly, ou “E.P.”, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava vindo visitá-los. “Quem é Michael?”, perguntou Eugene.
“Seu filho”, disse a mulher, Beverly. “Aquele que nós criamos, sabe?
Eugene olhou para ela com um olhar vazio. “De quem você está falando?”, perguntou. No dia seguinte, ele começou a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grave que Beverly, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Sua temperatura começou a subir, atingindo 40 graus enquanto ele transpirava, formando uma mancha amarela de suor nos lençóis do hospital. Ele ficou delirante, depois violento, gritando e empurrando quando as enfermeiras tentavam dar uma injeção intravenosa em seu braço. Só depois de sedá-lo é que um médico conseguiu cravar uma agulha comprida entre duas vértebras da base de sua coluna e extrair umas poucas gotas de líquido cefalorraquidiano.
O médico que realizou o procedimento percebeu na mesma hora que havia um problema. O fluido ao redor do cérebro e dos nervos espinhais é uma barreira contra infecções e ferimentos. Em indivíduos saudáveis, ele é translúcido e corre rapidamente, movendo-se num fluxo quase sedoso através de uma agulha. A amostra da coluna de Eugene era turva e pingava devagar, como se estivesse cheia de sujeira microscópica. Quando os resultados voltaram do laboratório, os médicos de Eugene descobriram por que ele estava doente: estava sofrendo de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas conforme devora as delicadas dobras de tecido onde nossos pensamentos, sonhos — e, de acordo com alguns, nossas almas — residem. Os médicos de Eugene disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito, porém uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Eugene entrou em coma e durante dez dias esteve à beira da morte. Aos poucos, conforme as drogas foram combatendo a doença, sua febre baixou e o vírus desapareceu. Quando ele finalmente acordou, estava fraco e desorientado, e não conseguia engolir direito. Não conseguia formar frases e às vezes ficava ofegante, como se tivesse esquecido momentaneamente como se respira. Mas ele estava vivo.
Por fim, Eugene estava bem o bastante para passar por uma bateria de testes. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo — incluindo seu sistema nervoso — parecia em boa parte ileso. Ele conseguia mexer os membros e reagia a sons e luzes. Tomografias cerebrais, no entanto, revelaram sombras nefastas próximas do centro de seu cérebro. O vírus destruíra um trecho oval de tecido perto de onde o crânio encontrava a coluna vertebral. “Talvez ele não seja mais a pessoa que você lembra”, um dos médicos avisou a Beverly. “Você precisa estar preparada caso o seu marido não exista mais.”
Eugene foi transferido para outra ala do hospital. Dentro de uma semana, já engolia com facilidade. Mais outra semana e ele começou a falar normalmente, pedindo gelatina e sal, mudando de canal na televisão e reclamando das novelas chatas. Quando foi enviado a um centro de reabilitação cinco semanas depois, Eugene andava pelos corredores e oferecia aos enfermeiros conselhos não solicitados sobre seus planos para o fim de semana. “Acho que nunca vi alguém voltar desse jeito”, um médico disse a Beverly. “Não quero alimentar suas esperanças, mas isso é surpreendente.”
Beverly, no entanto, continuava preocupada. Na clínica de reabilitação, ficou claro que a doença havia alterado seu marido de modos perturbadores. Por exemplo, Eugene era incapaz de lembrar que dia da semana era, ou os nomes de seus médicos e enfermeiros, por mais vezes que eles se apresentassem. “Por que eles não param de me fazer todas essas perguntas?”, ele perguntou a Beverly um dia, depois que um médico saiu de seu quarto. Quando finalmente voltou para casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eugene não parecia se lembrar dos amigos deles. Tinha dificuldade de acompanhar conversas. Às vezes, de manhã, saía da cama, andava até a cozinha, fritava bacon e ovos para comer, depois voltava para debaixo das cobertas e ligava o rádio. Quarenta minutos depois, fazia a mesma coisa: levantava, fritava bacon e ovos, voltava para a cama e mexia no rádio. Depois fazia tudo de novo.
Assustada, Beverly procurou a ajuda de especialistas, entre os quais um pesquisador da Universidade da Califórnia, em San Diego, especializado em perda de memória. E foi assim que, num dia ensolarado de outono, Beverly e Eugene se viram num prédio indistinto no campus da universidade, lentamente caminhando de mãos dadas por um corredor. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de exames. Eugene começou a conversar com uma moça que estava usando um computador.
“Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso”, ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. “Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em dois suportes de 1,80 metro, ocupando essa sala inteira.”
“Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso”, ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. “Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em dois suportes de 1,80 metro, ocupando essa sala inteira.”
“Oh, vejamos, 59 ou 60?”, Eugene respondeu. Ele tinha 71 anos.
Os cientistas começaram a digitar no computador. Eugene sorriu e apontou para a máquina. “Isso é mesmo formidável”, ele disse. “Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria dois suportes de 1,80 metro segurando essa coisa!”
O cientista era Larry Squire, 52 anos, um professor que passara as últimas três décadas estudando a neuroanatomia da memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com Eugene, no entanto, logo lhe revelaria um novo mundo e para centenas de outros pesquisadores que remodelaram nossa compreensão de como os hábitos funcionam. Os estudos de Squire mostrariam que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos — até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. A pesquisa dele e dos outros ajudaria a revelar os mecanismos subconscientes que impactam as inúmeras escolhas que parecem ser fruto de um pensamento racional, mas na verdade são influenciadas por impulsos que a maioria de nós mal reconhece ou compreende.
Quando Squire conheceu Eugene, já fazia semanas que ele vinha estudando imagens de seu cérebro. Os exames indicavam que quase toda a lesão dentro do crânio de Eugene se limitava a uma área de 5 centímetros perto do centro da cabeça. O vírus destruíra quase inteiramente seu lobo temporal medial, uma faixa de células que os cientistas suspeitavam ser responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, tais como a lembrança do passado e a regulação de algumas emoções. A totalidade da destruição não surpreendeu Squire — a encefalite viral consome tecido com uma precisão cruel, quase cirúrgica. O que o deixou chocado era como as imagens pareciam familiares.
Trinta anos antes, quando era doutorando no MIT, Squire trabalhara junto com um grupo que estudava um homem conhecido como “H.M.”, um dos pacientes mais famosos da história da medicina. Quando H.M. — seu nome verdadeiro era Henry Molaison, mas os cientistas protegeram sua identidade ao longo de toda a sua vida — tinha 7 anos, foi atropelado por uma bicicleta e caiu, batendo a cabeça com força. Logo em seguida, passou a ter ataques epiléticos e começou a desmaiar. Aos 16 anos, teve sua primeira crise tônico-clônica, o tipo de convulsão que afeta o cérebro inteiro; em pouco tempo, ele estava perdendo a consciência até dez vezes por dia.
Quando completou 27 anos, H.M. estava desesperado. Os medicamentos anticonvulsivos não tinham ajudado. Ele era inteligente, mas não conseguia permanecer num emprego. Ainda morava com os pais. H.M. queria levar uma vida normal. Por isso procurou a ajuda de um médico cuja tolerância com experimentos era maior que seu medo de cometer um erro médico. Estudos haviam sugerido que uma área do cérebro chamada hipocampo talvez exercesse um papel nos ataques epiléticos. Quando o médico propôs fazer uma incisão na cabeça de H.M., levantar a seção frontal de seu cérebro e, com um pequeno canudo, sugar de dentro de seu crânio o hipocampo e parte do tecido ao redor, H.M. deu seu consentimento.
A cirurgia aconteceu em 1953, e quando H.M. se recuperou, seus ataques epiléticos diminuíram. Quase de imediato, no entanto, ficou claro que seu cérebro tinha sido alterado radicalmente. H.M. sabia seu nome e que sua mãe era irlandesa. Lembrava da queda da bolsa de 1929 e de noticiários sobre a invasão da Normandia. Mas quase tudo o que veio depois — todas as lembranças, experiências e esforços da maior parte da década antes da cirurgia — tinha sido apagado. Quando um médico começou a testar a memória de H.M. mostrando-lhe cartas de baralho e listas de números, ele descobriu que H.M. era incapaz de reter qualquer informação nova por mais de uns vinte segundos.
Desde o dia de sua cirurgia até sua morte em 2008, cada pessoa que H.M. encontrava, cada música que ouvia, cada sala em que entrava era uma experiência completamente nova. Seu cérebro tinha congelado no tempo. Todo dia, ele ficava perplexo com o fato de que alguém podia mudar o canal de televisão apontando um retângulo preto de plástico para a tela. Ele se apresentava repetidamente para os médicos e enfermeiras, dezenas de vezes por dia.
“Eu adorava aprender sobre H.M., pois a memória parecia um jeito tão palpável e instigante de estudar o cérebro”, Squire me disse. “Cresci em Ohio, e ainda lembro, na primeira série, da minha professora distribuindo gizes de cera para todo mundo, e comecei a misturar todas as cores para ver se ia dar preto. Por que guardei essa memória, mas não consigo lembrar o rosto da professora? Por que meu cérebro decide que uma memória é mais importante que outra?”
Quando Squire recebeu as imagens do cérebro de Eugene, ficou espantado com a semelhança entre aquele cérebro e o de H.M. Havia pedaços vazios, do tamanho de nozes, no meio da cabeça de ambos. A memória de Eugene — assim como a de H.M. — tinha sido removida.
Conforme Squire começou a examinar Eugene, no entanto, viu que aquele paciente era diferente de H.M. em alguns aspectos cruciais. Enquanto quase todo mundo percebia, minutos após conhecer H.M., que havia alguma coisa muito estranha, Eugene conseguia travar conversas e realizar tarefas que não alertariam um observador casual de que havia algo errado. Os efeitos da cirurgia de H.M. tinham sido tão debilitantes que ele passou o resto da vida internado. Eugene, por outro lado, morava em casa com a mulher. H.M. não conseguia travar conversas de verdade. Já Eugene tinha a habilidade impressionante de conduzir quase qualquer diálogo para um tema que ele ficasse à vontade para discutir longamente, tal como satélites — ele trabalhara como técnico para uma empresa aeroespacial — ou as condições climáticas.
Squire começou a examinar Eugene perguntando a ele sobre sua juventude. Eugene falou da cidade onde crescera no centro da Califórnia, do tempo que servira na marinha mercante, de uma viagem que fizera à Austrália quando era jovem. Lembrava da maior parte dos acontecimentos de sua vida que tinham se passado antes de cerca de 1960. Quando Squire perguntava sobre décadas posteriores, Eugene educadamente mudava de assunto e dizia que tinha dificuldade de lembrar de alguns acontecimentos recentes.
Squire realizou alguns testes de inteligência e descobriu que o intelecto de Eugene ainda era aguçado para um homem incapaz de se lembrar das três últimas décadas. Além disso, ele ainda tinha todos os hábitos que adquirira na juventude, por isso sempre que Squire lhe dava um copo d’água ou o elogiava por uma resposta especialmente detalhada, Eugene agradecia e retribuía o elogio. Sempre que alguém entrava na sala, se apresentava e perguntava como tinha sido seu dia.
Mas quando Squire pediu que Eugene memorizasse uma série de números ou descrevesse o corredor em frente à porta do laboratório, o médico descobriu que seu paciente não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de um minuto. Quando alguém mostrava a Eugene fotos de seus netos, ele não fazia ideia de quem eram. Quando Squire perguntava se ele se lembrava de ter ficado doente, Eugene dizia que não tinha lembrança alguma de sua doença nem da estada no hospital. Na verdade, Eugene quase nunca lembrava que estava sofrendo de amnésia. Sua imagem mental de si mesmo não incluía a perda de memória, e já que ele não conseguia se lembrar da lesão, não conseguia conceber que havia algo de errado.
Nos meses após conhecer Eugene, Squire realizou experimentos que testavam os limites de sua memória. A essa altura, Eugene e Beverly tinham se mudado de Playa del Rey para San Diego para ficar mais perto da filha, e Squire muitas vezes os visitava para fazer exames. Um dia, Squire pediu que Eugene esboçasse uma planta de sua casa. Ele foi incapaz de desenhar um mapa rudimentar mostrando onde ficava a cozinha ou o quarto.
“Quando você levanta da cama de manhã, como sai do quarto?”,
Squire perguntou. “Olha”, disse Eugene, “não sei direito”. Squire tomou notas em seu laptop, e enquanto o cientista digitava, Eugene se distraiu. Olhou de relance para o outro lado da sala e então se levantou, andou até um corredor e abriu a porta do banheiro. Uns poucos minutos depois, Squire ouviu a descarga, a torneira aberta, e Eugene, enxugando as mãos nas calças, voltou para a sala e sentou-se outra vez na cadeira ao lado de Squire. Esperou pacientemente pela próxima pergunta.
Na época, ninguém se perguntou como um homem incapaz de desenhar um mapa de sua própria casa conseguia achar o banheiro sem hesitação. Mas essa pergunta, e outras parecidas, acabariam levando a uma série de descobertas que transformaram nossa compreensão do poder dos hábitos. Isso ajudaria a deflagrar uma revolução científica que hoje envolve centenas de pesquisadores que estão aprendendo, pela primeira vez, a entender todos os hábitos que influenciam nossas vidas.
Quando Eugene sentou-se à mesa, olhou para o laptop de Squire.
“Isso é impressionante”, ele disse, apontando para o computador. “Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria dois suportes de 1,80 metro segurando essa coisa.”
Nas primeiras semanas depois que eles se mudaram para a casa nova, Beverly tentava tirar Eugene de casa todo dia. Os médicos haviam lhe dito que era importante que ele se exercitasse, e se Eugene ficava dentro de casa por muito tempo, deixava Beverly maluca, fazendo as mesmas perguntas inúmeras vezes, num loop infinito. Por isso, toda manhã e toda tarde ela o levava para dar um passeio no quarteirão, sempre juntos e sempre seguindo o mesmo itinerário.
Os médicos tinham avisado a Beverly que ela precisaria monitorar Eugene constantemente. Disseram que, se ele algum dia se perdesse, nunca mais conseguiria achar o caminho de casa. Mas certa manhã, enquanto ela se vestia, Eugene saiu despercebido pela porta da frente. Ele tinha uma tendência a perambular de um cômodo para o outro, por isso Beverly levou um tempo para perceber que ele tinha sumido. Quando percebeu, entrou em pânico. Correu para rua e tentou enxergá-lo. Não conseguiu vê-lo. Foi até a casa dos vizinhos e esmurrou as janelas. As casas eram parecidas — será que Eugene tinha se confundido e entrado em outra? Ela correu até a porta e tocou a campainha até alguém atender. Eugene não estava lá. Ela correu de volta para a rua, seguindo o quarteirão, gritando o nome de Eugene. Estava chorando. E se ele tivesse ido a algum lugar com trânsito? Como diria a alguém onde morava? Ela já estava fora fazia 15 minutos, procurando em toda parte. Então correu para casa a fim de ligar para a polícia.
Quando ela entrou afoita pela porta, encontrou Eugene na sala, sentado em frente à televisão, assistindo ao History Channel. As lágrimas dela o deixaram confuso. Ele disse que não lembrava de ter saído, não sabia onde estivera e não conseguia entender por que ela estava tão perturbada. Então Beverly viu uma pilha de pinhas na mesa, como as que vira no quintal de um vizinho mais adiante na rua. Ela se aproximou e olhou as mãos de Eugene. Seus dedos estavam melados de seiva. Foi então que ela se deu conta de que Eugene tinha saído sozinho para caminhar. Ele tinha andado até o final da rua e catado alguns souvenirs.
E achara o caminho de casa.
Em pouco tempo, Eugene estava saindo para caminhar toda manhã. Beverly tentava impedi-lo, mas era inútil.
“Mesmo se eu falasse para ele ficar em casa, uns poucos minutos depois ele não lembrava mais”, ela me disse. “Eu o segui algumas vezes para garantir que ele não ia se perder, mas ele sempre voltava são e salvo.” Às vezes voltava com pinhas ou pedras. Uma vez voltou com uma carteira; outra, com um cachorrinho. Nunca se lembrava de onde essas coisas tinham vindo. Quando Squire e seus assistentes ficaram sabendo dessas caminhadas, começaram a suspeitar que estava acontecendo alguma coisa dentro da cabeça de Eugene que não tinha nada a ver com a sua memória consciente. Então projetaram um experimento. Uma assistente de Squire visitou a casa um dia e pediu que Eugene desenhasse um mapa do quarteirão onde morava. Ele não conseguiu. Mas onde a casa dele estava situada na rua?, ela perguntou. Ele desenhou um pouquinho, depois se esqueceu da tarefa. Ela pediu que ele apontasse qual porta dava para a cozinha. Eugene olhou o cômodo à sua volta. Disse que não sabia. Ela perguntou a Eugene o que ele faria se estivesse com fome. Ele levantou, andou até a cozinha, abriu um armário e tirou um pote de amendoins.
Mais tarde naquela semana, um visitante acompanhou Eugene em sua caminhada diária. Eles andaram por cerca de 15 minutos pela eterna primavera do sul da Califórnia, com o ar carregado do cheiro de bougainvílleas. Eugene não falou muito, mas sempre guiava o caminho e parecia saber aonde estava indo. Nunca pedia informações. Quando eles dobraram a esquina perto da casa dele, o visitante perguntou a Eugene onde ele morava. “Não sei exatamente”, respondeu. Então seguiu pela sua calçada, abriu sua porta da frente, entrou na sala e ligou a televisão. Ficou claro para Squire que Eugene estava absorvendo informações novas. Mas onde dentro de seu cérebro estavam morando essas informações? Como alguém podia achar um pote de amendoins quando não sabia dizer onde ficava a cozinha? Ou achar o caminho de casa quando não fazia ideia de qual casa era a sua? Como, Squire se perguntou, os novos padrões comportamentais estavam se formando dentro do cérebro avariado de Eugene?