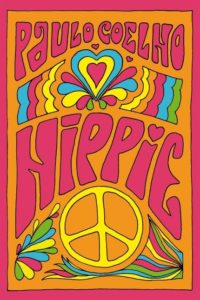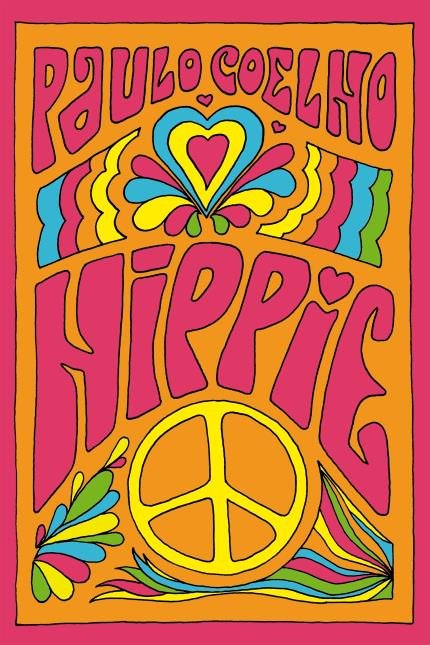
Em seu livro mais autobiográfico, Paulo Coelho nos leva a reviver o sonho transformador e pacifista da geração hippie. Paulo é um jovem que quer ser escritor, deixa os cabelos longos e sai pelo mundo à procura da liberdade e do significado mais profundo da existência. Sua jornada começa com uma viagem pela América do Sul – passando por Machu Picchu, no Peru, Chile e Argentina – até o encontro com Karla, em Amsterdã, quando juntos resolvem ir até o Nepal no Magic Bus. No caminho, os companheiros vivem uma extraordinária história de amor, passam por transformações profundas e abraçam novos valores para suas vidas. Hippie é o vigésimo livro de Paulo Coelho, o autor mais traduzido em todo o mundo e que vem sendo publicado pela Paralela desde 2016.
Páginas: 288 páginas Editora: Paralela; Edição: 1ª (28 de abril de 2018); ISBN-10: 8584391169; ISBN-13: 978-8584391165; ASIN: B08LCBGNLY
Clique na imagem para ler o livro
Biografia do autor: Nascido em 1947, no Rio de Janeiro, PAULO COELHO atuou como dramaturgo, jornalista e compositor, antes de se dedicar à literatura. É considerado um fenômeno literário, com sua obra publicada em mais de 170 países e traduzida para 84 idiomas. Juntos, seus livros já venderam 230 milhões de exemplares em todo o mundo.
Leia trecho do livro
Alguém lhe disse: “Tua mãe e
teus irmãos estão lá fora e querem ver-te”.
Ele lhe respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são
aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam”.
Lucas 8,20-1
Pensei que minha viagem tivesse chegado a seu final
Eu estava no meu limite
O caminho à minha frente, fechado
As provisões, terminadas
E havia chegado o momento de procurar abrigo
na escuridão silenciosa
Mas descobri que
Teu desejo permanecia
Quando as velhas palavras tinham sido esquecidas
pela língua cansada
Novas melodias brotavam do meu coração
Onde os velhos caminhos acabavam
Um novo mundo se revelava
Rabindranath Tagore
Para Kabir, Rumi, Tagore, Paulo de Tarso, Hafez,
Que me acompanham desde que os descobri,
Que escreveram parte da minha vida,
Que conto no livro — muitas vezes com suas palavras.
As histórias aqui relatadas fazem parte da minha experiência pessoal. Alterei ordem, nomes e detalhes de pessoas, tive que condensar algumas cenas, mas tudo que ocorreu é verdadeiro. Usei a narrativa na terceira pessoa porque isso me permitiu dar aos personagens sua própria voz na descrição de suas vidas.
Em setembro de 1970, dois locais disputavam o privilégio de ser considerados o centro do mundo: Piccadilly Circus, em Londres, e o Dam, em Amsterdam. Mas nem todo mundo sabia disso. Se perguntassem à maior parte das pessoas, elas teriam respondido: “a Casa Branca, nos Estados Unidos, e o Krêmlin, na União Soviética”. Porque essas pessoas se informavam por jornais, televisão, rádio, meios de comunicação já completamente ultrapassados e que jamais voltariam a ter a relevância que tiveram quando foram inventados.
Em setembro de 1970, as passagens de avião eram caríssimas, o que permitia apenas a uma elite viajar. Bem, não era exatamente assim para uma multidão imensa de jovens, da qual os antigos meios de comunicação se concentravam apenas no aspecto externo: tinham cabelos longos, usavam roupas coloridas, não tomavam banho (o que era uma mentira, mas os jovens não liam jornais, e os adultos acreditavam em qualquer notícia capaz de insultar aqueles que consideravam uma “ameaça para a sociedade e os bons costumes”), punham em risco uma geração inteira de moços e moças estudiosos procurando vencer na vida com seus péssimos exemplos de libertinagem e “amor livre”, como se dizia com desprezo. Pois bem, essa multidão cada vez mais numerosa de jovens tinha um sistema de divulgar notícias que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia detectar.
O “Correio Invisível” estava pouco ligando para divulgar e comentar o novo modelo da Volkswagen ou os novos tipos de sabão em pó que acabavam de ser lançados no mundo inteiro. Suas notícias resumiam-se a qual seria a próxima grande trilha a ser percorrida por aqueles jovens insolentes, sujos, praticantes de “amor livre”, trajando roupas que nenhuma pessoa de bom gosto seria capaz de vestir. As meninas com seus cabelos em trança cobertos de flores e suas saias longas, blusas coloridas sem sutiã, colares de todo tipo de cores e contas; os rapazes com cabelos e barba sem cortar havia meses, com jeans desbotados e rasgados de tanto uso, porque jeans eram caros em toda parte do mundo — exceto nos Estados Unidos, onde tinham deixado o gueto dos trabalhadores de fábrica e agora eram vistos nos gigantescos concertos em San Francisco e arredores.
O “Correio Invisível” existia porque as pessoas estavam sempre nesses concertos, trocando ideias sobre onde deveriam se encontrar, como podiam descobrir o mundo sem entrar em um ônibus de turismo onde um guia ia descrevendo as paisagens enquanto as pessoas mais jovens se entediavam e os velhos dormiam. E assim, através do boca a boca, todos sabiam onde seria o próximo concerto ou a próxima grande trilha a ser percorrida. E não existiam limites financeiros para ninguém, porque o autor preferido de todos nessa comunidade não era nem Platão nem Aristóteles, nem os quadrinhos de alguns desenhistas que haviam ganhado o status de celebridade. O grande livro, que praticamente ninguém viajava para o velho continente sem, chamava-se Europa a cinco dólares por dia, de Arthur Frommer. Com ele todos podiam saber onde se hospedar, o que ver, onde comer e quais eram os pontos de encontro e os lugares em que se podia assistir a música ao vivo sem gastar praticamente nada.
O único erro de Frommer foi ter, na época, limitado seu guia à Europa. Não existiam outros lugares interessantes? As pessoas não estavam mais dispostas a ir para a Índia do que para Paris? Frommer corrigiria tal falha alguns anos depois, mas enquanto isso o “Correio Invisível” se encarregou de promover uma rota na América do Sul, em direção à ex-cidade perdida de Machu Picchu, alertando a todos que não comentassem muito com quem não conhecia a cultura hippie, ou em breve o lugar seria invadido por bárbaros com suas máquinas fotográficas e as extensas explicações (rapidamente esquecidas) de como um bando de índios havia criado uma cidade tão bem escondida que só poderia ser descoberta do alto — algo que eles julgavam incapaz de acontecer, porque homens não voam.
Sejamos justos: existia um segundo e imenso best–seller, não tão popular como o livro de Frommer, mas que era consumido por gente que já tinha vivido sua fase socialista, marxista, anarquista — todas terminando em uma profunda desilusão com o sistema inventado por aqueles que diziam que era “inevitável a tomada do poder pelos trabalhadores no mundo inteiro”. Ou que “a religião é o ópio do povo”, provando que quem dissera frase tão estúpida não entendia de povo e muito menos de ópio. Porque entre as crenças dos jovens malvestidos, de roupas diferentes, estavam Deus, deuses, deusas, anjos e coisas do tipo. O único problema era que tal livro, chamado O despertar dos mágicos, de autoria do francês Louis Pauwelse do soviético Jacques Bergier — matemático, ex-espião, pesquisador incansável de ocultismo — dizia exatamente o contrário dos manuais políticos: o mundo está composto de coisas interessantíssimas, existem alquimistas, magos, cátaros, templários, e outras palavras que faziam com que nunca fosse um grande sucesso de livraria, porque um exemplar era lido por — no mínimo — dez pessoas, dados eu custo exorbitante. Enfim, Machu Picchu estava no livro, e todos queriam ir até lá, no Peru, e ali estavam jovens do mundo inteiro (bem, do mundo inteiro é um pouco de exagero, porque os que viviam na União Soviética não tinham assim tanta facilidade para sair dos seus países).
Mas, enfim, voltando ao assunto: jovens de todos os lugares do mundo, que conseguiam pelo menos um bem inestimável chamado “passaporte”, encontravam-se nas chamadas “trilhas hippies”. Ninguém sabia exatamente o que a palavra “hippie” queria dizer, e isso não tinha a menor importância. Talvez seu significado fosse “uma grande tribo sem líder” ou “marginais que não assaltam”, ou todas as descrições já feitas logo na abertura deste capítulo.
Os passaportes, essas pequenas cadernetas fornecidas pelo governo, colocados em uma bolsa presa na cintura junto com o dinheiro (se pouco ou muito era irrelevante) tinham duas finalidades. A primeira, como todos sabemos, era poder atravessar fronteiras — desde que os guardas não se deixassem levar pelas notícias que liam e não resolvessem mandar a pessoa de volta porque não estavam acostumados com aquelas roupas e aqueles cabelos e aquelas flores e aqueles colares e aquelas miçanga se aqueles sorrisos de quem parecia estar em um constante estado de êxtase — normalmente, ainda que de forma injusta, atribuídos às drogas demoníacas que, dizia a imprensa, os jovens consumiam em quantidades cada vez maiores.
A segunda função do passaporte era livrar seu portador de situações extremas — quando o dinheiro acabava por completo e ele não tinha a quem recorrer. O tal “Correio Invisível” sempre fornecia a informação necessária dos locais onde ele poderia ser vendido. O preço variava de acordo com o país: um passaporte da Suécia, onde todos eram louros, altos e de olhos claros, valia muito pouco — já que só poderia ser revendido a louros, altos, de olhos claros, e esses geralmente não estavam na lista dos mais requisitados. Mas um passaporte do Brasil valia uma fortuna no mercado negro — por ser um país que, além de louros, altos e de olhos claros, também tem negros altos e baixos de olhos escuros, orientais de olhos rasgados, mulatos, índios, árabes, judeus, enfim, um imenso caldo de cultura que terminava resultando em um dos mais cobiçados documentos do planeta.
Uma vez vendido o passaporte, o portador original ia até o consulado do seu país e, fingindo terror e depressão, dizia que tinha sido assaltado e que roubaram tudo — estava sem dinheiro e sem passaporte. Os consulados de países mais ricos ofereciam passaporte e passagem gratuita de volta ao local de origem, o que era imediatamente rejeitado, sob a alegação de que “alguém está me devendo uma boa quantia, preciso antes receber o que é meu”. Os países pobres, normalmente submetidos a severos sistemas de governo, nas mãos de militares, faziam um verdadeiro interrogatório para ver se o requerente não estava na lista de “terroristas” procurados por subversão. Uma vez que constatavam que a moça (ou o rapaz) tinha ficha limpa, eram obrigados, contra a vontade, a fornecer o documento. Nem sequer ofereciam passagem de volta, porque não havia interesse em ter aquelas aberrações influenciando uma geração que estava sendo educada respeitando Deus, a família e a propriedade.
Voltando às trilhas: depois de Machu Picchu foi a vez de Tiahuanaco, na Bolívia. Em seguida, Lhasa, no Tibete, onde era muito difícil de entrar porque havia, segundo o “Correio Invisível”, uma guerra entre os monges e os soldados chineses. Claro que era difícil imaginar essa guerra, mas todo mundo acreditava e não iria arriscar uma longuíssima viagem apenas para terminar prisioneiro dos monges ou dos soldados. Por fim os grandes filósofos da época, que haviam se separado justamente em abril daquele ano — pouco tempo antes anunciaram que a grande sabedoria do planeta estava na Índia. Foi o bastante para que jovens do mundo inteiro se dirigissem ao país em busca de sabedoria, conhecimento, gurus, votos de pobreza, iluminação, encontro com o My Sweet Lord.
O “Correio Invisível”, porém, avisou que o grande guru dos Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, havia tentado seduzir e ter relações sexuais com Mia Farrow, uma atriz que no decorrer dos anos tivera sempre experiências amorosas infelizes e fora para a Índia a convite dos Beatles, possivelmente para curar-se dos traumas relacionados à sexualidade, que pareciam persegui-la como um carma ruim.
Mas tudo indica que o carma de Mia Farrow iria também viajar para o mesmo lugar, junto com John, Paul, George e Ringo. Segundo ela, estava meditando na caverna do grande guru quando ele a agarrou e tentou forçá-la a ter relações sexuais. A essa altura, Ringo já tinha voltado para a Inglaterra porque sua mulher detestava comida indiana, e Paul também resolveu abandonar o retiro, convencido de que aquilo não o estava levando a lugar nenhum.
Apenas George e John permaneciam no templo de Maharishi quando Mia os procurou, em lágrimas, e contou o que tinha acontecido. Imediatamente os dois arrumaram suas malas e, quando o Iluminado veio perguntar o que estava acontecendo, a resposta de Lennon foi contundente:
“Você não é iluminado pra c***? Então sabe muito bem.”
Ora, em setembro de 1970 as mulheres dominavam o mundo — melhor dizendo, as jovens hippies dominavam o mundo. Os homens andavam de lá para cá sabendo que o que as seduzia não era a moda — elas eram muito melhores que eles no assunto —, de modo que resolveram aceitar de uma vez por todas que eram dependentes, viviam com o ar de abandono e o pedido implícito de “proteja-me, estou sozinho e não consigo encontrar ninguém, acho que o mundo me esqueceu e o amor me abandonou para sempre”. Elas escolhiam seus machos e nunca pensavam em casar, apenas em passar um tempo agradável e divertido com um sexo intenso e criativo. E, tanto em coisas importantes como superficiais e irrelevantes, a voz definitiva era mesmo delas. Portanto, quando o “Correio Invisível” espalhou a notícia do assédio sexual de Mia Farrow e da frase de Lennon, imediatamente decidiram mudar de rota.
Outra trilha hippie foi criada: de Amsterdam (Holanda) até Kathmandu (Nepal), em um ônibus cuja passagem custava aproximadamente cem dólares e atravessava países que deviam ser muito interessantes: Turquia, Líbano, Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão e parte da Índia (bem longe do templo de Maharishi, diga-se de passagem). A viagem demorava três semanas e percorria um número absurdo de quilômetros.
Karla estava sentada no Dam, se perguntando quando o sujeito que deveria acompanhá-la nessa mágica aventura (segundo ela, claro) ia chegar. Abandonara seu emprego em Rotterdam, que estava a apenas uma hora de trem, mas como precisava economizar cada centavo viera de carona, e a viagem demorara quase um dia. Descobrira a jornada de ônibus para o Nepal em uma das dezenas de jornais alternativos feitos com muito suor, amor e trabalho por gente que achava ter algo a dizer para o mundo, e em seguida vendidos por uma quantia insignificante.
Depois de uma semana esperando, começou a ficar nervosa. Tinha abordado uma dezena de rapazes do mundo inteiro, interessados apenas em ficar ali, naquela praça sem o menor atrativo além de um monumento em forma de falo, o que pelo menos deveria estimular a virilidade e a coragem. Mas não; nenhum deles estava disposto a ir para lugares tão desconhecidos.
Não se tratava de distância: a maioria era dos Estados Unidos, da América Latina, da Austrália e de outros países que exigiam dinheiro para as passagens caríssimas de avião e muitos postos de fronteira onde poderiam ser barrados e ter que voltar para seus locais de origem sem conhecer uma das duas capitais do mundo. Chegavam ali, sentavam-se na praça sem graça, fumavam marijuana, alegravam-se porque podiam fazer isso sob a vista de policiais, e começavam a ser literalmente sequestrados por seitas a cultos que abundavam na cidade. Esqueciam pelo menos por algum tempo o que viviam escutando: meu filho você tem que ir para a universidade, cortar esse cabelo, não envergonhe seus pais porque os outros (os outros?) vão dizer que lhe demos uma péssima educação, isso que você escuta NÃO é música, já é hora de arranjar um trabalho, ou veja o exemplo do seu irmão (ou irmã) que mesmo mais jovem que você já tem dinheiro suficiente para sustentar seus prazeres e não precisam pedir nada para nós.
Longe da eterna ladainha da família, eram agora pessoas livres, e a Europa era um lugar seguro (desde que não se aventurassem a atravessar a famosa Cortina de Ferro, “invadindo” um país comunista), e eles estavam contentes, porque em viagem se aprende tudo que será necessário para o resto da vida, desde que não precisem explicar isso aos pais.
“Meu pai, eu sei que você quer que eu tenha um diploma, mas isso eu posso ter a qualquer momento da vida, o que preciso agora é experiência”. Não havia pai que entendesse esta lógica, e só restava mesmo juntar algum dinheiro, vender alguma coisa, e sair de casa quando eles estavam dormindo.
Tudo bem, Karla estava cercada de pessoas livres e determinadas a viver coisas que a maioria não teria coragem de experimentar. Mas por que não ir de ônibus para Kathmandu? Porque não é Europa, respondiam. É completamente desconhecida para nós. Se acontecer alguma coisa, sempre podemos ir até o consulado e pedir para sermos repatriados (Karla não conhecia um só caso em que isso tivesse ocorrido, mas essa era a lenda, e a lenda vira verdade quando é muito repetida).
No quinto dia esperando aquele que designaria como seu “acompanhante”, começou a ficar desesperada — estava gastando dinheiro em um dormitório, quando podia facilmente dormir no Magic Bus (esse era o nome oficial do ônibus de cem dólares e milhares de quilômetros). Resolveu entrar no consultório de uma vidente onde passava sempre antes de ir para o Dam. O local, como sempre, estava vazio — em setembro de 1970 todo mundo tinha poderes paranormais ou os estavam desenvolvendo. Mas Karla era uma mulher prática e, embora também meditasse todos os dias e estivesse convencida que havia começado a desenvolver sua terceira visão — um ponto invisível que fica entre os olhos —, até o momento só tinha encontrado rapazes errados, mesmo que sua intuição garantisse que eram certos.
Portanto, resolveu apelar para a vidente, sobretudo porque aquela espera sem fim (já se haviam passado quase uma semana, uma eternidade!) a estava levando a considerar seguir adiante com uma companhia feminina, o que podia ser um suicídio, sobretudo porque atravessariam muitos países onde duas mulheres sozinhas seriam no mínimo mal vistas e, na pior das hipóteses, segundo sua avó, terminariam sendo vendidas como “escravas brancas” (o termo, para ela, era erótico, mas não queria experimentar na própria carne).
A vidente, que se chamava Layla e era um pouco mais velha que Karla, toda vestida de branco e com um sorriso beatífico de quem vive em contato com o Ser Superior, a recebeu com uma reverencia (devia estar pensando “enfim vou ganhar dinheiro para pagar o aluguel em dia”), pediu que sentasse, ao que ela obedeceu, e a mulher a elogiou porque tinha justamente escolhido o ponto de poder a sala. Karla fingiu para si mesma que realmente estava conseguindo abrir sua terceira visão, mas seu subconsciente a avisou que Layla devia dizer isso a todos — ou melhor aos poucos que entravam ali.
Enfim, isso não vinha ao caso. Um incenso foi aceso (“veio do Nepal”, comentou a vidente, mas Karla sabia que tinha sido fabricado ali perto — incensos eram uma das grandes indústrias hippies, junto com colares, camisetas batik e patches com símbolo hippie ou flores, ou a frase “Flower Power” para colocar na roupa). Layla pegou um baralho e começou a embaralhar, pediu que Karla cortasse ao meio, colocou três cartas e começou a interpretá-las da maneira mais tradicional possível. Karla a interrompeu.
Não foi para isso que vim até aqui. Quero saber apenas se vou encontrar companhia para ir ao mesmo lugar de onde você disse…” — enfatizou bastante o de onde você disse, porque não queria um carma ruim. Se tivesse dito apenas quero ir para o mesmo lugar, talvez terminasse em um dos subúrbios de Amsterdam, onde ficava a fábrica de incensos — “…de onde você disse que o incenso veio.”
Layla sorriu, embora a vibração tenha mudado por completo — seu interior fervia de raiva por ter sido interrompida em um momento tão solene.
“Sim, claro que vai.” Faz parte do dever das videntes e cartomantes sempre dizerem aquilo que os clientes querem ouvir.
“E quando?”
“Antes que o dia de amanhã termine.”
As duas ficaram surpresas.
Karla pela primeira vez sentiu que a outra estava falando a verdade, porque o tom era positivo, enfático, como se a voz viesse de outra dimensão. Layla, por seu lado, ficou assustada — nem sempre as coisas aconteciam assim, e quando aconteciam ela ficava com medo de ser punida por entrar sem muita cerimonia naquele mundo que parecia falso e verdadeiro, embora se justificasse todas as noites em suas orações, dizendo que tudo o que estava fazendo na terra era ajudar os outros proporcionando mais positividade aos que queriam acreditar.
Karla levantou imediatamente do “ponto de poder”, pagou meia consulta e saiu antes que o sujeito que estava esperando chegasse. “Antes que o dia de amanhã termine” era vago, podia ser o dia de hoje. Mas, de qualquer maneira, sabia que agora estava esperando alguém.
Voltou para seu lugar no Dam, abriu o livro que estava lendo e que poucos conheciam — o que dava ao seu autor o status de “cult” — O senhor dos anéis,de J. R. R. Tolkien, que fala de lugares míticos como o que ela pretendia visitar. Fingiu que não escutava os rapazes que volta e meia vinham perturbá-la com uma pergunta idiota, um pretexto frágil para puxar uma conversa ainda mais frágil.
Paulo e o argentino já tinham conversado tudo o que era possível conversar e agora olhavam aqueles terrenos planos sem na verdade estarem ali — junto com eles viajavam lembranças, nomes curiosidade e sobretudo um imenso medo do que poderia acontecer na fronteira da Holanda, provavelmente a uns vinte minutos de distância.
Paulo começou a tentar colocar seu longo cabelo dentro da jaqueta.
“E você acha que vai enganar os guardas com isso?”, perguntou o argentino. “Eles estão acostumados com tudo, absolutamente tudo.”
Paulo desistiu da ideia. Perguntou se o argentino não estava preocupado.
“Claro que estou. Principalmente porque já tenho dois carimbos de entrada na Holanda. Então eles desconfiam que estou vindo com muita frequência. E isso só pode significar uma coisa”.
Tráfico. Mas pelo que Paulo sabia, a droga ali era livre.
“Claro que não. Os opiáceos sofriam repressão pesada. Idem para cocaína. Claro LSD não tem como controlar, porque basta página de livro ou um pedaço de tecido na mistura, e depois recortar e vender os pedacinhos. Mas tudo que é detectável pode levar à prisão.”
Paulo achou melhor parar aquela conversa por ali, porque tinha uma imensa curiosidade em perguntar se o argentino estava levando alguma coisa, mas o simples fato de saber já o tornava cúmplice de um crime. Tinha sido preso uma vez — embora fosse completamente inocente em pais que tinha um decalque em todas as portas de aeroportos: “Brasil: ame-o ou deixe-o”.
Como sempre acontece com pensamentos que tentamos afastar da cabeça por carregarem uma negatividade imensa — o que atrai ainda mais energias diabólicas —, o simples fato de ter lembrado do ocorrido em 1968 não apenas fez seu coração disparar, mas reviver em detalhes aquela noite em um restaurante em Ponta Grossa, no Paraná — um estado brasileiro conhecido por fornecer passaportes de pessoas louras e de olhos claros;
Estava voltando de sua primeira longa viagem na trilha hippie da moda. junto com sua namorada — onze anos mais velha, nascida e crescida no regime comunista da Iugoslávia, filha de uma família nobre que tinha perdido tudo, mas lhe dado uma educação que lhe permitia falar quatro linguás, fugida para o brasil, casada com milionário em comunhão de bens, e separada quando descobriu que ele já a considerava “velha ” em seus 33 anos e agora andava com uma menina de dezenove, cliente de um excelente advogado que conseguiu uma indenização suficiente para não precisar trabalhar um dia sequer o resto da vida —, os dois haviam haviam partido para Machu Picchu em um transporte conhecido como Trem da Morte, em uma composição ferroviária bastante diferente daquela em que estava agora.
“Por que o chamam de Trem da Morte?”, perguntou a namorada ao homem encarregado de verificar os bilhetes. “Não estamos passando por muitos precipícios.”
Paulo não tinha o menor interesse na resposta, mas ela veio assim mesmo.
“Antigamente, a composição era usada para transportar leprosos, doentes e corpos das vítimas de uma grave epidemia de febre amarela que se abateu sobre a região de Santa Cruz”.
“Imagino que tenham feito um excelente trabalho de sanitização dos vagões.”
“Desde então, excerto por um ou outro mineiro que resolve acertar as contas, ninguém mais ficou doente”.
Os mineiros a que ele se referia eram os nascidos em Minas Gerais, no Brasil, mas os que trabalhavam dia e noite nas minas de estanho da Bolívia. Bem, estavam em um mundo civilizado, esperava que ninguém resolvesse acertar contas naquele dia. Para a tranquilidade dos dois, a maioria dos passageiros era do sexo feminino, com seus chápeus-coco e roupas coloridas.
Chegaram a La Paz, a capital do país, cuja altitude é de 3610 metros, mas, como tinham subido de trem, não sentiram muito os efeitos do ar rarefeito. Mesmo assim, ao descerem na estação, viram um jovem com roupas que identificavam a tribo a que ele pertencia, sentado no chão e meio desorientado. Perguntaram o que acontecia (“não consigo respirar direito”). Um homem que passava sugeriu que mascassem folha de coca, o costume tribal que ajudava os habitantes a enfrentar a altitude, vendidas livremente nos mercados de rua. O rapaz já se sentia melhor e pediu que o deixassem sozinho — estava indo para Machu Picchu naquele dia mesmo.
A recepcionista do hotel que escolheram chamou sua namorada para o lado, disse algumas palavras e em seguida fez o registro. Subiram para o quarto e dormiram na hora, não sem antes Paulo perguntar o que ela havia falado:
“Nada de sexo nos primeiros dias.”
Era fácil entender. Não havia a menor disposição para nada.
Ficaram dois dias sem sexo na capital da Bolívia, sem nenhum efeito colateral de falta de oxigênio, o chamado Soroche. Tanto ele como a namorada atribuíram aos efeitos terapêuticos da folha de coca, que na verdade não tinha absolutamente nada a ver com isso; o soroche ocorre em pessoas que saem do nível do mar e sobem de repente para grandes altitudes — ou seja, de avião — sem dar tempo ao organismo de se acostumar-se. E os dois haviam passado sete longos dias subindo no Trem da Morte. Muito melhor para adaptar-se ao local e muito mais seguro do que o transporte aéreo — pois Paulo viu no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra um monumento aos “heroicos pilotos da companhia, que sacrificaram suas vidas no cumprimento do dever”.
Em La Paz encontraram os primeiros hippies —que, como uma tribo global consciente da responsabilidade e solidariedade que necessitavam ter uns com os outros, usavam sempre o famoso símbolo da runa viking invertida. No Caso da Bolívia, um país onde todos portavam ponchos, jaquetas, camisas e paletós coloridos, era praticamente impossível saber quem era quem sem a ajuda da runa costurada nos casacos ou calças.

Esses primeiros hippies eram dois alemães e uma canadense. A namorada, que falava alemão, logo foi convidada para dar um passeio pela cidade, enquanto ele e a canadense olhavam um para o outro sem saber exatamente o que dizer. Quando meia hora depois, os três voltaram do passeio, decidiram que deviam partir logo em vez de ficar gastando dinheiro ali: seguiriam para o lago mais alto do mundo, cruzariam de navio suas águas, desembarcariam na outra extremidade, já em território peruano, e seguiriam direto para Mach Picchu.
Tudo teria corrido de acordo com os planos se, ao chegarem à margem do Titicaca (o tal lago mais alto do mundo), não tivessem dado de frente com um monumento antiquíssimo, conhecido como Porta do Sol. Reunidos em torno dela estavam mais hippies, de mãos dadas, em um ritual que eles não queriam interromper e ao mesmo tempo gostariam de participar.
Uma moça os viu, os chamou silenciosamente com um aceno de cabeça, e os quatro puderam sentar-se junto com os outros.
Não era preciso explicar a razão por estarem ali; a porta falava por si mesma. Havia uma rachadura bem no centro do travessão superior, possivelmente causada por um raio, mas o resto era um verdadeiro esplendor de baixos-relevos, contando histórias de um tempo já esquecido, mas ainda presentes, querendo ser lembradas e descobertas de novo. Fora esculpida em uma única pedra, e no travessão superior estavam os anjos, os senhores, os símbolos perdidos de uma cultura que, segundo os locais, marcam a maneira de recuperar o mundo caso seja destruído pela avidez humana. Paulo, que através da abertura da porta podia ver o lago Titicaca à distância, começou a chorar, como se estivesse em contato com seus construtores — gente que abandonou o lugar às pressas, antes mesmo de terminar o trabalho, temendo alguma coisa ou alguém que apareceu, pedindo que parassem. A moça que os havia chamado para a roda sorriu, também com lágrimas nos olhos. O resto estava de olhos fechados, conversando com os antigos, procurando saber o que os tinha levado até ali, respeitando o mistério.
Quem quer aprender magia deve começar olhando à sua volta. Tudo o que Deus quis dizer ao ser humano colocou bem na sua frente, a chamada Tradição do Sol.
A Tradição do Sol é democrática — não foi feita para os estudiosos ou puros, mas para as pessoas comuns. O poder está em todas as pequenas coisas que fazem parte do caminho de um homem; o mundo é uma sala de aula, o Amor Supremo sabe que você está vivo e vai lhe ensinar.
E todos estavam em silêncio, prestando atenção a algo que não conseguiam entender direito, mas que sabiam que era verdade. Uma das moças cantou uma música em uma língua que Paulo não conseguia entender. Um rapaz — talvez o mais velho de todos — levantou, abriu os braços e fez uma invocação:
E exatamente nesse momento ouviu-se o apito de um barco, que na verdade era um navio construído na Inglaterra, desmontado e transportado até uma cidade no Chile, carregado em peças por mulas até os 3800 metros de altura onde se encontra o lago.
Todos embarcaram em direção à antiga cidade perdida dos incas.
Passaram ali dias inesquecíveis — porque raramente alguém conseguia chegar ao lugar, apenas aqueles que eram as crianças de Deus, os livres de espírito e dispostos a enfrentar sem medo o desconhecido.
Dormiram nas casas abandonadas e sem teto olhando as estrelas, fizeram amor, comeram o que haviam trazido de alimento, banharam-se todos os dias completamente nus no rio que corria embaixo da montanha, conversaram sobre a possibilidade de os deuses de fato terem sido astronautas e chegado à Terra naquela região. Todos tinham lido o mesmo livro do suíço que costumava interpretar os desenhos incas como se tentassem mostrar os viajantes das estrelas, assim como tinham lido Lobsang Rampa, o monge do Tibete que falava da abertura da terceira visão — até que um inglês contou a todos reunidos na praça central de Machu Picchu que o tal monge chamava-se Cyril Henry Hoskins e era um encanador do interior da Inglaterra cuja identidade tinha sido recentemente descoberta e cuja autenticidade já havia sido desmentida pelo dalai-lama.
O grupo inteiro ficou bastante desapontado, sobretudo porque, como Paulo, estava convencido de que existia mesmo uma glândula entre os dois olhos, chamada pineal, cuja verdadeira utilidade ainda não tinha sido descoberta pelos cientistas. Portanto, a terceira visão existia — embora não da forma como Lobsang Cyril Rampa Hoskins havia descrito.
Na terceira manhã, a namorada resolveu voltar para casa e também resolveu — sem deixar nenhuma margem a dúvidas — que Paulo devia acompanhá-la. Sem se despedirem ou olharem para trás, partiram antes que o sol nascesse e passaram dois dias descendo a face leste da cordilheira em um ônibus repleto de gente, animais domésticos, comida, artesanato. Paulo aproveitou para comprar uma bolsa colorida, que podia dobrar e colocar dentro de sua mochila. Também decidiu que jamais tornaria a fazer viagens de ônibus que durassem mais que um dia.
De Lima pegaram carona para Santiago do Chile — o mundo era seguro, os carros paravam, embora sentissem certo medo do casal, pela maneira como estavam vestidos. Ali, depois de uma noite bem dormida, pediram a alguém para desenhar um mapa mostrando como cruzar a cordilheira de volta através de um túnel que unia o país com a Argentina. Seguiram em direção ao Brasil — de novo de carona, porque a namorada dizia que o dinheiro que ainda guardava podia ser necessário para alguma emergência médica — ela sempre prudente, sempre mais velha, sempre com sua educação comunista prática que nunca a deixava relaxar por completo.
Já no Brasil, no estado onde a maioria que tira passaportes é loura e de olhos azuis, resolveram parar mais uma vez, por sugestão da namorada.
“Vamos conhecer Vila Velha. Dizem que é um lugar fantástico.”
Não viram o pesadelo.
Não pressentiram o inferno.
Não se prepararam para o que os estava esperando.
Tinham passado por vários lugares fantásticos, únicos, com alguma coisa já dizendo que terminariam sendo destruídos no futuro por hordas de turistas que só pensavam em comprar e comparar as delícias de sua própria casa. Mas amaneira como a namorada falou não deixava margem a dúvidas, não havia ponto de interrogação no final da frase, era apenas uma forma de comunicá-lo. Vamos conhecer Vila Velha, claro. Um lugar fantástico. Um sítio geológico com impressionantes esculturas naturais, esculpidas pelo vento — que a prefeitura da cidade mais próxima tentava a todo custo promover, gastando uma fortuna. Todos sabiam que Vila Velha existia, porém alguns mais desavisados iam parar numa praia em um estado próximo ao Rio de Janeiro, e outros achavam muito interessante, mas muito trabalhoso ir até o lugar onde estava situada.
Paulo e a namorada eram os únicos visitantes do local e ficaram impressionados como a natureza consegue criar cálices, tartarugas, camelos — melhor dizendo, como somos capazes de dar nomes a tudo, mesmo que o tal camelo na verdade parecesse uma romã para a namorada e uma laranja para ele. Enfim, ao contrário do que viram em Tiahuanaco, as tais esculturas em arenito estavam abertas a todo tipo de interpretação.
Dali pegaram outra carona até a cidade mais próxima. A namorada, sabendo que faltava pouco tempo para chegar em casa, decidiu — realmente ela era quem decidia tudo — que naquela noite iriam, pela primeira vez em muitas semanas, dormir em um bom hotel e comer carne no jantar! Carne, uma das tradições daquela região do Brasil, algo que não provavam desde que saíram de La Paz — o preço sempre parecia exorbitante.
Foram registrados em um hotel de verdade, tomaram banho, fizeram amor e desceram para a portaria, com a intenção de perguntar sobre algum bom restaurante onde podiam comer a quantidade que quisessem, em um sistema conhecido como rodízio.
Enquanto aguardavam que o porteiro aparecesse, dois homens se aproximaram e pediram, sem nenhuma educação, que os acompanhasse ao lado de fora do hotel. Ambos tinham as mãos no bolso, como se estivessem segurando uma arma, e queriam deixar isso bem claro.
“Fiquem calmos”, disse a namorada, convencida que estavam sendo assaltados. “Tenho lá em cima um anel de brilhantes”.
”Mas já estavam sendo segurados pelo braço e empurrados para fora —separados imediatamente um do outro. Na rua deserta estavam dois carros sem marca nenhuma, e mais outros dois homens — um deles apontando a arma para o casal.
“Não se movam, não façam nenhum movimento suspeito. Vamos revistá-los.”
E começaram, de maneira bruta, a tocar os corpos dos dois. A namorada ainda tentou dizer alguma coisa, enquanto ele entrava em uma espécie de transe, de pavor absoluto. Só o que conseguia fazer era olhar para o lado paraver se alguém que testemunhava a cena terminaria por chamar a polícia.
“Cala a boca, sua puta”, disse um deles. Arrancaram as bolsas que levavam na cintura com passaporte e dinheiro, e cada um foi colocado no banco de trás de um dos carros estacionados. Paulo não teve sequer tempo de ver o que acontecia com a namorada — e tampouco ela sabia o que estava acontecendo com ele.
Ali estava um outro homem.
“Coloque isso”, disse, estendendo para ele um capuz. “E deite no chão do carro.”
Paulo fez exatamente como ordenado. Seu cérebro já não reagia mais. O carro arrancou em alta velocidade. Ele gostaria de ter dito que sua família tinha dinheiro, que pagaria qualquer resgate, mas as palavras não saíam da sua boca.
A velocidade do trem começou a diminuir, o que talvez significasse que estivessem chegando à fronteira da Holanda.
“Está tudo bem com você, cara?”, perguntou o argentino.
Paulo fez um sinal afirmativo com a cabeça, procurando algum assunto para conversarem e assim exorcizar aqueles pensamentos. Já fazia mais de um ano que estivera em Vila Velha, e na maioria das vezes conseguia controlar os demônios da cabeça, mas sempre que a palavra POLÍCIA entrava em sua linha de visão, mesmo que fosse um simples guarda aduaneiro, o pânico voltava. Só que dessa vez o pânico estava sendo acompanhado por uma história inteira, que já contara para alguns amigos, mas sempre se mantendo à distância, como observador de si mesmo. Entretanto, dessa vez — e pela primeira vez — estava contando a história para si mesmo.
“Se eles nos barrarem na fronteira, não tem problema. Vamos para a Bélgica e entramos por outro lugar”, continuou o argentino.
Já não queria muita conversa com o sujeito — a paranoia tinha voltado. E se realmente ele estivesse traficando drogas pesadas? E se concluíssem que era seu cúmplice e resolvessem jogá-lo na prisão — até que pudesse provar sua inocência?
O trem parou. Ainda não era a aduana, mas uma pequena estação no meio de lugar nenhum, onde entraram duas pessoas e saíram cinco. O argentino, vendo que Paulo não estava muito disposto a conversar, resolveu deixá-lo com os seus pensamentos, mas estava preocupado — seu rosto havia mudado por completo. Perguntou só mais uma vez:
“Então, está mesmo tudo bem com você, não é verdade?”
“Estou fazendo um exorcismo.”
Ele entendeu e não disse nada mais.
Paulo sabia que ali, na Europa, aquelas coisas não aconteciam. Ou melhor, já tinham acontecido no passado — e ele sempre se perguntava como as pessoas, caminhando para as câmaras de gás nos campos de concentração, ou alinhadas diante de uma vala comum depois de ver a linha da frente ter sido executada pelo pelotão de fuzilamento, não esboçavam nenhuma reação, não tentavam fugir, não atacavam os executores.
É simples: o pânico é tão grande que elas já não estão mais ali. O cérebro bloqueia tudo, não há nem terror nem medo, apenas uma estranha submissão ao que está acontecendo. As emoções desaparecem para dar lugar a uma espécie de limbo, onde tudo ocorre em uma zona até hoje não explicada pelos cientistas. Os médicos colocam um rótulo, “esquizofrenia temporária causada por estresse”, e jamais se preocupam em examinar exatamente as consequências do flat affect, como chamam. E, talvez para expurgar por completo os fantasmas do passado, reviveu a história até o final.
O homem no banco de trás parecia mais humano do que os outros que os abordaram no hotel.
“Não se preocupe, não vamos matar você. Deite-se no chão do carro.
”Paulo não estava preocupado com nada — sua cabeça já não funcionava. Parecia que tinha entrado em uma realidade paralela, seu cérebro se recusava a aceitar o que estava acontecendo. A única coisa que disse foi perguntar: “Posso segurar na sua perna?
”Claro, respondeu o homem. Paulo o agarrou com força, talvez mais força do que imaginava, talvez o estivesse machucando, mas o outro não reagiu, deixou que continuasse — sabia o que Paulo estava sentindo, e não devia estar nem um pouco contente de ter um rapaz jovem, cheio de vida, passando por aquela experiência. Mas obedecia a ordens.
O carro rodou por um tempo indeterminado e, quanto mais rodava, mais Paulo se convencia que estava sendo levado para a execução. Já conseguia entender um pouco o que estava acontecendo — havia sido capturado por paramilitares e estava oficialmente desaparecido. Mas o que interessava isso agora?
O carro parou. Ele foi retirado com brutalidade e empurrado pelo que parecia ser uma espécie de corredor. De repente seu pé bateu em algo no chão, uma espécie de trave.
“Por favor, mais devagar”, pediu.
Foi quando levou o primeiro soco na cabeça.
“Cala a boca, terrorista!”
Caiu no chão. Mandaram que levantasse e tirasse a roupa por completo, tomando muito cuidado para que o capuz não saísse. Ele fez o que ordenavam. Imediatamente começou a apanhar e, como não sabia de onde estavam vindo os golpes, o corpo não podia se preparar, e os músculos não conseguiam se contrair, de modo que a dor era mais intensa do que jamais havia experimentado em qualquer uma das brigas em que se metera durante a juventude. Caiu de novo, e os socos foram substituídos por chutes. O espancamento durou uns dez ou quinze minutos, até que uma voz ordenou que parassem.
Estava consciente, mas não sabia se havia quebrado algo, porque não conseguia se mexer de tanta dor. Mesmo assim, a voz que ordenara o final da primeira tortura pediu para que ele ficasse de novo de pé. E começou a fazer uma série de perguntas sobre guerrilha, sobre comparsas, sobre o que fora fazer na Bolívia, se estava em contato com os companheiros de Che Guevara, onde estavam escondidas as armas, ameaçando arrancar seu olho assim que tivessem certeza do seu envolvimento. Outra voz, a do chamado “bom policial”, disse o contrário. Que era melhor que confessasse o assalto que tinham feito em um banco da região — assim tudo estaria esclarecido, Paulo seria colocado na prisão por seus crimes, mas não apanharia mais.
Foi nesse momento, enquanto levantava com muita dificuldade, que ele começou a deixar o estado letárgico em que se encontrava e voltou a ter algo que sempre julgou parte das qualidades do ser humano: o instinto de sobrevivência. Ele precisava sair daquela situação. Precisava dizer que era inocente.
Pediram que ele contasse tudo que fizera na semana anterior. Paulo narrou em detalhes, embora consciente de que eles jamais tinham ouvido falar de Machu Picchu.
“Não perca tempo tentando nos enganar”, disse o “mau policial”. “Nós achamos o mapa no seu quarto de hotel. Você e a loura foram vistos no lugar do assalto.”
Mapa?
Pela fresta do capuz o homem mostrou o desenho que alguém no Chile tinha feito, indicando onde se encontrava o túnel que atravessa a cordilheira dos Andes.
“Os comunistas acham que vão ganhar as próximas eleições. Que Allende irá usar o ouro de Moscou para corromper toda a América Latina. Mas está muito enganado. Qual é sua posição na aliança que eles estão formando? E quais são seus contatos no Brasil?”
Paulo implorava, jurava que nada daquilo era verdade, que era apenas uma pessoa procurando viajar e conhecer o mundo — ao mesmo tempo em que perguntava o que estavam fazendo com sua namorada.
“A que foi enviada de um país comunista, da Iugoslávia, para acabar com a democracia no Brasil? Ela está tendo o tratamento que merece”, foi a respostado “mau policial”.
O terror ameaçou voltar, mas ele precisava de autocontrole. Precisava saber como sair daquele pesadelo. Precisava acordar.
Alguém colocou uma caixa com fios e uma manivela entre seus pés. Outro comentou que chamavam aquilo de “telefone” — bastava prender os jacarés metálicos no corpo e girar a manivela e Paulo levaria um choque que “não havia macho que resistisse”.
E de repente, vendo aquela máquina, lhe ocorreu a única saída que tinha. Deixou a submissão de lado e levantou a voz:
“Vocês acham que eu tenho medo de choque? Vocês acham que tenho medo de dor? Pois não se preocupem — eu vou torturar a mim mesmo. Já estive internado em um manicômio não uma, não duas, mas três vezes; já levei muito choque elétrico, então posso fazer esse trabalho para vocês. Vocês devem saber disso, imagino que saibam tudo da minha vida.”
E, dito isso, começou a unhar seu corpo e arrancar sangue, pele, enquanto gritava que eles sabiam tudo, que podiam matá-lo que não estava nem ligando, acreditava em reencarnação e viria buscá-los. A eles e suas famílias, assim que chegasse ao outro mundo.
Alguém veio e segurou suas mãos. Todos pareciam assustados com o que ele estava fazendo, embora ninguém tenha dito nada.
“Pare com isso, Paulo”, disse o “bom policial”. “Pode me explicar o mapa?”
Paulo falava com voz de quem estava tendo um surto de loucura. Explicou aos gritos o que ocorrera em Santiago — precisavam de orientação para chegar até o túnel que unia Chile e Argentina.
“E minha namorada, onde está minha namorada?
”Gritava cada vez mais alto, na esperança de que ela pudesse escutar. O “bom policial” tentava acalmá-lo — pelo visto, no início dos anos de chumbo, a repressão ainda não tinha se brutalizado o suficiente.
Pediu que parasse de tremer, que se fosse inocente não havia motivo de preocupações, mas que antes precisavam apurar tudo que ele havia dito —portanto teria que permanecer ali ainda algum tempo. Não disse quanto, mas ofereceu um cigarro. Paulo notou que as pessoas saíam da sala, já não estavam tão interessadas nele.
“Você espera que eu saia e vai ouvir a porta bater. Então pode tirar o capuz. Cada vez que alguém vier aqui e bater na porta, torne a colocá-lo. Assim que tivermos todas as informações necessárias, você será liberado.”
“E minha namorada?”, ele repetia, aos gritos.
Não merecia isso. Por pior filho que tivesse sido, por mais dores de cabeça que tivesse dado aos pais, ele não merecia isso. Era inocente — mas, se naquele momento tivesse uma arma na mão, seria capaz de atirar em todos ali. Não existe sensação mais horrorosa que ser punido por algo que nunca fez.
“Não se preocupe. Não somos monstros estupradores. Estamos apenas querendo acabar com aqueles que tentam acabar com o país.”
O homem saiu, bateu a porta, e Paulo tirou o capuz. Estava em uma sala à prova de som, daí o batente que tropeçara quando entrou. Havia um grande vidro opaco do lado direito — que devia servir para monitorar quem era preso ali. Havia dois ou três buracos de bala na parede, e um deles parecia ter um cabelo saindo. Mas era preciso fingir que não estava interessado em nada disso. Olhou para seu corpo, para as cicatrizes com o sangue que ele mesmo havia derramado, apalpou cada parte e viu que não tinham quebrado nada — eram mestres em não deixar marcas permanentes, e talvez sua reação os tenha assustado justamente por isso.
Imaginou que o próximo passo seria entrar em contato com o Rio de Janeiro e confirmar a história das internações, dos choques elétricos, dos passos dele e da namorada — cujo passaporte estrangeiro talvez a protegesse ou a condenasse, porque vinha de um país comunista.Se estivesse mentindo, seria torturado sem parar por muitos dias.
Se estivesse falando a verdade, talvez chegassem à conclusão de que era mesmo um hippie drogado, filho de família rica, e o deixassem sair.
Ele não estava mentindo, e torcia para que descobrissem logo.
Não sabia quanto tempo passou ali — não havia janelas, a luz ficava o tempo inteiro acesa, e o único rosto que pôde ver foi o do fotógrafo do centro de tortura. Quartel? Delegacia? Mandou que tirasse o capuz, colocou a câmera diante do seu rosto, de modo que não mostrasse que estava nu, pediu que ficasse de perfil, tirou outra foto, e saiu sem trocar nenhuma palavra com ele.
Mesmo as batidas na porta não obedeciam a uma regra que lhe permitisse determinar uma rotina — às vezes o café da manhã era seguido pelo almoço apenas com um pequeno intervalo, e o jantar demorava muitíssimo. Quando precisava ir ao banheiro, batia na porta já com o capuz colocado até que, provavelmente através do vidro fosco, eles deduzissem o que queria. Às vezes tentava conversar com o sujeito que o levava até o toalete, mas não havia resposta. Apenas silêncio.
Dormia a maior parte do tempo. Certo dia (ou noite?) começou a tentar usara experiência para meditar ou concentrar-se em algo superior — lembrou que San Juan de La Cruz falava da noite escura da alma, lembrou que monges ficam anos em cavernas no deserto ou nas montanhas do Himalaia —, podia seguir esse exemplo, usar aquilo que estava acontecendo para tentar se transformar em uma pessoa melhor. Deduzia que o porteiro do hotel — ele e a namorada deviam ser os únicos hóspedes — tinha denunciado o casal; em certas horas queria voltar lá e matá-lo assim que fosse solto e, em outras,achava que a melhor maneira de servir a Deus seria perdoá-lo do fundo do coração, porque não sabia o que estava fazendo.
Mas o perdão é uma arte muito difícil, e ele estava procurando um contato com o universo em todas as viagens que havia feito, mas isso não incluía, pelo menos nesse momento da vida, aturar aqueles que sempre riam dos cabelos longos, perguntavam no meio da rua há quanto tempo não tomava banho, diziam que roupas coloridas demonstravam que ele não estava convencido de sua sexualidade, quantos homens já tivera na sua cama, diziam para parar de vagabundagem, largar a droga e ir em busca de um trabalho decente, colaborar para que o país saísse da crise.
O ódio da injustiça, o desejo da vingança e a ausência de perdão não permitiam que se concentrasse o suficiente, e logo a meditação era interrompida por pensamentos sórdidos — e justificados, na sua opinião. Teriam avisado sua família?
Seus pais não sabiam quando ele pretendia voltar, portanto não deviam estranhar a ausência prolongada. Os dois culpavam sempre o fato de ele ter uma namorada onze anos mais velha, que tentava usá-lo para seus desejos inconfessáveis, para quebrar a rotina de socialite frustrada, estrangeira no país errado, de manipuladora de rapazes que precisavam de uma mãe postiça, e não de uma companheira — como todos os seus amigos, como todos os seus inimigos, como todo o resto do mundo que seguia adiante sem causar problemas a ninguém, sem obrigar a família a dar explicações, sem ser olhada como aqueles que não conseguiram educar direito seus filhos. A irmã de Paulo estava fazendo faculdade de engenharia química e destacando-se como uma das mais brilhantes alunas, mas ela não era motivo de orgulho, seus pais estavam muito mais preocupados em colocá-lo no mundo deles.
Enfim, depois de um tempo, cuja duração era impossível estimar, Paulo começou a achar que merecia exatamente o que estava acontecendo. Alguns de seus amigos tinham entrado para a luta armada e sabiam o que os esperava, e ele tinha pagado apenas as consequências — aquilo devia ser um castigo dos céus, não dos homens. Pelas muitas tristezas que causou, merecia estar nu, no chão de uma cela, olhando para dentro de si e não encontrando nenhuma força, nenhum consolo espiritual, nenhuma voz que lhe falasse como havia acontecido na Porta do Sol.
E a única coisa que fazia era dormir. Sempre pensando que ia despertar de um pesadelo e sempre acordando no mesmo lugar, e no mesmo chão. Sempre achando que o pior já havia passado, e sempre despertando suado, com medo, cada vez que escutava a batida na porta — talvez não tivessem encontrado nada do que ele contara, e a tortura voltaria com mais violência.
Alguém bateu na porta — Paulo tinha acabado de jantar, mas já sabia que eles poderiam lhe servir o café da manhã e assim o desorientar ainda mais.Colocou o capuz, escutou a porta sendo aberta e alguém jogando coisas no chão.
“Vista-se. Cuidado para não mover o capuz.”
Era a voz do “bom policial”, ou do “bom torturador”, como preferia chamá-lo em seus pensamentos. Continuou ali enquanto Paulo se vestia e calçava os sapatos. Quando terminou, o homem o pegou pelo braço, pediu que tivesse cuidado com o travessão inferior da porta (por onde já havia passado muitas vezes quando ia ao banheiro, mas talvez o outro sentisse necessidade de dizer alguma coisa gentil) e o lembrou que as únicas cicatrizes que tinha haviam sido causadas por si mesmo.
Caminhamos uns três minutos, e outra voz falou: “A Variant aguarda no pátio”.
Variante? Mais tarde percebeu que era uma marca de carro, mas naquele momento imaginou que fosse um código secreto, algo como “o pelotão de fuzilamento já está pronto”.
Foi conduzido até o veículo e por debaixo do capuz lhe deram um papel e uma caneta. Nem pensava em ler, ia assinar o que quisessem, uma confissão que pelo menos acabasse com aquele isolamento enlouquecedor. Mas o “bom torturador” explicou que era a lista dos seus pertences, encontrados no hotel.
As mochilas estavam no porta-malas. As mochilas! Aquilo foi falado no plural. Mas ele estava tão entorpecido que não notou.
Fez o que lhe mandaram. A porta do outro lado se abriu. Pela fresta do capuz Paulo notou a roupa — era ela! Pediram a mesma coisa, que assinasse um documento, mas ela recusou-se, precisava ler o que estava ali. O tom de sua voz demonstrava que em nenhum momento havia entrado em pânico, estava em pleno controle de suas emoções, e o sujeito — obedientemente — aceitou que ela lesse. Quando terminou, enfim colocou sua assinatura e logo sua mão tocou a de Paulo.
“Não podem ter contato físico”, disse o “bom torturador.”
Ela o ignorou, e Paulo, por um momento, pensou que os dois seriam levados de novo para dentro e castigados por não obedecer às ordens. Tentou puxar amão, mas ela a agarrou com mais força e não deixou.
O “bom torturador” simplesmente fechou a porta e mandou que o carro seguisse adiante. Paulo perguntou se ela estava bem, e a resposta foi um discurso contra tudo o que tinha acontecido. Alguém deu uma risada no banco da frente, e ele pediu que a namorada se calasse POR FAVOR, os dois podiam conversar depois ou algum outro dia, ou no lugar para onde estavam sendo levados — talvez uma prisão de verdade.
“Ninguém assina documento dizendo que nossas coisas foram devolvidas senão tiver a intenção de nos soltar”, ela respondeu. O sujeito no banco da frente de novo riu — na verdade foram duas risadas. O motorista não estava sozinho.
“Sempre me disseram que as mulheres são mais corajosas e mais inteligentes que os homens”, um deles comentou. “Temos notado isso aqui com os prisioneiros.”
Dessa vez quem pediu para que seu companheiro se calasse foi o carona. O carro rodou por um tempo indeterminado, parou, e o sujeito do lado do motorista pediu que ambos tirassem o capuz.
Era um dos homens que havia pegado o casal no hotel, um descendente de orientais — dessa vez sorridente. Saltou junto com os dois, foi até o porta-malas, tirou as mochilas e entregou a eles, em vez de jogá-las no chão.
“Podem ir. Dobrem à esquerda no próximo cruzamento, caminhem uns vinte minutos e chegarão à rodoviária.”
Voltou para o carro e arrancou sem pressa, como se estivesse pouco ligando para tudo o que tinha acontecido — essa era a nova realidade do país, eles estavam no comando e ninguém teria jamais com quem reclamar.
Paulo olhou para a namorada, que retribuiu o olhar. Os dois se abraçaram, se beijaram longamente e logo seguiram para a rodoviária. Era perigoso ficar no mesmo local, ele achava. Ela parecia não ter mudado nada, como se aqueles dias — semanas, meses, anos? — fossem apenas a interrupção de uma viagem dos sonhos, e as lembranças positivas prevalecessem e não pudessem ser ofuscadas pelo que aconteceu. Ele acelerava o passo, evitando dizer que a culpa era dela, que não deveriam ter vindo para ver esculturas feitas pelo vento, que se tivessem seguido adiante nada daquilo teria ocorrido — embora a culpa não fosse da namorada, nem de Paulo, nem de ninguém que conhecessem.
Como ele estava sendo ridículo e fraco. De repente sentiu uma imensa dor de cabeça, tão grande que praticamente não lhe permitia mais andar, fugir em direção à sua cidade, ou voltar para a Porta do Sol e perguntar aos antigos e esquecidos habitantes do lugar o que tinha acontecido. Apoiou-se em um muro e deixou a mochila escorregar para o chão.
“Sabe o que está havendo?”, a namorada perguntou — e ela mesma respondeu: “Sei a resposta porque já passei por isso durante bombardeios em meu país. Durante todo esse tempo sua atividade cerebral diminuiu, o sangue não irrigou da maneira que sempre irriga os vasos do corpo inteiro. Vai passarem duas ou três horas, mas compraremos umas aspirinas na rodoviária.”
Ela pegou sua mochila, o amparou, o forçou a andar — primeiro lentamente, logo em seguida mais rápido.
Ah, mulher, que mulher. Pena que, quando sugeriu que fossem juntos para os dois centros do mundo — Piccadilly Circus e Dam —, ela disse que estava cansada de viajar e, para ser bem honesta, já não o amava mais. Cada um deveria seguir seu próprio caminho.
O trem parou, e a temida placa podia ser vista do lado de fora, escrita em várias línguas: ADUANA.
Alguns guardas entraram e começaram a percorrer os vagões. Paulo estava mais tranquilo, o exorcismo havia acabado, mas uma frase da Bíblia, mais precisamente do Livro de Jó, não saía de sua cabeça: “O que eu mais temia me aconteceu”.
Precisava se controlar — qualquer pessoa é capaz de farejar o medo.
Tudo bem. Se, como diz o argentino, tudo que pode acontecer de ruim é ser barrado, não há problema. Ainda havia outras fronteiras que poderia cruzar. E, caso não conseguisse, sempre restava o outro centro do mundo — Piccadilly Circus.
Sentia uma calma imensa depois de ter revivido o terror que acontecera havia um ano e meio. Como se tudo precisasse ser mesmo encarado sem medo, apenas como um fato da vida — nós não escolhemos o que acontece conosco, mas podemos escolher a maneira de reagir a isso.
E dava-se conta de que até aquele momento o câncer da injustiça, do desespero e da impotência vinha começando a criar metástase pelo seu corpo astral, mas agora estava livre.
Começava de novo.
Os guardas entraram na cabine onde Paulo estava com o argentino e outras quatro pessoas completamente desconhecidas. Conforme o esperado por ele, os guardas mandaram os dois descerem. Fazia um pouco de frio do lado de fora,embora a noite ainda não tivesse caído por completo.
Mas a natureza tem um ciclo que se repete na alma do ser humano: a planta produz a flor para que as abelhas venham e possam criar o fruto. O fruto produz sementes, que de novo se transformam em plantas, que outra vez fazem as flores desabrocharem, que chamam as abelhas, que fertilizam a planta e fazem com que produza frutos e assim até o final da eternidade. Bem-vindo, outono, o momento de deixar ir embora o velho, os terrores do passado, e permitir que o novo surja.
Uns dez rapazes e moças foram encaminhados para dentro da estação da aduana. Ninguém dizia nada, e Paulo fez questão de ficar o mais longe possível do argentino — que notou isso e não procurou impor sua presença ou suas conversas. Talvez naquele momento entendesse que estava sendo julgado, que o rapaz do Brasil devia ter algumas suspeitas, mas tinha visto seu rosto ser coberto por uma sombra escura e agora estava de novo brilhando — talvez “brilhando” fosse um exagero, mas pelo menos a intensa tristeza de minutos antes havia desaparecido.
As pessoas eram chamadas individualmente para uma sala — e ninguém sabia o que tinham conversado lá dentro porque saíam por outra porta. Paulo foi o terceiro a ser convocado.
Sentado atrás de uma mesa estava um guarda uniformizado, que pediu seu passaporte e folheou um grande classificador, cheio de nomes.
“Um dos meus sonhos é conhecer…”, tentou ele, mas foi logo advertido anão interromper o trabalho do guarda.
Seu coração começou a bater mais rápido, e Paulo lutava contra si mesmo,para acreditar que o outono havia chegado, as folhas mortas começavam a cair,um novo homem surgia daquilo que até então tinha sido um frangalho de emoções.
Vibrações negativas atraíam mais vibrações negativas, de modo que tentou acalmar-se, sobretudo depois de notar que o guarda tinha um brinco não relha, algo impensável em qualquer país que tivesse conhecido. Procurou distrair-se com a sala cheia de documentos, uma foto da rainha e um cartaz mostrando um moinho de vento. O sujeito logo largou a lista e nem sequer perguntou o que ia fazer na Holanda — queria saber apenas se tinha dinheiro para a passagem de volta para sua terra.
Paulo confirmou — já tinha aprendido que essa era a principal condição para viajar por qualquer país estrangeiro, e comprara o caríssimo bilhete para Roma, seu lugar original de chegada, mesmo que a data de retorno estivesse marcada para dali a um ano. Levou a mão para a bolsa que ficava escondida na cintura, pronto para comprovar o que dissera, mas o guarda disse que não era necessário, queria saber quanto dinheiro tinha.
“Em torno de 1600 dólares. Um pouco mais, talvez, mas não sei quanto gastei no trem.”
Desembarcara na Europa com 1700 dólares, ganhos como professor de pré-vestibular da Escola de Teatro que frequentava. A passagem mais barata era para Roma, onde chegara e soubera pelo “Correio Invisível” que os hippies ali costumavam se reunir na praça de Espanha. Descobrira um lugar para dormirem um parque, vivia de sanduíches e sorvete, e poderia ter ficado em Roma — onde encontrara uma espanhola da Galícia com quem imediatamente fez amizade, para logo em seguida se transformarem em namorados. Comprara finalmente o grande best-seller de sua geração, que com toda a certeza iria fazer toda diferença em sua vida: Europa a cinco dólares por dia. Nos dias em que passara na praça de Espanha, notou que não apenas os hippies, mas também gente convencional, conhecida como “quadrados”, usava o tal livro, que listava os hotéis e restaurantes mais baratos, além de pontos turísticos importante sem cada cidade.
Não estaria perdido assim que chegasse em Amsterdam. Resolveu seguir em direção ao seu primeiro destino (o segundo era Piccadilly Circus, não cansava de lembrar) quando a espanhola disse que ia para Atenas, na Grécia.
De novo fez menção de mostrar o dinheiro, mas teve seu passaporte carimbado e devolvido. O guarda perguntou se estava trazendo alguma fruta ou vegetal — ele tinha consigo duas maçãs, e o guarda lhe pediu que jogasse em um cesto de lixo no lado de fora da estação assim que saísse.
“E como faço agora para chegar em Amsterdam?”
Foi informado de que deveria tomar um trem local, que passava a cada meia hora por ali — sua passagem comprada em Roma valia até o destino final.
O guarda indicou uma porta diferente da que havia entrado, e Paulo logo se viu de novo no ar puro, esperando o próximo trem, surpreso e contente porque tinham acreditado em sua palavra sobre o bilhete e a quantidade de dinheiro.
Realmente, estava entrando em outro mundo.
Karla não havia perdido a tarde inteira sentada no Dam, sobretudo porque começara a chover e a vidente havia garantido que a pessoa que esperava chegaria no dia seguinte. Resolvera ir ao cinema assistir a 2001: Uma odisseia no espaço, que todos diziam ser uma obra-prima, embora não tivesse muito interesse em filmes de ficção científica.
Mas era realmente uma obra-prima, ajudara a matar o tempo de espera, e o final mostrava aquilo que julgava saber — e não se tratava de julgar ou não julgar, era uma realidade absoluta e incontestável: o tempo é circular e volta sempre ao mesmo ponto. Nascemos de uma semente, crescemos,envelhecemos, morremos, voltamos para a terra e viramos de novo a semente que, cedo ou tarde, tornará a reencarnar-se em outra pessoa. Embora de família luterana, tinha flertado um certo tempo com o catolicismo e em um dos momentos da missa que passara a frequentar recitava todas as profissões de fé. Ali estava a linha de que mais gostava: “Creio […] na ressurreição da carne ena vida eterna. Amém”.
Ressurreição da carne — tentara conversar uma vez com um padre a respeito daquela passagem, perguntando sobre reencarnação, mas o sacerdote disse que não se tratava disso. Perguntou do que se tratava. A resposta —completamente idiota — foi que ela ainda não tinha maturidade para entender. Nesse momento começou aos poucos a se afastar do catolicismo,porque notou que o padre tampouco sabia do que aquela frase tratava.
“Amém”, repetia agora enquanto voltava para o hotel. Mantinha seus ouvidos atentos para qualquer coisa, se Deus resolvesse conversar com ela. Depois de afastar-se da Igreja, resolveu procurar no hinduísmo, no taoísmo, no budismo, nos cultos africanos, nos diversos tipos de ioga, algum tipo de resposta sobre o significado da vida. Um poeta dissera havia muitos séculos: “Sua luz preenche todo o Universo/ A lâmpada do amor queima e salva o Conhecimento.”
Como o amor era uma coisa complicada em sua vida, tão complicada que sempre evitara pensar a respeito, terminou concluindo que o Conhecimento estava dentro dela mesma — que era aliás o que pregavam os fundadores dessas religiões. E agora tudo que via a lembrava da Divindade, procurava que cada gesto seu fosse uma maneira de agradecer pelo fato de estar viva.
Bastava isso. O pior dos assassinatos é aquele que termina matando nossa alegria de viver.
Passou em um coffee shop — lugar onde se vendia diversos tipos de marijuana e haxixe —, mas a única coisa que fez foi tomar um café e conversar um pouco com uma menina, também holandesa, que parecia deslocada e também tomava café. Wilma era seu nome. Resolveram que iriam ao Paradiso, mas logo mudaram de ideia, talvez porque aquilo já não fosse mais novidade para ninguém, assim como não eram as drogas vendidas ali. Boas para turistas, mas entediantes para quem sempre teve aquilo ao alcance da mão.
Um dia — um dia em um futuro longínquo — os governos iriam concluir que a melhor maneira de acabar com o que chamavam de “problema” era liberar tudo. Grande parte da mística do haxixe estava no fato de ser proibido, e por isso cobiçado.
“Mas isso não interessa a ninguém”, comentou Wilma quando Karla lhe disse o que estava pensando. “Ganham bilhões de dólares com a repressão. Se julgam superiores. Salvadores da sociedade e da família. Excelente plataforma política — acabar com as drogas. Que outra ideia teriam para colocar no lugar? Sim, acabar com a pobreza, só que ninguém mais acreditava nisso.”
Pararam de conversar e ficaram olhando suas xícaras. Karla pensava no filme, em O senhor dos anéis e em sua vida. Nunca tinha experimentado realmente nada de interessante. Nasceu em uma família puritana, estudou em um colégio luterano, conhecia a Bíblia de cor, perdera a virgindade ainda adolescente com um holandês que também era virgem, viajara algum tempo pela Europa, arranjara um emprego quando completou vinte anos (estava agora com 23), os dias pareciam longos e repetitivos, tornou-se católica apenas para contrariar a família, resolveu sair de casa e morar sozinha, teve uma série de namorados que entravam e saíam de sua vida e do seu corpo em uma frequência que variava entre dois dias e dois meses, achou que a culpa de tudo aquilo era de Rotterdam e seus guindastes, suas ruas cinzentas e seu porto, que trazia histórias muito mais interessantes do que as que estava acostumada a escutar dos amigos.
Dava-se melhor com estrangeiros. A única vez que sua rotina de liberdade absoluta fora quebrada foi quando decidiu se apaixonar perdidamente por um francês dez anos mais velho e convenceu a si mesma de que conseguiria fazer com que aquele amor arrebatador fosse mútuo — embora soubesse muito bem que o francês estava apenas interessado em sexo, domínio em que ela era ótima e procurava aperfeiçoar-se cada vez mais. Uma semana depois largou o francês em Paris, chegando à conclusão de que não conseguia verdadeiramente descobrir a função do amor em sua vida — e isso era uma doença, porque todas as pessoas que conhecia terminavam, cedo ou tarde, comentando a importância de casar, ter filhos, cozinhar, ter uma companhia para assistir televisão, ir ao teatro, viajar pelo mundo, trazer pequenas surpresas quando voltasse para casa, engravidar, cuidar dos filhos, fingir que não via as pequenas traições do marido ou da mulher, dizer que os filhos eram a única razão de sua vida, preocupar-se com o que iam jantar, o que seriam no futuro, como estavam indo no colégio, no trabalho, na vida.
Assim prolongavam por mais alguns anos sua sensação de utilidade nesta terra, até que cedo ou tarde todos partiam — a casa ficava vazia e a única coisa que realmente importava era o almoço aos domingos, a família reunida, sempre fingindo que estava tudo bem, sempre fingindo que não havia ciúme ou competição entre todos, enquanto iam lançando facas invisíveis no ar, porque eu ganho mais que você, minha mulher é formada em arquitetura, acabamos de comprar uma casa que vocês não vão acreditar, coisas do tipo.
Dois anos antes deduzira que não havia mais sentido em continuar vivendo a liberdade absoluta. Começou a pensar na morte, flertou com a entrada em um convento, chegou mesmo a ir até o lugar onde viviam as carme litas descalças, sem absolutamente nenhum contato com o mundo. Disse que fora batizada, descobrira Cristo e queria ser sua noiva para o resto da vida. A madre superiora pediu que refletisse por um mês antes de tomar a decisão — e durante esse mês teve tempo de se imaginar em uma cela, sendo obrigada a rezar de manhã até a noite, repetir as mesmas palavras até que perdessem seu significado, e descobriu-se incapaz de levar uma vida em que a rotina seria capaz de levá-la à loucura. A madre superiora estava certa — nunca mais voltou lá; por pior que fosse a rotina da liberdade absoluta, sempre poderia descobrir coisas mais interessantes para fazer.
Um marinheiro de Bombaim, além de ser um excelente amante — coisa que raramente conseguia encontrar —, fez com que descobrisse o misticismo oriental, e nesse momento foi quando começou a considerar que o destino final de sua existência era ir para muito longe, morar em uma caverna nos Himalaias, acreditar que os deuses viriam conversar com ela cedo ou tarde, afastar-se de tudo aquilo que a cercava agora e que parecia chato, chatíssimo.
Sem entrar em muitos detalhes, perguntou a Wilma o que achava de Amsterdam.
“Chato. Chatíssimo.”
Isso mesmo. Não apenas Amsterdam, mas a Holanda inteira, onde todos já nasciam protegidos pelo governo, sem jamais se assustar com uma velhice desamparada porque existiam asilos e pensões vitalícias, seguro médico gratuito ou por um preço ínfimo, e os reis mais recentes eram na verdade rainhas — a rainha-mãe Guilhermina, a rainha atual Juliana e a futura herdeira do trono, Beatriz. Enquanto nos Estados Unidos as mulheres estavam queimando os sutiãs e pedindo igualdade, Karla — que não usava sutiãs,embora seus seios não fossem exatamente pequenos — vivia em um lugar onde essa igualdade já tinha sido conquistada havia muito, sem barulho, sem exibicionismo, mas seguindo a lógica ancestral de que o poder é das mulheres— são elas que governam seus maridos e filhos, seus presidentes e reis, que por sua vez procuram dar a todos a impressão de que são excelentes generais, chefes de Estado, donos de empresa.
Homens. Acham que mandam no mundo e não conseguem dar um passo sem perguntar durante a noite o que acha sua companheira, amante, namorada, mãe.
Precisava dar um passo radical, descobrir um país interior ou exterior que nunca tivesse sido explorado antes e sair daquele tédio que parecia drenar suas forças a cada dia.
Esperava que a cartomante estivesse certa. Se a pessoa que prometera não chegasse no dia seguinte, ia para o Nepal assim mesmo, sozinha, correndo o risco de ser transformada em uma “escrava branca” e terminar vendida para um gordo sultão de um país onde os haréns estavam na ordem do dia — embora duvidasse que alguém tivesse coragem de fazer isso com uma holandesa que sabia se defender melhor que um homem de olhos ameaçadores, com um sabre afiado nas mãos.
Despediu-se de Wilma, marcaram de encontrar-se no Paradiso no dia seguinte, e dirigiu-se ao dormitório onde passava seus monótonos dias em Amsterdam, a cidade dos sonhos de tanta gente que cruzava o mundo para chegar até ali. Caminhou pelas ruas pequenas, sem calçadas, os ouvidos sempre atentos para ver se escutava algum sinal — não sabia o que esperar, mas os sinais são assim, surpreendentes e disfarçados como coisas rotineiras. A chuva fina no rosto trouxe-lhe de volta à realidade — mas não à realidade a sua volta, e sim ao fato de estar viva, caminhando em total segurança por becos escuros, cruzando o caminho de traficantes vindos do Suriname que operavam nas sombras — esses, sim, eram um verdadeiro perigo para seus consumidores, porque ofereciam as drogas do Diabo, cocaína e heroína.
Passou por uma praça — parecia que, ao contrário de Rotterdam, aquela cidade tinha uma praça em cada esquina. A chuva aumentou de intensidade, e ela agradeceu o fato de poder sorrir apesar de tudo aquilo que havia pensado no coffee shop.
Caminhava rezando em silêncio, sem palavras luteranas ou católicas, agradecida pela vida de que horas antes estava reclamando, adorando céus e terra, árvores e animais, cuja simples visão fazia com que as contradições de sua alma se resolvessem e uma profunda paz envolvesse tudo — não aquela paz da ausência de desafios, mas a que a preparava para uma aventura que estava decidida a ter, independentemente de encontrar companhia, sabendo que os anjos a acompanhavam e cantavam músicas que não podia escutar, mas que faziam vibrar e limpar seu cérebro de pensamentos impuros, entrar em contato com sua própria alma e dizer para ela “eu te amo”, embora não tivesse ainda conhecido o Amor.
Não me sinto culpada pelo que estava pensando antes, talvez tenha sido o filme, talvez o livro, mas, mesmo que tenha sido apenas eu e minha incapacidade de ver a beleza que existe dentro de mim, peço que me desculpe, eu te amo, e agradeço por me acompanhares, tu que me abençoas com tua companhia e me livra da tentação dos prazeres e do medo da dor.
Para variar, começou a sentir-se culpada de ser quem era, morando em um país com a maior concentração de museus do mundo, atravessando naquele momento uma das 1281 pontes da cidade, olhando as casas com apenas três janelas na horizontal — mais que isso era considerado ostentação e tentativa de humilhar o vizinho —, orgulhosa pelas leis que governavam seu povo, pelos navegadores que foram no passado, embora as pessoas só se lembrassem de espanhóis e portugueses.
Fizeram apenas um mau negócio na vida: vender a ilha de Manhattan aos americanos. Mas nem todo mundo é perfeito.
O vigia da noite abriu a porta do dormitório, ela entrou procurando fazer o mínimo de barulho, fechou os olhos e, antes de adormecer, pensou na única coisa que seu país não tinha.
Montanhas.
Sim, ela iria para as montanhas, longe daquelas planícies imensas conquistadas a partir do mar por homens que sabiam o que queriam e que conseguiram domar uma natureza que se recusava a ser subjugada.
Resolveu acordar mais cedo do que de costume — já estava vestida e pronta para sair às onze da manhã, quando seu horário normal era uma da tarde. Aquele, segundo a cartomante, era o dia em que iria encontrar quem estava esperando, e a vidente não podia estar errada, porque as duas haviam entrado em um transe misterioso, além do controle de ambas, como ocorre com a maioria dos transes, por sinal. Layla dissera algo que não tinha saído de sua boca, mas de uma alma maior, que estava ocupando todo o ambiente do seu “consultório”.
Ainda não havia muita gente no Dam — o movimento maior começava depois do meio-dia. Mas ela notou — finalmente! — um rosto novo. Cabelos iguais aos de todo mundo ali, jaqueta sem muitos patches (o mais proeminente era uma bandeira com a inscrição na parte superior: “Brasil”), uma bolsa atira colo de tricô colorido, feita na América do Sul, e que na época era moda entre os jovens que percorriam o mundo — assim como os ponchos e os gorros que cobriam orelhas. Fumava um cigarro — normal, porque ela passou perto de onde ele estava sentado e não sentiu nenhum cheiro especial além de tabaco.
Estava ocupadíssimo em não fazer nada, olhando o prédio do outro lado da praça e os hippies em volta. Devia estar querendo puxar conversa com alguém, mas seus olhos denunciavam timidez — excesso de timidez, melhor dizendo.
Sentou-se a uma distância segura, de modo a vigiá-lo e não deixar que partisse sem antes tentar sugerir a viagem ao Nepal. Se já tinha passado pelo Brasil e pela América do Sul, como indicava a bolsa, por que não estaria interessado em ir mais longe? Devia ter perto de sua idade, pouca experiência,e não seria difícil convencê-lo. Não importava que fosse feio ou bonito, gordo ou magro, alto ou baixo. A única coisa que a interessava mesmo era ter companhia para sua aventura particular.
Paulo também havia notado a bela hippie que passara perto de onde estava sentado e, se não fosse por sua timidez paralisante, talvez tivesse ousado sorrir para ela. Porém não teve coragem — ela parecia distante, talvez esperando alguém ou querendo apenas contemplar a manhã sem sol, mas tampouco sem ameaça de chuva.
Voltou a concentrar-se no prédio a sua frente, uma verdadeira maravilha arquitetônica, que o Europa a cinco dólares por dia descrevia como um palácio real, construído em cima de 13.659 estacas (ainda segundo o guia, a cidade inteira era construída sobre estacas, embora ninguém percebesse isso). Não havia guardas na porta, e os turistas entravam e saíam — multidões deles, filas imensas, o tipo de lugar que jamais visitaria enquanto estivesse ali.
Sempre sabemos quando alguém está nos olhando. Paulo sabia que a bela hippie agora estava sentada fora de seu campo de visão, com os olhos fixos nele. Virou a cabeça e ela estava efetivamente lá, mas começou a ler assim que os dois pares de olhos se cruzaram.
O que fazer? Durante quase meia hora ficou pensando que devia levantar e ir sentar ao seu lado — era o que se esperava em Amsterdam, onde pessoas encontram outras sem necessidade de desculpas e explicações, apenas pela vontade de conversar e trocar experiências. No final dessa meia hora, depois de repetir mil vezes que não tinha absolutamente nada a perder, que não seria a primeira nem a última vez que seria rejeitado, levantou e foi em sua direção. Ela não tirava os olhos do livro.
Karla viu que ele se aproximava — coisa rara em um lugar onde todos respeitam os espaços individuais. Ele sentou a seu lado e disse a coisa mais absurda que alguém pode dizer:
“Desculpe.”
Ela apenas o olhou, aguardando o resto da frase — que não veio. Cinco minutos de constrangimento se passaram até que resolveu tomar a inciativa. “Desculpe o quê, exatamente?”
“Nada.”
Mas, para sua alegria e felicidade, não disse as imbecilidades de sempre como “espero não estar atrapalhando”, ou “que prédio é esse aí na frente?”, ou“como você é bonita” (estrangeiros adoravam essa frase), ou “qual a sua nacionalidade”, “onde comprou estas roupas”, coisas do gênero.
Ela resolveu ajudar um pouco, já que estava muito mais interessada do que o rapaz podia imaginar.
“Por que o escudo de ‘Brasil’ na manga?”
“Para o caso de cruzar com brasileiros — é o país de onde venho. Não conheço ninguém na cidade, e assim podem me ajudar a encontrar gente interessante.”
Então o rapaz, que parecia inteligente e tinha olhos negros que brilhavam com uma energia intensa e um cansaço ainda maior, tinha atravessado o Atlântico para encontrar brasileiros no exterior?
Aquilo parecia o cúmulo do absurdo, mas resolveu lhe dar algum crédito. Podia tocar imediatamente no assunto do Nepal e continuar a conversa ou descartá-la para sempre, mudar de lugar no Dam, dizer que tinha um encontro ou apenas sair dali sem dar nenhuma satisfação.
Mas resolveu não se mover, e o fato de continuar sentada com Paulo — esse era seu nome — enquanto escolhia suas opções terminaria mudando por completo sua vida.
Porque assim são os casos de amor — embora a última coisa que pensasse naquele momento era nessa palavra secreta e nos perigos que acarreta. Os dois estavam juntos, a vidente estava certa, o mundo interior e exterior estavam se encontrando rapidamente. Ele podia estar sentindo a mesma coisa, mas era tímido demais, ao que parecia — ou talvez estivesse apenas interessado em fumar com alguém um cigarro de haxixe ou, o que era muito pior, visse nela uma futura companheira para irem até o Vondelpark fazer amor e depois se despedirem como se nada de muito importante tivesse acontecido além de um orgasmo.
Como definir o que alguém é ou não é em apenas alguns minutos? Claro, sabemos quando a pessoa nos causa repulsa, e nos afastamos, mas ali não era absolutamente o caso. Ele era magro demais, e seus cabelos pareciam bem cuidados. Devia ter tomado banho naquela manhã, ainda era possível sentir o cheiro de sabão em seu corpo.
No momento em que sentou a seu lado e disse a absurda palavra “desculpe”, Karla sentiu um grande bem-estar, como se já não estivesse sozinha. Estava com ele, e ele com ela, e os dois sabiam disso — mesmo que nada mais tivesse sido dito e ambos desconhecessem o que estava ocorrendo. Os sentimentos escondidos não tinham sido revelados e tampouco permaneciam ocultos, estavam apenas esperando a hora de se manifestar. Aquele era o instante em que muitas relações que podiam terminar em grandes amores se perdiam — ou porque quando as almas se encontram na face da terra já sabem para onde estão caminhando juntas e isso as apavora, ou porque estamos tão condicionados que sequer damos tempo às almas para se conhecerem, vamos em busca de algo “melhor” e perdemos a chance de nossas vidas.
Karla estava deixando sua alma se manifestar. Às vezes somos enganados por suas palavras, porque as almas não são exatamente muito fiéis e terminam aceitando situações que na verdade não correspondem a nada, tentam agradar ao cérebro e ignoram aquilo em que Karla mergulhava cada vez mais: o Conhecimento. O seu Eu visível, que você acredita ser, nada mais é do que um lugar limitado, estranho ao verdadeiro Eu. Por isso as pessoas têm muita dificuldade em escutar o que a alma está dizendo, tentam controlá-la para que siga exatamente o que já vinham planejando — os desejos, as esperanças, o futuro, a vontade de dizer aos amigos “finalmente encontrei o amor de minha vida”, o pavor de terminar sozinho em um asilo de velhos.
Ela não conseguia mais se enganar. Não sabia o que estava sentindo e procurou deixar as coisas assim mesmo, sem maiores justificativas e explicações. Tinha consciência de que deveria enfim levantar o véu que cobria seu coração, mas não sabia como e não iria descobrir agora, assim tão rápido. O ideal seria mantê-lo a uma distância segura até ver exatamente como os dois iriam se comportar nas horas seguintes, ou dias, ou anos — não, não pensava em anos, porque seu destino era uma caverna em Kathmandu, sozinha, em contato com o universo.
A alma de Paulo ainda não se revelara, e ele não tinha como saber se aquela menina iria desaparecer de uma hora para a outra. Não sabia mais o que falar, ela também ficou muda, e os dois haviam aceitado o silêncio e olhavam fixos para a frente, sem na verdade notar nada — os holandeses caminhavam para as lanchonetes e restaurantes, os bondes passavam lotados, mas ambos tinham os olhares perdidos, as emoções em outra dimensão.
“Você quer almoçar?”
Entendendo aquilo como um convite, Paulo ficou surpreso e contente. Não podia entender como uma moça tão bonita o estava chamando para almoçar — suas primeiras horas em Amsterdam tinham começado muito bem.
Não tinha planejado nada do tipo, e quando as coisas acontecem sem planejamento ou expectativas terminam sendo mais agradáveis e mais proveitosas — falar com uma estranha sem pensar em nenhuma conexão romântica permitia que tudo fluísse mais naturalmente.
Ela estava sozinha? Por quanto tempo poderia lhe dar atenção? O que precisava fazer para mantê-la ao seu lado?
Nada. A sequência de perguntas idiotas desapareceu no espaço e, mesmo tendo comido havia pouco, iria almoçar com ela. Só esperava que não escolhesse um restaurante muito caro, seu dinheiro precisava durar um ano, até a data do bilhete de volta.
Claro que precisamos dividir. Mesmo que sejam informações que todos já conhecem, é importante não se deixar levar pelo pensamento egoísta de chegar sozinho ao fim da jornada. Quem faz isso descobre um paraíso vazio, sem nenhum interesse especial, e em breve estará morrendo de tédio.
Não podemos pegar as luzes que iluminam o caminho e carregar conosco.
Se agirmos assim, vamos encher nossas mochilas com lanternas. Nesse caso, mesmo com toda a luz que carregamos, não vamos contar com uma boa companhia. De que adianta?
Mas era difícil se acalmar — precisava anotar tudo que estava vendo ao seu redor. Uma revolução sem armas, uma estrada sem controles de passaporte e curvas perigosas. Um mundo que de repente tinha ficado jovem, independentemente da idade das pessoas e de suas crenças religiosas e políticas. O sol havia aparecido, como para dizer que enfim o Renascimento estava voltando, mudando hábitos e costumes de todo mundo — e um belo dia, em um futuro muito próximo, as pessoas já não dependeriam mais da opinião dos outros, e sim de sua própria maneira de ver a vida.
Gente vestida de amarelo dançando e cantando na rua, roupas de todas as cores, uma moça distribuindo rosas para quem passava, todo mundo sorrindo — sim, o amanhã seria melhor, apesar do que acontecia na América Latina e em outros países. O amanhã seria melhor simplesmente porque não havia escolha, não se podia voltar ao passado e de novo deixar que o moralismo, a hipocrisia e a mentira ocupassem dias e noites de quem caminhava por essa terra. Lembrava-se de seu exorcismo no trem e dos milhares de críticas que vivia escutando de todos, conhecidos e desconhecidos. Lembrava-se do sofrimento dos seus pais e queria telefonar naquele momento para casa e dizer:
Não se preocupem, estou contente, e em breve vocês terminarão por entender que não nasci para entrar para a faculdade, conseguir um diploma e arranjar um emprego. Nasci para ser livre e posso sobreviver disso, sempre terei o que fazer, sempre descobrirei uma maneira de ganhar dinheiro, sempre poderei me casar um dia e formar uma família, mas o momento agora é outro — é hora de buscar, estar apenas no presente, aqui e agora, com alegria das crianças, a quem Jesus destinou o reino dos céus. Se for preciso trabalhar como lavrador, eu farei isso sem o menor problema, porque me permitirá estar em contato com a terra, o sol e a chuva. Se for preciso algum dia me trancar em um escritório, eu também farei isso sem o menor problema, porque terei ao meu lado outras pessoas, acabaremos por formar um grupo, o grupo irá descobrir como é bom sentar-se em torno de uma mesa e conversar, rezar, rir e lavar-se todas as tardes do trabalho repetitivo. Se for preciso ficar sozinho, eu ficarei, se me apaixonar e resolver casar, eu me casarei, pois tenho certeza de que minha mulher, aquela que será o amor de minha vida, aceitará minha alegria como a maior bênção que um homem pode dar para uma mulher.
A moça ao seu lado parou, comprou flores e, em vez de carregá-las para algum lugar, fez dois arranjos, colocando em seus cabelos e nos cabelos dela. E aquilo, longe de parecer ridículo, era uma maneira de celebrar as pequenas vitórias da vida, como os gregos exaltavam havia milênios os seus vencedores e heróis — em vez de ouro, coroas de louros. Que podiam terminar murchando e desaparecendo, mas que não eram pesadas e não exigiam constante vigilância como as coroas de reis e rainhas. Muita gente que passava tinha esse tipo de arranjo nos cabelos, o que tornava tudo mais belo.
As pessoas tocavam flautas de madeira, violino, violão, cítaras — havia uma trilha sonora confusa, mas que se harmonizava naturalmente com aquela rua sem calçada, como a maior parte das vias da cidade: cheia de bicicletas, o tempo rodando mais devagar e mais rápido. Paulo tinha medo de que o mais rápido terminasse prevalecendo e o sonho acabasse logo.
Porque não estava em uma rua, estava em um sonho em que os personagens eram de carne e osso, falavam em diversas línguas estrangeiras, olhavam para a mulher ao lado dele e sorriam diante de sua beleza, ela retribuía o gesto, e ele sentia uma ponta de ciúme que logo era substituído por orgulho de que o houvesse escolhido para acompanhá-la.
Uma ou outra pessoa oferecia incensos, pulseiras, casacos coloridos possivelmente feitos no Peru ou na Bolívia, e ele tinha vontade de comprar tudo porque retribuíam os sorrisos e não se sentiam ofendidos e nem insistiam, como os vendedores de loja fazem. Se comprasse, isso talvez significasse para eles mais uma noite, mais um dia no paraíso — embora soubesse que todos, absolutamente todos, saberiam como sobreviver neste mundo. Paulo precisava guardar tudo que era possível, também tentar descobrir um jeito de viver naquela cidade até quando o seu bilhete de avião começasse a pesar na bolsa com elástico em torno da cintura e embaixo da calça, dizendo que já era hora, que precisava sair do sonho e voltar para a realidade.
Uma realidade que inclusive aparecia de tempos em tempos naquelas ruas e parques, em mesinhas com painéis atrás mostrando as atrocidades cometidas no Vietnã — foto do general executando um vietcongue a sangue-frio. Tudo que pediam era que assinassem um manifesto, e todos colaboravam.
Nesse momento percebia que ainda faltava muito para que o Renascimento tomasse conta do mundo, mas estava começando, sim, estava começando, e que cada um daqueles jovens — dos muitos jovens naquela rua — não esqueceriam o que estavam vivendo e quando voltassem aos seus países se tornariam evangelistas da paz e do amor. Porque isso era possível, um mundo finalmente livre da opressão, do ódio, dos maridos que espancam mulheres, dos torturadores que penduram as pessoas de cabeça para baixo e as matam lentamente com…
… Não que tivesse perdido seu senso de justiça — ainda se escandalizava com a injustiça no mundo inteiro —, mas pelo menos por um tempo precisava descansar e recuperar suas energias. Gastara parte de sua juventude morrendo de medo, agora era o momento de ter coragem diante da vida e do caminho desconhecido que percorria.
Entraram em uma das dezenas de lojas que vendiam cachimbos, xales coloridos, imagens orientais, patches. Paulo comprou o que estava buscando:uma série de apliques de metal em forma de estrela que colocaria em sua jaqueta quando voltasse para o dormitório.
Em um dos muitos parques da cidade, três moças estavam sem blusa e sem sutiã, os olhos fechados em postura de ioga, voltadas para um sol que talvez em breve se escondesse, e custaria duas estações até que a primavera voltasse. Reparou com mais cuidado que havia na praça gente de mais idade, indo ou voltando para o serviço, pessoas que sequer se davam ao trabalho de olhar as moças — porque a nudez não era castigada ou reprimida, cada um é dono do seu corpo e faz o que achar melhor.
E as camisetas, as camisetas eram as mensagens que caminhavam, algumas com foto dos ídolos — Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin —, mas a maioria pregando o Renascimento:
Uma em particular lhe chamou a atenção:
O sonho é algo espontâneo e portanto perigoso para aqueles que não têm coragem de sonhar.
Isso. Era isso o que o sistema não tolerava, mas o sonho terminaria vencendo, e antes de os americanos serem derrotados no Vietnã.
Ele acreditava. Tinha escolhido sua loucura e agora pretendia vivê-la intensamente, ficar ali até que escutasse seu chamado para fazer algo que ajudasse a mudar o mundo. Seu sonho era ser escritor, mas ainda era cedo para isso, e ele tinha dúvidas de que livros tivessem esse poder, mas faria o seu melhor para mostrar o que os outros ainda não estavam vendo.
Uma coisa era certa: não tinha volta, existia agora apenas o caminho da luz.
Encontrou um casal brasileiro, Tiago e Tabita, que notaram a bandeira e se identificaram.
“Somos Meninos de Deus”, disseram, e o convidaram para visitar o lugar onde viviam.
Todos eram Meninos de Deus, não é verdade?
Sim, mas eles participavam de um culto cujo fundador tivera uma revelação. Que tal conhecer um pouco melhor?
Paulo garantiu que sim — quando Karla o deixasse antes do final do dia, já tinha novos amigos.
* * *
Mas, assim que se afastaram, Karla pegou no patch da sua jaqueta e o arrancou.
“Você já comprou o que estava procurando — as estrelas são muito mais bonitas do que as bandeiras. Se quiser, posso ajudar a colocá-las em forma de cruz egípcia ou de símbolo hippie.”
“Não precisava ter feito isso. Bastava pedir e me deixar decidir se queria continuar ou não com o patch na manga. Amo e odeio meu país, mas isso é problema meu. Acabei de conhecer você; se por acaso acha que pode me guiar e me controlar porque pensa que sou dependente da única pessoa que verdadeiramente encontrei aqui, nos separamos agora. Não deve ser difícil encontrar um restaurante barato.
”Sua voz tinha endurecido e, surpresa, Karla considerou essa reação positiva. Não era um boboca que fazia o que os outros mandavam, mesmo que estivesse em uma cidade estranha. Já devia ter passado por muitas coisas nessa vida.
Ela devolveu o patch.
“Guarde em outro lugar. É falta de educação conversar em língua que não entendo e uma falta de imaginação ter vindo tão longe para entrar em contato com gente que pode encontrar na sua terra. Se você voltar a falar português, vou falar holandês, e acho que o diálogo ficará impossível.”
O restaurante não era simplesmente barato: era GRÁTIS, essa palavra mágica que geralmente faz tudo parecer muito saboroso.
“Quem sustenta isso? O governo holandês?”
“O governo holandês não deixa que nenhum de seus cidadãos passe fome, mas neste caso o dinheiro vem de George Harrison, que adotou nossa religião.”
Karla olhava a conversa com um misto de falso interesse e visível tédio. A caminhada em silêncio havia confirmado o que dissera a vidente no dia anterior: aquele rapaz era a companhia perfeita para a viagem até o Nepal — não falava muito, não procurava impor suas opiniões, mas sabia exatamente como lutar pelos seus direitos, como no caso do patch com a bandeira. Precisava apenas saber o momento certo de abordar o assunto.
Foram até o bufê, serviram-se de várias delícias vegetarianas enquanto escutavam uma das pessoas vestidas de laranja explicar quem eram para os recém-chegados. Deviam ser muitos, e converter alguém naquele momento era facílimo, já que os ocidentais adoravam tudo que vinha das terras exóticas do Oriente.
“Vocês devem ter cruzado com algumas pessoas de nosso grupo enquanto caminhavam para cá”, disse o que parecia mais velho, com uma barba branca e um ar beatífico de quem nunca havia pecado na vida. “O nome original de nossa religião é muito complicado, então podem nos chamar de Hare Krishna mesmo — porque assim somos conhecidos há séculos, já que acreditamos que repetir Hare Krishna / Hare Rama termina por esvaziar nossa mente, deixando espaço para que a energia penetre. Acreditamos que tudo é uma coisa só, temos uma alma coletiva, e cada gota de luz nesta alma termina por contagiar os pontos escuros em volta. É só isso. Quem desejar pode pegar o livro Bhagavad Gita na saída e preencher uma ficha pedindo formalmente a filiação. Nada vos faltará — porque assim prometeu o Senhor Iluminado antes da grande batalha, quando um dos guerreiros se sentiu culpado de participar de uma guerra civil. O Senhor Iluminado respondeu que ninguém mata e ninguém morre — cabia a ele apenas cumprir seu dever e fazer o que tinha sido ordenado.”
Ele pegou um dos exemplares do livro em questão: Paulo olhava com interesse para o guru, e Karla olhava com interesse para Paulo — embora duvidando que já não tivesse escutado isso antes.
“Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e levado para os planetas no céu, ou você vencerá seus inimigos e conquistará o que sonha. Portanto, em vez de se perguntar qual o propósito desta guerra, levante e lute.”
O guru fechou o livro.
“Isso temos que fazer. Em vez de perder tempo dizendo ‘isso é bom’, ou ‘isso é mau’, precisamos cumprir nosso destino. Foi o destino que os trouxe hoje aqui. Quem desejar, pode sair conosco para dançar e cantar na rua logo depois de terminarmos de comer.” Os olhos de Paulo brilharam, e para Karla não foi necessário que ele dissesse nada.
Estava tudo entendido.
“Você não está pensando em ir com eles, está?”
“Claro. Nunca cantei e dancei na rua desse jeito.”
“Sabia que eles só permitem sexo depois do casamento, e mesmo assim apenas para procriar, não para ter prazer? Você acredita que um grupo que se diz tão iluminado é capaz de rejeitar, negar, condenar algo tão belo?”
“Não estou pensando em sexo, mas em dança e música. Faz tempo que não escuto música e que não canto, e isso é um buraco negro na minha vida.”
“Eu posso levá-lo hoje à noite para cantar e dançar.”
Por que aquela menina parecia tão interessada nele? Ela podia arranjar o homem que quisesse, na hora que achasse melhor. Começou a se lembrar do argentino — talvez precisasse de alguém para ajudá-la em um trabalho que ele não estava nem um pouco disposto a fazer. Resolveu testar as águas:
“Você conhece a Casa do Sol Nascente?”
Sua pergunta podia ser interpretada de três maneiras: a primeira, se ela conhecia a música (“The House of the Rising Sun”, The Animals). A segunda, se sabia o que a música queria dizer. E a terceira, finalmente, se gostaria de ir até lá.
“Deixa de bobagem.”
Esse rapaz, que no início tinha julgado tão inteligente, charmoso, calado, fácil de ser controlado, parecia ter entendido tudo errado. E, por incrível que pareça, ela precisava mais dele do que o contrário.
“Está bem. Você vai com eles e eu sigo à distância. Nos encontramos no final.”
Teve vontade de acrescentar “já passei de minha fase Hare Krishna”, mas controlou-se para não assustar a presa.
Que alegria estar ali pulando, saltando, cantando com todo o pulmão, seguindo aquelas pessoas que se vestiam de laranja, tocavam sininhos e pareciam em paz com a vida. Outras cinco tinham resolvido seguir junto como grupo, e à medida que caminhavam pelas ruas, mais gente ia se juntando. Volta e meia virava a cabeça para ver se a holandesa continuava seguindo-o. Ele não queria perdê-la, os dois se aproximaram por algum mistério, mistério que precisava ser preservado — jamais entendido, mas mantido. Sim, ali estava ela, a uma distância segura, evitando ser identificada com os monges ou aprendizes de monges e, cada vez que seus olhos se cruzavam, um sorria para o outro.
O laço estava sendo criado e se fortalecia.
Lembrou-se de um conto da infância, “O flautista de Hamelin”, em que o personagem principal, para se vingar de uma cidade que prometeu pagá-lo e não o fez, resolveu encantar as crianças e levá-las para longe com o poder de sua música. Isso estava ocorrendo agora — Paulo virara uma criança e dançava no meio da rua, tudo muito diferente dos anos que passara mergulhado em livros de magia, fazendo rituais complicados e achando que estava se aproximando dos verdadeiros avatares. Talvez sim, talvez não, mas dançar e cantar também ajudava a atingir o mesmo estado de espírito.
De tanto repetir o mantra e saltar, começou a entrar em um estado em que o pensamento, a lógica e as ruas da cidade já não tinham tanta importância — a cabeça estava completamente vazia, e ele voltava à realidade apenas de tempo sem tempos, para conferir se Karla o acompanhava. Sim, ela estava ali, e seria muito bom se estivesse em sua vida por bastante tempo, mesmo que aconhecesse apenas havia três horas.
Tinha certeza de que o mesmo havia acontecido com ela — ou poderia simplesmente tê-lo largado no restaurante. Entendia melhor as palavras de Krishna ao guerreiro Arjuna, antes da batalha. Não era exatamente o que estava escrito no livro, mas em sua alma:
* * *
O cortejo chegou ao Dam e começou a dar a volta na praça. Paulo resolveu parar por ali, deixar que a moça que o tinha encontrado voltasse para o seu lado — ela parecia diferente, mais relaxada, mais à vontade com sua presença. O sol já não esquentava como antes, dificilmente tornaria a ver meninas com os seios de fora, mas, como tudo que imaginava parecia ocorrer o contrário, os dois notaram luzes fortes do lado esquerdo de onde estavam sentados. E pela absoluta e total falta do que fazer, resolveram ir ver o que estava acontecendo.
Os refletores iluminavam uma modelo completamente nua, segurando uma tulipa que cobria apenas o sexo. O fundo era o obelisco no centro do Dam. Karla perguntou a um dos assistentes o que era aquilo.
“Um pôster encomendado pelo departamento de turismo.”
“É essa a Holanda que estão vendendo aos estrangeiros? As pessoas ficam nuas aqui, na cidade?”
O assistente afastou-se sem responder. Nesse momento, a sessão foi interrompida e Karla se dirigiu a outro assistente, enquanto a maquiadora entrava em cena para retocar o seio direito da modelo. Repetiu a mesma pergunta. O sujeito, ligeiramente estressado, pediu que não o interrompesse, mas Karla sabia o que queria.
“Você parece tenso. Está preocupado com o quê?”
“A luz. A luz está caindo rápido, e em breve o Dam estará às escuras”, respondeu o assistente, querendo livrar-se daquela criatura.
“Você não é daqui, não é verdade? Estamos no início do outono, e o sol ainda vai brilhar até as sete horas da noite. Além do mais, eu tenho o poder deparar o sol.”
O sujeito olhou com surpresa para ela. Tinha conseguido o que queria:chamar a atenção.
“Por que estão fazendo um pôster com uma mulher nua segurando uma tulipa na frente do sexo? É essa a Holanda que desejam vender ao mundo?”
A resposta veio em uma voz irritada, mas contida:
“Que Holanda? Quem disse que você está na Holanda, um país onde as casas têm janelas baixas dando para a rua, com cortinas rendadas para que todo mundo possa ver o que está se passando lá dentro, que ninguém está pecando, que a vida de cada família é um livro aberto? Isso é a Holanda, minha filha: um país dominado pelo calvinismo, onde todos são pecadores até prova em contrário, o pecado mora no coração, na mente, no corpo, nas emoções. E onde apenas a graça de Deus pode salvar alguns, mas não todos, apenas os escolhidos. Você é daqui, ainda não entendeu isso?”
Acendeu um cigarro e continuou vendo que a moça, antes tão arrogante, agora parecia intimidada.
“Isto aqui não é Holanda, minha jovem, é Amsterdam, com prostitutas nas janelas e drogas nas ruas — cercada por um cordão sanitário invisível. Ai daqueles que ou sem levar essas ideias para longe do distrito onde está a cidade. Não apenas serão mal recebidos, mas não conseguirão sequer um quarto de hotel se não tiverem vestidos com roupas apropriadas. Você sabe disso, não sabe? Então por favor se afaste e nos deixe trabalhar.”
Quem se afastou foi o homem, deixando Karla com um ar de quem tinha acabado de levar um soco. Paulo tentou consolá-la, mas ela murmurou para si mesma.
“É isso mesmo. Ele tem razão, é assim mesmo”.
Como era assim mesmo? O guarda na fronteira usava brinco!
“Existe um muro invisível em torno da cidade”, ela respondeu. “Vocês querem ser loucos? Então vamos achar um lugar onde todo mundo possa fazer quase tudo o que quer, mas não ultrapassem esse limite, porque serão presos por tráfico de drogas, mesmo que estejam apenas consumindo, ou por atentado ao pudor, porque precisam usar sutiã, manter o recato e a moral, ou este país jamais irá para a frente.”
Paulo estava um pouco surpreso. Ela começou a afastar-se:
“Nos encontramos aqui às nove da noite — eu prometi que ia levá-lo para escutar a VERDADEIRA música e dançar.”
“Mas não precisa…”
“Claro que precisa. Não falte, porque nunca um homem me deixou plantada e fugiu.”
Karla tinha suas dúvidas — arrependia-se de não ter participado daquela dança e canto na rua, teria se aproximado mais dele. Mas, enfim, esses são os riscos que qualquer casal precisa correr.
Casal?
“Vivo acreditando em tudo que as pessoas me dizem e acabo sempre me decepcionando”, ela costumava ouvir. “Isso não acontece com você?”
Claro que acontecia, mas com 23 anos sabia defender-se melhor. E a única opção — além de confiar nas pessoas — era se transformar em alguém que vivia sempre na defensiva, incapaz de amar, tomar decisões, sempre transferindo para os outros a culpa de tudo de errado. Qual a graça de viver assim?
Todo mundo que confia em si mesmo confia nos outros. Porque sabe que, quando for traído — e será traído, isso é da vida — é capaz de revidar. Parte da graça da vida está justamente nisso: correr riscos.
A tal boate a que Karla o havia convidado, com o sugestivo nome de Paradiso, era na verdade uma… igreja. Uma igreja do século XIX, originalmente construída para abrigar um grupo religioso local, que já em meados dos anos 1950 notara que não era mais capaz de atrair muita gente, apesar de ser uma espécie de reforma da Reforma luterana. Em 1965, por causa dos custos de manutenção, os últimos fiéis resolveram abandonar o edifício, dois anos depois ocupado pelos hippies que acharam ali, na nave principal, o lugar perfeito para discussões, palestras, concertos e atividades políticas.
A polícia os expulsou pouco depois, mas o lugar continuou vazio, e os hippies voltaram em peso e em grande número — a solução seria usar a violência ou deixar que as coisas continuassem assim. Um encontro entre representantes dos cabeludos devassos e a municipalidade impecavelmente vestida permitiu que pudessem instalar um palco no lugar onde ficava o antigo altar, desde que pagassem impostos sobre cada ingresso vendido e tivessem muito cuidado com os vitrais na parte posterior.
Os impostos, claro, nunca foram pagos — os organizadores alegavam sempre que as atividades culturais eram deficitárias, e ninguém pareceu se importar com isso ou considerar outra expulsão. Por outro lado, os vitrais eram mantidos limpos, qualquer pequena fissura era logo restaurada com chumbo e vidro colorido, e assim demonstravam a glória e a beleza do Rei dos Reis. Quando perguntavam por que tinham tanto cuidado, os encarregados diziam:
“Porque são bonitos. E deram trabalho para ser concebidos, desenhados, colocados no lugar — estamos aqui para mostrar nossa arte, e respeitamos a arte de quem nos precedeu.”
Quando entraram, as pessoas dançavam ao som de um dos clássicos da época. O teto altíssimo fazia com que a acústica não fosse das melhores, masque importância tinha isso? Por acaso Paulo havia pensado em acústica quando cantava Hare Krishna nas ruas? O mais importante era ver que todos sorriam, se divertiam, fumavam, trocavam olhares que podiam ser de sedução ou apenas de admiração. A essa altura, ninguém precisava mais pagar entrada ou impostos — a prefeitura havia se encarregado de não apenas evitar que transgredissem a lei, como em cuidar da propriedade, agora subsidiada.
Pelo visto, além da mulher nua com a tulipa no sexo, havia um grande interesse em transformar Amsterdam na capital de algum tipo de cultura — os hippies ressuscitaram a cidade, e a ocupação hoteleira, segundo Karla, tinha aumentado; todos queriam ver aquela tribo sem líder e sobre a qual se dizia — falsamente, claro — que as meninas estavam sempre dispostas a fazer amor com o primeiro que aparecesse.
“Holandeses são inteligentes.”
“Claro. Já conquistamos o mundo inteiro, inclusive o Brasil.”
Subiram para um dos balcões que circundavam a nave principal. Um milagre de acústica não existente permitia que ali pudessem conversar um pouco, sem a interferência do som altíssimo lá embaixo. Mas nem Paulo nem Karla queriam conversar — debruçaram-se sobre a amurada de madeira e ficaram olhando as pessoas que dançavam. Ela sugeriu que descessem e fizessem o mesmo, mas Paulo disse que a única música que realmente sabia dançar era Hare Krishna / Hare Rama. Os dois riram, acenderam um cigarro, , e logo em seguida Karla fez um sinal para alguém — através da fumaça ele pôde ver que era outra menina.
“Wilma”, disse ela, se apresentando.
“Estamos embarcando para o Nepal”, comentou Karla. Paulo riu da piada.
Wilma assustou-se com o comentário, mas nada fez para demonstrar suas emoções. Karla pediu licença para conversar com a amiga em holandês, e Paulo continuou olhando para as pessoas que dançavam lá embaixo.
Nepal? Então a menina que acabara de encontrar e parecia gostar da companhia dele iria partir em breve? E usara um “estamos”, como se tivesse companhia para tal aventura. Para um lugar tão distante, com uma passagem que devia custar uma fortuna?
Estava adorando Amsterdam, mas sabia a razão: não estava sozinho. Não era obrigado a puxar conversa com ninguém, logo no primeiro momento encontrara uma companhia e gostaria de navegar com ela por todos os lugares ali. Dizer que estava começando a se apaixonar era um exagero, mas Karla tinha um temperamento que ele adorava — sabia exatamente onde queria chegar.
Mas chegar ao Nepal? Com outra menina, que mesmo que não quisesse terminaria sendo obrigado a vigiar e proteger — porque assim lhe fora ensinado por seus pais? Isso estava além das suas possibilidades financeiras. Sabia que precisava partir cedo ou tarde daquele lugar encantado e seu próximo destino — se assim permitisse a aduana local — seria Piccadilly Circus, e as pessoas que também ali chegavam de todo mundo.
Karla continuava a conversa com a amiga, e ele fingia que estava interessadonas músicas: Simon & Garfunkel, Beatles, James Taylor, Santana, Carly Simon, Joe Cocker, B. B. King, Creedence Clearwater Revival — uma lista imensa que crescia a cada mês, a cada dia, a cada hora. Sempre haveria o casal brasileiro que encontrara aquela tarde, e que podia servir de porta para outras pessoas, mas deixar que partisse assim quem mal tinha chegado a sua vida?
Escutou os acordes familiares dos Animals e lembrou que havia pedido a Karla que o levasse a uma casa do sol nascente. O final da música era assustador, ele sabia do que se tratava a letra, mas mesmo assim o perigo atrai e fascina.
A inspiração tinha vindo de repente, precisava explicar a Wilma.
“Que bom que você se controlou. Poderia ter estragado tudo.”
“Nepal?”
“Sim. Porque um dia eu vou ser velha, gorda, com um marido ciumento, filhos que não me deixam cuidar de mim mesma, um trabalho de escritório para repetir todos os dias as mesmas coisas e terminarei me acostumando comisso, com a rotina, com o conforto, com o lugar onde vivo. Sempre posso voltar para Rotterdam. Sempre posso desfrutar das maravilhas do seguro-desemprego ou do seguro social que nossos políticos dão. Sempre posso terminar presidente da Shell ou da Philips ou da United Fruit, porque sou holandesa e eles só confiam em pessoas de sua terra. Mas ir ao Nepal tem que ser agora ou nunca — já estou ficando velha.”
“Aos 23 anos?”
“Os anos passam mais rápido do que você pensa, Wilma, e aconselho você afazer o mesmo. Arrisque agora, quando ainda tem saúde e coragem. Nós duas concordamos que Amsterdam é um lugar chatíssimo, mas achamos isso porque nos acostumamos. Hoje, quando vi o brasileiro e como seus olhos brilhavam, descobri que a chata era eu. Não enxergava mais a beleza da liberdade, porque estava acostumada com isso.”
Olhou para o lado e viu Paulo de olhos fechados, escutando “Stand by Me”.Continuou:
“Então eu preciso redescobrir a beleza — apenas isso. Saber que, embora eu vá retornar um dia, ainda há muitas coisas que não vi e não experimentei.
Onde irá meu coração, se não conheço ainda os muitos caminhos? Qual será o meu próximo destino, se ainda não saí daqui como devia? Que colinas terminarei escalando, se não vejo corda nenhuma para me segurar? Vim de Rotterdam para Amsterdam com esse propósito, tentei convidar vários homens para seguir em direção aos caminhos inexistentes, aos barcos que nunca chegam ao porto, ao céu sem limites, mas todos se negaram — todos tiveram medo de mim ou do destino desconhecido. Até que esta tarde encontrei o brasileiro; independentemente do que eu achava, ele seguiu os Hare Krishna pela rua, cantando e dançando. Tive vontade de fazer a mesma coisa, mas minha preocupação de me mostrar uma mulher forte me impediu. Agora não vou mais duvidar.”
Wilma continuava sem entender muito bem por que o Nepal, e como ele ahavia ajudado.
“Quando você chegou e comentei sobre o Nepal, pressenti que era a coisa mais certa a fazer. Porque na mesma hora notei que ele não demonstrou apenas espanto, mas medo. A deusa deve ter me inspirado a dizer isso. Não estou tão ansiosa como de manhã, como a semana inteira — quando cheguei a duvidar que não ia ser capaz de cumprir esse sonho.”
“Você tem esse sonho há muito tempo?”
“Não. Começou com um recorte de um anúncio em um jornal alternativo. Apartir daí não me sai da cabeça.”
Wilma ia perguntar se ela tinha fumado muito haxixe durante o dia, mas Paulo acabara de se aproximar.
“Vamos dançar?”, perguntou ele.
Ela o pegou pela mão e desceram juntos para a nave central da igreja. Wilma ficou sem saber para onde ia, mas isso não devia ser um problema por muito tempo; assim que a vissem sozinha, alguém iria aproximar-se e puxar conversa — todos falavam com todo mundo.
Quando saíram para a chuva fina e o silêncio, seus ouvidos zumbiam por causa da música. Precisavam gritar um com o outro.
“Você vai estar por aqui amanhã?”
“Vou estar no mesmo lugar em que você me encontrou pela primeira vez. Depois preciso ir para o lugar onde vendem as passagens de ônibus para o Nepal.”
Nepal de novo? Passagem de ônibus?
“Você pode vir junto, se quiser”, disse como se estivesse fazendo um grande favor para ele. “Mas gostaria de levá-lo para um passeio fora de Amsterdam; já viu algum moinho de vento?”
Ela riu da própria pergunta — era assim que o resto do mundo imaginava seu país: tamancos, moinhos de vento, vacas, vitrines com prostitutas.
“Nos encontraremos no lugar de sempre”, respondeu Paulo, entre ansioso e contente porque ela — aquele modelo de beleza, com os cabelos cheios de flores, uma saia longa, um colete bordado com espelhos, o cabelo bem penteado, o perfume de patchuli, aquela maravilha toda — gostaria de encontrar com ele de novo. “Estarei aqui por volta de uma da tarde. Preciso dormir um pouco. Mas nós não íamos a uma das casas do sol nascente?”
“Eu disse que lhe mostraria uma. Não disse que iria com você.”
Caminharam menos de duzentos metros até um beco onde havia uma porta sem letreiro algum e nenhum som de música.
“Ali tem uma. Gostaria de lhe dar duas sugestões.” Havia pensado na palavra“conselho”, mas seria a escolha mais errada do mundo.
“Não saia de lá com nada — a polícia que não estamos vendo deve estar em uma dessas janelas, vigiando quem visita o local. E geralmente revista os que saem. E quem sair com alguma coisa vai direto para a cadeia.”
Paulo assentiu com a cabeça e perguntou qual era a segunda sugestão.
“Não experimente.”
Tendo dito isso, deu-lhe um beijo nos lábios — um casto beijo que prometia muito, mas não entregava nada —, virou-se e dirigiu-se para o seu dormitório. Paulo ficou ali sozinho, se perguntando se deveria ou não entrar. Talvez fosse melhor voltar para seu dormitório e começar a colocar na jaqueta os apliques de metal em forma de estrela que tinha comprado naquela tarde. Entretanto, a curiosidade foi mais forte, e ele dirigiu-se até a porta.