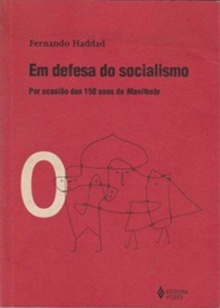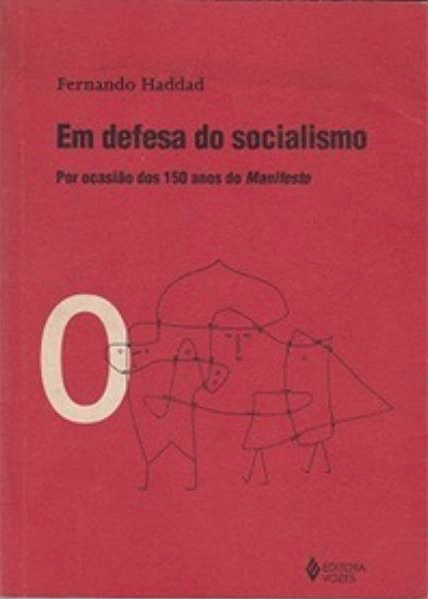
Trata-se de uma coletânea de entrevistas feitas por F. Haddad, com intelectuais comprometidos com um pensamento transformador, e que têm coragem de erguer a cabeça, colocar-se contra essa onda neofestiva da política nacional.
Editora: Editora Vozes; 2ª edição (1 janeiro 1998); Páginas: 168 páginas; ISBN-10: 8532619975; ISBN-13: 978-8532619976
Leia trecho do livro
Prefácio
Paul Singer
Em defesa do socialismo, de Fernando Haddad, lembra o Manifesto Comunista de Marx e Engels muito mais do que o subtítulo. Ele, de alguma maneira, cobre o mesmo terreno do Manifesto: propõe um diagnóstico do capitalismo atual, que chama de “superindustrial”, para sinalizar sua etapa contemporânea (superior à etapa “industrial” da época de Marx e Engels); desenvolve uma nova teoria das classes neste capitalismo, distinguindo uma classe proprietária e três classes não-proprietárias; analisa diferentes inter-relacionamentos destas classes para propor toda uma estratégia de luta pelo socialismo que possa unir as classes não proprietárias nesta empreitada.
Alguns poderão achar que é muita pretensão elaborar um novo Manifesto no final do século XX, mas (felizmente) não faltou pretensão aos dois jovens intelectuais alemães — Marx não tinha completado 30 anos e Engels, 28 — para escreverem um texto que mudou o curso da história e a maneira de entendê-la. Fernando Haddad tem capacidade para fazer o que se propôs e seu texto poderá abrir um debate que já estava tardando. As suas respostas são evidentemente discutíveis, mas não cabe dúvida que ele se faz as perguntas certas.
Eu resumiria as questões centrais nos seguintes termos: o novo capitalismo mudou a organização da produção e os processos de trabalho. Que estrutura de classes é determinada pelas atuais relações sociais de produção? Como se relacionam estas novas classes, ao redor de que elas lutam? Que programa de revolução social poderia unificar as classes não-proprietárias, dadas as tendências excludentes da economia atual e alienante do correspondente sistema de representação política?
Era necessário que alguém tivesse a audácia e a pretensão de oferecer uma resposta articulada e consistente a estas questões. A resposta de Fernando Haddad tem multo o caráter de hipóteses a serem verificadas por um extenso programa de pesquisas. Seu mérito maior está em demonstrar que é possível tratar destas questões em conjunto e que é possível elaborar uma teoria da revolução social socialista à guisa de resposta. Esta teoria não passa de um esboço, a ser usado como roteiro para a discussão que os socialistas devem a si próprios. Marx e Engels passaram as décadas seguintes ao Manifesto fundamentando as posições assumidas nele. Hoje em dia, o desafio do texto de Fernando Haddad delineia a ele e a todos os interessados uma tarefa análoga.
Em defesa do socialismo
O mundo administrado perdeu controle. De leste a oeste, de norte a sul. O Welfare State se desorganizou. O Sistema Soviético entrou em colapso. O Estado Desenvolvimentista se desarticulou. Do ponto de vista ideológico, o ocaso dessas estruturas, associadas a práticas progressistas, sugere, à primeira vista, a vitória esmaga-dora do pensamento conservador que desde sempre as condenava ao fracasso. Contudo, deve-se reconhecer também que uma certa tradição marxista, muito pouco ouvida politicamente, mas a mais sofisticada teoricamente, jamais imaginou a emancipação humana corno o resultado dessas experiências que ora naufragam. É bem verdade que o descontrole da administração do mundo não estava no horizonte dessa tradição. Mas não seria o caso de também pensá-lo a partir da sua perspectiva e não só da perspectiva hoje hegemônica? Será que o processo em marcha não traz em seu bojo a abertura de brechas que tornam possível a reorganização — a partir do zero, bem entendido — daqueles que crêem na superação positiva da ordem vigente?
Num momento de refluxo do movimento socialista, Marx foi lembrado por um camarada de que, em uma de suas obras, Hegel observa que imediatamente antes que surja algo de qualitativamente novo, o antigo estado recupera a sua essência originária, na sua totalidade simples, ultrapassando todas as diferenças que abandonara enquanto era viável. Esse pode ser, precisamente, o caso da “nova ordem” que aparece como a prova definitiva da superioridade de uma determinada formação social quando, na verdade, seria o simples anúncio de seu esgotamento histórico. Não seria por isso que junto com o neoliberalismo surge uma apaixonada compulsão a anunciar a morte do socialismo e do pensamento crítico? Talvez tudo isso seja uma celebração, mas por que a pressa em encerrá-la, o nervosismo estampado no rosto dos convivas?
I – O legado de Marx
O principal defeito do movimento socialista até aqui foi acreditar que, sob o capitalismo, o desenvolvimento das forças produtivas materiais entraria necessariamente em contradição com as relações de produção vigentes. Em outras palavras, foi não perceber o quão elásticas são as relações de produção capitalistas, o quão adaptável é o sistema, de modo que a dialética entre as relações sociais capitalistas e as forças produtivas da sociedade moderna desdobra-se de uma forma completamente diferente daquela do pré-capitalismo. No pré-capitalismo, as relações de produção eram rígidas, as instituições políticas e jurídicas eram quase imutáveis e se interpunham como barreiras ao progresso material. Nesse contexto, sim, o desenvolvimento econômico provocava frequentemente fissuras no edifício institucional das sociedades, abrindo caminho para eventuais rupturas, levadas a cabo por indivíduos que encontravam terreno fértil para sua pregação. Os socialistas incorreram em erro ao promover uma indevida extrapolação dessa mecânica para a sociedade atual. Pois no caso do capitalismo, ao contrário, o desenvolvimento econômico, longe de ameaçar, legitima o sistema, torna-o progressivamente mais amoldável, amplia o grau de liberdade com que seus gestores podem costurar acordos, alguns sólidos, outros mais frágeis, mas ainda assim acordos, entre os diferentes atores sociais. A luta de classes aguça, afrouxa, recrudesce e se volatiliza numa arena que é tão maior, e portanto permite movimentos menos circunscritos, quanto mais intenso é o grau de desenvolvimento da produção. Os limites do sistema são constantemente alargados. A liberdade de ação, por certo, sofre sempre o constrangimento do ciclo econômico, mas as crises recorrentes, pelo menos até agora, não têm sido capazes de romper o que parece ser o mau infinito da acumulação capitalista.
Curiosamente, no plano estritamente econômico, a teoria do maior pensador socialista era bastante flexível ao formular as leis gerais do sistema capitalista. Toda lei econômica marxista admite contratendências importantes. Tomada em seu conjunto, a obra de Marx, ao mesmo tempo em que indica a tese da pauperização crescente das classes não-proprietárias, relativiza-a ao contemplar a possibilidade de que a luta de classes provoque efeitos distributivos; ao mesmo tempo em que propõe a tese da proletarização das antigas classes sociais, aponta para a emergência e provável crescimento das camadas médias como fruto do desenvolvimento do sistema; ao mesmo tempo em que desnuda a lei tendencial de queda da taxa de lucro, admite sua evitabilidade pelo barateamento dos meios de produção conseqüente do progresso técnico. Contudo, no plano institucional, esse teórico genial considera toda evolução, do sufrágio universal à sociedade por ações, como prenúncios da nova ordem socialista e não como aperfeiçoamentos que vêm dar urna capacidade ainda maior ao sistema de se adaptar às demandas de ordem social e de ordem técnica. Essa deficiência, certamente, não se deve a uma limitação do pensamento de Marx ou do seu método de investigação, mas a uma limitação do seu próprio tempo que não lhe permitiu comprovar em toda sua envergadura a negatividade da sua dialética.
O mesmo tipo de raciocínio se aplica à chamada acumulação primitiva de capital, “acumulação que não decorre do modo capitalista de produção, mas é seu ponto de partida”. Acertadamente, Marx previu que o capitalismo destruiria até as muralhas da China, obrigando todos os povos periféricos ao sistema a adotarem, sob pena de perecimento, o modo burguês de produção. Mas a forma como isso se deu nas diferentes regiões do planeta desrespeitou toda lei e toda lógica. Da mesma forma que os liberais americanos dos séculos XVIII e XIX foram capazes de conservar a escravidão com vistas a acumular o necessário para garantir as condições da futura ordem capitalista, os stalínistas soviéticos do século XX foram capazes de exacerbar o despotismo oriental com essa mesma finalidade. O capital se apropriou de todo passado da humanidade, tomou suas instituições como cápsulas vazias e lhes deu novos conteúdos, novas funções e novos desígnios. Deu à luz a escravidão e o despotismo oriental modernos que dos seus antepassados guarda a aparência sem deles ter herdado um único gene. Todos os caminhos levaram à Roma do capitalismo finalmente mundializado, mas cada nação adotou seu passo e sua trilha, sendo que cada uma tem sua própria fábula para narrar e deve fazê-lo sem esquecer, naturalmente, que a época de transformação pela qual passou não deve ser julgada a partir da sua própria consciência, mas sim a partir das contradições e constrangimentos reais da vida material. Pouco importa o que os Pais Fundadores e o Grande Irmão pensavam fazer se, na verdade, mantinham os grilhões mesmo que em nome da liberdade.
Sob o capital, os vermes do passado, por vezes prenhes de falsas promessas, e os germes de um futuro que não vinga, tudo concorre para convalidar o presente, enredado numa eterna reprodução ampliada de si mesmo, e que, ao se tornar finalmente onipresente, pretende arrogantemente anular a própria História. Esse é o desafio que se põe aos socialistas. A tarefa, 150 anos atrás, parecia bem mais fácil. Pensava-se poder contar com o curso das coisas. Mas o curso das coisas só faz nos manter sob seu império. O processo chegou a tal ponto de tenebrosa sofisticação que envolveu o plano da cultura e do comportamento. A todo movimento social contestador de cunho particular corresponde o surgimento de uma nova indústria. Toda demanda social de transformação cultural ou comportamental é satisfeita, não com o revolucionamento dos hábitos e costumes sociais, mas com a oferta abundante de mercadorias e a radicação das consciências. O caso mais eloqüente dessa mecânica talvez seja o movimento de libertação sexual que, “vitorioso”, ao invés de gerar uma sociedade genuinamente erótica, deu ensejo a um duplo movimento de erotização do consumo de bens e de objetivação das relações sexuais, dessublimação repressiva que desemboca na indústria pornográfica. E o que aconteceu com a sexualidade é o paradigma para entender o que se passa com o lazer, a espiritualidade, a ecologia a que correspondem a indústria do entretenimento, a indústria da salvação, a indústria do turismo. O tempo livre, a alma e, quem diria, uma prótese de primeira natureza, tudo é insumo precioso na busca do lucro. Sob o pretexto de satisfazer as necessidades humanas, a parafernália capitalista não faz mais do que zelar pela sua perpetuação, rebaixando os homens a meios de sua própria conservação. A saída desse turbilhão capitalista, portanto, não passa por qualquer tipo de reivindicação parcial, pelos chamados movimentos alternativos de protesto, que na melhor das hipóteses “civilizam” o sistema sem superá-lo. Hoje, como antes, continua valendo a velha ideia de que “a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes”. Só que a essa história há que se acrescentar um novo capítulo.
Poucas áreas do conhecimento alimentaram tantos qüiproquós conceituais quanto as teorias de classes, desenvolvidas ao longo do século XX. Os burocratas, estatais e privados, foram acusados de compor uma nova classe dominante. Assim se passou também com os gerentes, os trabalhadores qualificados e os intelectuais. Criaram-se novos conceitos: white collar, trabalhador em escritório, nova classe média, tecnocracia, etc. Velhos conceitos ressurgiram: casta, oligarquia, etc. A um só tempo, anunciaram a desqualificação e a qualificação de todo trabalho. Falou-se — às vezes o mesmo teórico em momentos diferentes de sua trajetória — de uma nova classe operária, composta por técnicos e engenheiros, assim como de uma não-classe dos não-trabalhadores, composta por aqueles que ocupavam posições precárias no mercado de trabalho. Uniram o lúmpenproletariado ao exército industrial de reserva e apartaram-nos dos trabalhadores com emprego. Fundiram, cindiram, liquidificaram, reclassificaram, tudo à maneira positivista, ou seja, ao bel-prazer do pesquisador.
Tudo isso teve sua razão de ser. A realidade parecia ter desautorizado a afirmação de que a época burguesa teria simplificado os antagonismos de classe. No pré-capitalismo, Marx constata uma escala graduada de condições sociais. Em Roma, patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres, companheiros. Já no capitalismo, Marx supunha que a sociedade se dividiria em apenas duas classes diametralmente opostas — a burguesia e o proletariado previsão
—; que, aparentemente, não se verificou. Contudo, elaborar uma teoria mais complexa não permite declará-la per se mais fiel a uma realidade mais complexa; ela pode muito bem ser apenas mais confusa, se lhe falta o método adequado.
O conceito de classe social em sentido pleno é corretamente definido, dentro do discurso materialista, pelas relações de distribuição que são expressão imediata das relações de produção. Quando Marx refere-se às três grandes classes, a dos trabalhadores assalariados, a dos capitalistas e a dos proprietários fundiários, não quer dizer que existam outras pequenas camadas dignas do nome classe. Embora, por vezes, Marx use esta denominação para se referir a outros grupos distintos dos três grandes, do ponto de vista da dinâmica do sistema, a ele só interessava estudar as tendências relativas ao comportamento daqueles grupos imediatamente ligados ao processo de reprodução material da sociedade. Esse é o motivo pelo qual Marx, apesar de prever o aumento numérico relativo dos serviçais domésticos ou dos funcionários de Estado, não lhes dedica atenção especial. Ainda que assalariada, essa camada não vende sua força de trabalho diretamente ao capital, como é o caso dos trabalhadores da indústria (da fábrica e do escritório), do comércio e das finanças, e, como tal, não pertence nem constitui propriamente uma classe social.
Quanto aos limites de uma dada classe, superior e inferior, aqui também o critério para defini-los não pode ser outro senão o materialista. No limite superior, indaga-se até que ponto um trabalhador com alta qualificação e alta remuneração pode ser considerado membro do proletariado. No plano inferior, indaga-se até que ponto o desempregado pode ser considerado membro do proletariado. Nos dois planos, a resposta só pode ser; até o limite em que a diferença entre essas camadas e o trabalhador simples empregado, determinada ou anulada pelo processo real de produção, é de tal ordem que ela se transforme em contradição. O gerente que é assalariado, mas participa ativamente da gestão da empresa, da sua política de cortes e contratações, da formulação do seu organograma, da sua política salarial, etc., e que submete todas essas decisões ao princípio da maximização do lucro, esse indivíduo, não por suas disposições subjetivas, mas pelo lugar que ocupa no processo de produção, como funcionário do capital, ainda que não proprietário dele, pertence à classe burguesa. Correlativamente, o desempregado cuja força de trabalho não é mais útil ao capital, ou seja, cujas habilidades tornaram-se urna mercadoria sem valor, esse pobre diabo, por não ter o que vender, nem a si mesmo, não pertence ao proletariado. O exército industrial de reserva, não obstante, pela expectativa de seus membros de ainda poderem vender sua força de trabalho na fase expansiva do ciclo dos negócios, compõe a classe dos trabalhadores assalariados. Resumidamente, portanto, a teoria marxista de classe colocava sob a rubrica de proletariado a massa de trabalhadores que vendia sua força de trabalho diretamente ao capital — industrial, comercial ou financeiro — e o exército industrial de reserva; e colocava sob a rubrica de burguesia os capitalistas, a alta gerência e os proprietários fundiários.
Tudo andava conforme o previsto, até que uni fenômeno da maior importância, que apenas se delineava no século passado, tomou conta do cenário, particularmente após a Segunda Grande Guerra: a transformação da ciência em fator de produção. É certo que Marx foi o primeiro economista a declarar que “a burguesia só poderia existir com a condição de revolucionar incessante-mente os instrumentos de produção”. Na década de 1850, Marx foi muito mais além, ao ter afirmado que, à medida que a grande indústria se desenvolvesse, ainda que a posição do trabalho social na forma da oposição entre capital e trabalho permanecesse o último desenvolvimento da relação valor, a criação da riqueza efetiva não guardaria mais relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas dependeria cada vez mais da situação geral da ciência, do progresso da tecnologia e da utilização da ciência na produção. No século XIX, nenhum outro economista, clássico ou neoclássico, insistiu tanto na ideia de que o progresso tecnológico era inerente à lógica de autovalorização do capital, ou melhor, era, a um só tempo, premissa e resultado da reprodução capitalista. E a superioridade da abordagem de Marx era tamanha que esse crítico empedernido do capitalismo foi aquele que projetou com maior precisão o que seriam as “conquistas materiais” desse modo de produção: o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, o constante progresso dos meios de comunicação e transporte, o surgimento dos grandes centros urbanos e o esvaziamento do campo, a supressão da dispersão dos meios de produção, concentrados e centralizados em grandes corporações, tudo foi visto e, de certa forma, antevisto por Marx, que poderia ser considerado um visionário, não fosse o rigor do método que lhe permitiu tais descobertas. Décadas se passaram até que finalmente um economista conservador se sentisse obrigado a reconhecer o óbvio, mesmo que adotando; é claro, premissas diferentes das de Marx.
Contudo, como. não poderia deixar de ser, foi esse mesmo economista que, na década de 1940, observou uma mudança na produção que viria a jogar um papel-chave na contemporaneidade. O processo de autovalorização do capital acaba por endogeneizar o processo de produção da própria ciência e tecnologia, a partir da criação nas empresas capitalistas dos Departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento. Essa modificação, que pode ser enfocada exclusivamente a partir de uma perspectiva interna à lógica do capital, contou, para seu pleno desenvolvimento, com fatores externos a ela, mas dela derivados. A adoção de políticas keynesianas anticíclicas, que, contra o senso comum, permitiram o desentrave completo do processo de concentração e centralização do capital, o acirramento das disputas interestatais por matérias-primas e pelo capital financeiro que engordou os orçamentos de pesquisa científica dos programas militar e depois espacial, beneficiados ainda mais pelo posterior advento da Guerra Fria, a universalização do ensino básico e, em seguida, nos países centrais, do ensino superior, público ou não, tudo isso preparou e adubou o terreno dessa transformação radical do processo de produção.
Do ponto de vista estrito da teoria de classes, essa transformação do processo produtivo não poderia deixar de trazer profundas conseqüências. A principal delas foi a emergência de uma nova classe social, uma classe associada a um novo fator de produção — a ciência —, ou seja, urna classe que, como as outras, é expressão imediata das relações de produção: a classe dos cientistas, engenheiros, técnicos e consultores contratados pelo capital para promover um contínuo processo de inovação tecnológica e administrativa interno às empresas. Sob a rubrica esdrúxula de capital humano, todo modelo teórico recente introduz como argumento da função de produção o fator que essa classe controla. Dirão os menos atentos que se trata de empregados do capital cujo rendimento tem a forma de salário e que, portanto, pertencem à classe dos trabalhadores assalariados, ou seja, trabalhadores qualificados que compõem o chamado trabalhador coletivo. Contudo, essa classe difere da categoria dos trabalhadores qualificados por várias razões.
Em primeiro lugar, o rendimento de um agente inovador, apesar da forma que assume, não é, a rigor, salário. Esse rendimento, aliás, guarda algumas semelhanças com a renda fundiária. Da mesma forma que a propriedade fundiária é, corno seu pressuposto, o outro do capital, e a renda fundiária é a contrapartida do monopólio da classe proprietária da terra, a ciência como fator de produção é o outro cio trabalho, e a renda do saber é a contrapartida da posse oligopolística de conhecimento relativamente exclusível, para usar um jargão dos economistas. O processo de inovação tecnológica que, nos tempos de Marx, podia ser visto como uma sucessão de pontos discretos relativamente visíveis, tornou-se, com a internalização da ciência como fator de produção, um processo contínuo. Quando um certo quantum de conhecimento relativamente exclusível incorpora-se a uma nova mercadoria, ela goza do mesmo grau de irreprodutibilidade daquele fator de produção que a concebeu. Até que esse conhecimento relativamente exclusível deixe de sê-lo, os preços das novas mercadorias sofrem uma distorção na exata medida do saber que elas comportam. Dessa distorção apropriam-se os capitalistas proprietários dos meios de produção da ciência e os agentes inova-dores que os põem em marcha.
Em segundo lugar, a atividade inovadora, ao contrário do trabalho qualificado, não produz valor. A internalização da ciência ao processo produtivo por meio da contratação, pelo capital, de agentes inovadores, fenômeno estranho ao século XIX, não muda o fato de que, por exemplo, o “custo de concepção” de uma nova mercadoria não se confunde com o “custo”, medido em trabalho social, de reproduzi-la industrialmente, que é a única medida do seu valor. Sem dúvida, o resultado da atividade de pesquisa e desenvolvimento se incorpora as.: mercadorias. Mas ela não é uma atividade produtiva, tio sentido exato da palavra. Ela não produz mercadorias, embora funcione como promotora do aperfeiçoamento do processo de produção de mercadorias.
Em terceiro lugar, a atividade inovadora não tem relação com o tempo de trabalho. Em outras palavras, o agente inovador, ao contrário do trabalhador qualificado, não tem jornada de trabalho. Ele pode até ser obrigado a bater o ponto, o que em geral não acontece, mas, a rigor, não tem jornada fixa. Isto só é possível porque os agentes envolvidos com o processo de inovação exercem atividades de cunho teórico abstrato, dos técnicos até os cientistas, passando pelos engenheiros e consultores. Essas atividades, como se sabe, não têm hora. Se o trabalhador simples vende ao capital força física e o trabalhador qualificado, força mental, os agentes inovadores vendem força anímica — criativa — que, diferentemente, não está quase nunca sob seu comando no seu “tempo livre”.
Em quarto lugar, o padrão de reprodutividade dessa força produtiva guarda mais relação com o antigo virtuose medieval do que com o trabalhador moderno. O processo de sua reprodução já não é anônimo. A rigor, o tipo ideal de agente inovador é o pós-graduado que se submeteu a urna orientação pessoal de alguém que detém uma parcela de conhecimento não totalmente socializado (saber de fronteira), seja por conta do nível de profundidade, seja por conta do grau de especialização. Há, por certo, muitos agentes inovadores autodidatas ou que não contaram com um apoio pessoal à moda da relação mestre/aprendiz medieval ou, ainda, que não contaram com nenhum apoio institucional, estatal ou privado. Esses casos, não obstante, tendem a se tornar cada vez mais raros.
Há quem queira, pelas particularidades dessa classe, defini-la como uma classe média. Certamente, a totalidade dos agentes inovadores merece a denominação de classe por deter aquilo que deixa de ser simples produto social para se tornar mais um fator de produção. Como as demais classes, ela é a expressão imediata de novas relações de produção, postas pelo capital. Mas essa classe é simplesmente outra classe e, a título nenhum, encontra-se no meio de quaisquer outras duas. Há outros que preferem classificá-la corno uma das categorias que compõem uma suposta nova classe trabalhadora. Essa classe, contudo, é distinta da classe dos trabalhadores assalariados pelo simples fato de não vender propriamente força de trabalho — insumo que, ao contrário do que se afirma atualmente, não desaparece do processo de produção. A relação que esta classe estabelece com a classe dos capitalistas é de outra natureza: se, por um lado, ela envolve o conceito de alienação, tanto quanto a relação entre capitalistas e trabalhadores, pois esses agentes não comandam a utilização do saber de que dispõem, por outro, ela não envolve a noção de exploração, tanto quanto a relação entre capitalistas e proprietários fundiários, pois sua atividade não produz valor.
Hoje, essa classe, nos países desenvolvidos, já soma milhões. Ainda que numericamente ela não possa ser á soma comparada à classe do proletariado, mesmo se considerado o contingente científico de reserva alocado nas universidades, onde ela se reproduz, seu modo de ser, seus hábitos e sua visão de mundo imprimem cada vez mais suas marcas na cultura contemporânea; entre outras coisas, porque seus valores e interesses, relativamente aos do proletariado, estão sobrerepresentados na mídia e, em parte, incorporados aos bens produzidos pela indústria cultural onde ela exerce um papel fundamental. Por outro lado, sua participação no produto, somada aos lucros extraordinários que gera, aumenta continuamente. É uma das classes sociais que mais cresceu em termos absolutos e relativos. Não há urna única corporação importante no mundo que não conte com uma pequena ou grande legião de pesquisadores, cientistas, engenheiros e consultores. Em algumas indústrias de ponta, a renda do saber supera o total dos salários pagos. Numa das novas indústrias mais importantes, a indústria de softwares, encontramo-la cm estado puro, cristalino. Nesse caso, temos uma indústria literalmente sem operários, que, a rigor, não produz valor. O preço de um software é pura renda do saber daqueles envolvidos na sua elaboração, renda que é rateada com o capitalista que adiantou os “salários” durante os meses ou anos que o projeto consumiu. Como o saber, assim como a terra, só produz renda se seu uso for, por força de lei, excludente, pode-se dizer que o correlato moderno da velha cerca de arame farpado é a patente devidamente reconhecida e protegida. Sem a patente, o preço de um software cairia a zero, já que zero é a quantidade de trabalho socialmente necessário para reproduzi-lo. A patente, hoje mais do que nunca, assim como a cerca ontem são condições necessárias do capital. A elas o capital deve sua emergência e seu dinamismo.
Ao esquema de Marx, que descreve as etapas de desenvolvimento da indústria capitalista, deve-se, portanto, acrescentar um estágio adicional. No primeiro estágio, a manufatura substitui a antiga organização feudal da indústria que, circunscrita a corporações fechadas, já não podia atender à demanda que crescia com a abertura de novos mercados. Com a ampliação desses, a própria manufatura tornou-se insuficiente para satisfazer as necessidades que cresciam ainda mais. A grande indústria supera a manufatura. Posteriormente, contudo, observa-se a emergência da superindustria capitalista, entendida como aquela que internaliza o processo de inovação tecnológica, que, finalmente, exponencia o desenvolvimento das forças produtivas e a ampliação dos mercados numa escala nunca imaginada.
A cada etapa dessa evolução corresponde, como sabia Marx, uma etapa política distinta: manufatura e monarquia absoluta; grande indústria e Estado de direito representativo moderno. Quanto à superindustria, numa primeira fase, nos chamados anos dourados do capitalismo, a ela corresponde o Welfare State. A superindustria, inicialmente, é a base material que permite um avanço inaudito das conquistas do movimento sindical. Ela garante, pela riqueza que produz, a margem de manobra necessária para um compromisso de classe. Chegou-se a imaginar que o capitalismo poderia, pelo menos nos centros tecnologicamente dinâmicos, erradicar a miséria e até mesmo a pobreza. Declarou-se, por conta da pacificação do conflito de classes operada pelo Estado social, que a teoria de classes teria perdido suas referências empíricas. Mas, a superindustria nesse período apenas esboçava seus primeiros movimentos. Ao contrário das outras formas de organização da indústria, suas predecessoras, a superindustria possui uma característica que a torna o modelo por excelência o mais adequado ao modo capitalista de produção. Enquanto todos os outros modelos tornam-se obsoletos com a ampliação dos mercados consumidores, no caso da superindustria há uma inversão dessa regra: os mercados (nacionais) é que se tornam cada vez mais restritos para essa forma de organização da produção. Se a grande indústria criou o mercado mundial, a superindustria acaba por destruir as bases nacionais sobre as quais ele se assentava, e, com elas, a base formal do próprio Welfare State que ainda podia operar, por vários mecanismos de gestão, a socialização de suas “conquistas materiais”.
A superindustria enseja, então, um processo peculiar de internacionalização da economia, a imprecisamente chamada “globalização”. A base técnica dessa operação é a telemática, produto dileto do capitalismo superindustrial. A telemática, em primeiro lugar, faz crescer a escala ótima de produção de uma infinidade de mercadorias num ritmo muito superior ao crescimento dos mercados nacionais. A expansão do mercado interno deixa de ser garantia de que uma dada economia possa absorver mais e mais plantas industriais de certos produtos. A política interestatal de formação de blocos ou mercados comuns bem como a política interempresarial de fusões e aquisições passam a ser um imperativo da própria dinâmica da acumulação. Por outro lado, a telemática permite, pela capacidade de gerenciamento e monitoramento que propicia, a descentralização da produção dos componentes de um determinado bem por diversos países, reeditando uma nova versão da lei das vantagens comparativas, que favorece a terceirização e a acumulação flexível internacionais, práticas que surgiram no Extremo Oriente, na década de 1950, e que hoje se generalizam. Pode-se agora concentrar a produção de componentes menos sofisticados naqueles países ou regiões que oferecem baixos salários e pouca proteção social para seus trabalhadores, de modo que é muito conveniente para o capital que a formação de blocos econômicos contemple a participação de países ou regiões com essas características. Por fim, a telemática, pela integração total dos mercados financeiros do mundo, permite um mais fácil e especulativo processo de financiamento externo das dívidas públicas internas que custearam, no período anterior, os gastos militares e sociais do Primeiro Mundo e os gastos com a industrialização do Terceiro Mundo semiperiférico.
Diante disso tudo, a posição relativa de cada país no cenário internacional muda a cada rodada de transformações conjunturais. O dinamismo tecnológico, a escala de produção permitida pelo mercado potencial, o poder de cada Estado na disputa pelo capital financeiro internacional, etc. são as variáveis que determinam o nível de atividade e de competitividade de uma economia. Os governos neoliberais, expressão política dessa nova fase, menos representativos e mais delegatários, disputam a tapa o título de melhor “comitê para gerir os negócios comuns de toda classe burguesa”. As múltiplas possibilidades de manipulação das variáveis-chave da economia implicam diferentes maneiras de inserção de uma economia nacional na ordem globalizada, algumas mais bem-sucedidas, outras nem tanto. Entretanto, no agregado, uma das conseqüências inevitáveis desse processo é a emergência, em nível mundial, de um lúmpen-proletariado de tipo novo, camada que não é mais “o produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade”, como Marx a definiu, mas o resultado direto da nova forma de organização capitalista. Os desclassificados pelo capital superindustrial, nesse sentido, elementos heterônomos ativos da sociedade moderna, não podem mais ser vistos como uma categoria qualquer e de somenos importância na ordem atual, mas devem passar a ser encarados como urna verdadeira classe social, como as demais, entre outras coisas porque o não rendimento dessa categoria, ou seja, seu rendimento extra econômico oriundo da criminalidade, da mendicância, da pequena extorsão, da chantagem familiar, de favores do Estado, etc., é também uma conseqüência imediata das relações de produção — tanto quanto o salário — e se generaliza assim que o salário de mercado atinge um patamar inferior ao mínimo necessário, historicamente determinado, para a reprodução material dos indivíduos.
Tirante a burguesia, composta pelos proprietários e funcionários do capital, temos, portanto, três classes sociais não-proprietárias. Durante o século XX, a cada uma dessas classes, isoladamente ou não, foi atribuído o papel de liderar a revolução das condições de existência. Muitos continuaram confiando na capacidade do proletariado de romper a ordem estabelecida. Outros preferiram acreditar em quem nada tinha a perder, sequer um emprego digno, como o lúmpen moderno. E um número expressivo de teóricos depositou suas esperanças na classe dos agentes inovadores ou classe tecno-científica. Contudo, nada no capitalismo superindustrial é tão simples assim. O fato é que a condição de vida e a posição no processo produtivo dessas classes ensejam comportamentos diversos que se articulam ironicamente de tal forma que acabam por dar urna certa estabilidade ao sistema. Assim, o interesse particular de cada uma dessas classes, isoladamente consideradas, não parece se confundir com o interesse universal que todas elas juntas eventualmente teriam.
No nível cognitivo-instrumental, há unia coalizão de interesses entre a classe dominante e a classe dos agentes inovadores, de um lado, e a classe dos trabalhadores e dos desclassificados, de outro. As duas primeiras se beneficiam imediatamente do avanço tecnológico nos moldes capitalistas: a primeira, através da apreensão do lucro extraordinário, e a segunda, através da estabilidade e dos privilégios (status, maior renda, etc.) que o processo contínuo de inovação lhe garante. É muito comum, também, que muitos agentes inovadores não se encontrem exclusivamente nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, podendo ocupai, inclusive, postos de gerência, seja na área administrativa, seja na área produtiva. As outras duas categorias vêem nesse mesmo processo de inovação tecnológica, ou um estranhamento ou uma ameaça: quantos empregos uma nova máquina substituirá?; que novos produtos serão dados à percepção, mas não à fruição; etc.
No nível prático-moral, há uma comunhão de valores entre a classe dos agentes inovadores e dos trabalha-dores assalariados, de um lado, e entre a classe dominante e os desclassificados, de outro. No que se refere à liberdade, tanto os agentes inovadores quanto os trabalhadores estão subsumidos intelectual e fisicamente aos imperativos da acumulação de capital. A atividade criativa do cientista e do técnico não está livre desses imperativos. Muito menos o trabalho dos operários do processo de produção. Ao contrário, tanto a classe dominante quanto a dos desclassificados gozam de urna certa liberdade. Estes últimos, por não terem nada, não têm nada a perder. Marx costumava dizer, com ironia, que o proletário é livre em dois sentidos: livre para vender sua força de trabalho e “livre” dos meios de produção. Mas eles não estavam “livres” de um emprego. Os desclassificados estão “livres” até mesmo disso. De certa maneira, eles não têm problemas materiais porque não há solução para eles. A classe dominante, num outro sentido, está igual-mente livre desses problemas, mas por estarem todos solucionados. Trata-se de uma liberdade diferente, é claro. Não obstante, o resultado prático-moral da “liberdade” de que goza o lúmpen e da liberdade de que goza o burguês é o mesmo: um descompromisso, tanto quanto possível, com as regras jurídicas e morais que garantem a coesão social, particularmente as regras democráticas.
No nível estético-expressivo, há uma empatia entre a classe dos agentes inovadores e os desclassificados, de um lado, e a classe dominante e a dos trabalhadores, de outro. A positividade da atividade destes últimos praticamente os exclui desta dimensão. No caso dos agentes inovadores e dos desclassificados, sua posição está afetada de negatividade. Os desclassificados são forças produtivas que se transformam em forças destrutivas. Eles mimetizam os efeitos destrutivos da técnica ainda que sem considerar o núcleo racional da mimese que, originalmente, no trato com a natureza, buscava resultados produtivos. Por outro lado, no caso dos agentes inova-dores, a negatividade da atividade técnica e científica está, em primeiro lugar, no seu efeito inegavelmente destrutivo, conseqüência de seu caráter criativo. Mas não é só por esse caminho que os agentes inovadores aproximam-se dos desqualificados. Essa relação é em grande parte mediada por um certo tipo de obra de arte. Embora arte e técnica não se confundam — não se pode desconhecer o valor posicional das ciências na realidade empírica que visa o domínio da natureza —, deve-se reconhecer que tanto na arte quanto na técnica forças idênticas atuam em esferas não idênticas. Com a superindústria, esse vínculo entre arte e técnica se fortalece. Os agentes portadores da ciência, pela primeira vez na história, compõem uma classe, mas ao mesmo tempo, enquanto classe, estão intelectualmente subsumidos ao capital. E se algumas obras de arte denunciam o caráter irracional da realidade capitalista, o comportamento dos desclassificados é a expressão dessa irracionalidade. Essa irracionalidade, imediatamente, amedronta e causa re-volta em todas as camadas sociais, mas, urna vez mediada por certas obras de arte, ela aparece, aos olhos dos agentes inovadores, como uma espécie de reflexo no espelho. Eles são capazes de se reconhecer nela.
A teoria de classes proposta, portanto, embora mantenha, num plano mais geral, uma certa visão dicotômica que coloca proprietários, de um lado, e não-proprietários, de outro, não deixa de assinalar, entretanto, a heterogeneidade que envolve esses últimos, dividindo-os em forças produtivas, forças destrutivas e forças criativas cuja unidade de perspectivas, ainda que possível, não está garantida automaticamente. E como nenhuma das classes não-proprietárias, na sua particularidade, carrega consigo interesses universais, a única forma de construção de um projeto alternativo de sociedade passa pela elaboração de um discurso comum que contemple as peculiaridades de cada uma, mas que as lance para além delas mesmas. O socialismo, para despertar o entusiasmo desses atores sociais, não pode ser regressivo em nenhuma das três dimensões mencionadas. Caso contrário, nunca será possível isolar a classe dominante num pólo e as demais classes no outro, condição necessária da superação da ordem capitalista. Enquanto isso não se dá, o neoliberalismo nos coloca à mercê de governos tecnocráticos, autoritários ou fascistas, dependendo das forças sociais que a classe dominante consegue congregar. Porém, uma coisa é certa: a ideia de um congraçamento universal de classe nos novos marcos políticos do capitalismo parece, a essa altura, pura fantasia.
II – Propostas de políticas socializantes
Fim da Amostra…