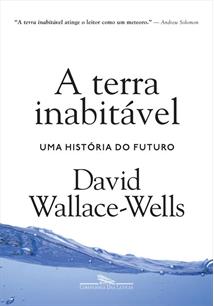Best-seller do New York Times, uma reportagem corajosa e desafiadora sobre os problemas que o século XXI enfrentará por conta do aquecimento global. É pior, muito pior do que você imagina. O ritmo lento atribuído à mudança climática é um mito; talvez tão pernicioso quanto aquele que nega sua existência por completo. Mortes por calor, fome, enchentes, queimadas, queda da qualidade do ar, desertificação, colapso econômico… Essa é só uma amostra do que está por vir. E a mudança acontecerá muito rápido. Se não revolucionarmos por completo o modo como vivem bilhões de seres humanos, partes extensas do planeta se tornarão inabitáveis, e outras serão inóspitas, ao fim deste século que vivemos.
Editora: Companhia das Letras; 1ª edição (5 julho 2019); Páginas: 410 páginas; ISBN-13: 978-6555323429; ASIN: B07RQNF55Y
Leia trecho do livro
Para Risa e Rocca,
minha mãe e meu pai
I. CASCATAS
É pior, muito pior do que você imagina. A lentidão da mudança climática é um conto de fadas, talvez tão pernicioso quanto aquele que afirma que ela não existe, e chega a nós em um pacote com vários outros, numa antologia de ilusões reconfortantes: a de que o aquecimento global é uma saga ártica, que se desenrola num lugar remoto; de que é estritamente uma questão de nível do mar e litorais, não uma crise abrangente que afeta cada canto do globo, cada ser vivo; de que se trata de uma crise do mundo “natural”, não do humano; de que as duas coisas são diferentes e vivemos hoje de algum modo alijados, acima ou no mínimo protegidos da natureza, não inescapavelmente dentro dela e literalmente sujeitados a ela; de que a riqueza pode ser um escudo contra as devastações do aquecimento; de que a queima de combustíveis fósseis é o preço do crescimento econômico contínuo; de que o crescimento e a tecnologia que ele gera nos propiciarão a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental; de que há algum análogo dessa ameaça, em escala ou escopo, no longo arco da história humana, capaz de nos deixar confiantes de que sairemos vitoriosos dessa nossa medição de forças com ela.
Nada disso é verdade. Mas comecemos pela rapidez da mudança. A Terra conheceu cinco extinções em massa antes da que estamos presenciando hoje, cada uma delas uma aniquilação tão completa do registro fóssil que funcionou como um recomeço evolucionário, levando a árvore filogenética do planeta a se expandir e contrair a intervalos, como um pulmão: 86% de todas as espécies mortas, 450 milhões de anos atrás; 70 milhões de anos depois, 75%; 100 milhões de anos depois, 96%; 50 milhões de anos depois, 80%; 150 milhões de anos depois disso, 75% outra vez. A menos que você seja adolescente, no ensino médio provavelmente estudou com livros didáticos que diziam que essas extinções em massa foram consequência de asteroides. Na verdade, todas elas, com exceção da que matou os dinossauros, envolveram a mudança climática produzida por gases de efeito estufa. A mais notória ocorreu há 250 milhões de anos: começou quando o carbono aqueceu o planeta em 5ºC, acelerou quando esse aquecimento desencadeou a liberação de metano, outro gás de efeito estufa, e se encerrou deixando a vida na Terra por um fio. Atualmente lançamos carbono na atmosfera a um ritmo consideravelmente mais acelerado; pela maioria das estimativas, pelo menos dez vezes mais rápido. Essa taxa é cem vezes mais rápida do que em qualquer outro ponto da história humana anterior ao início da industrialização. E neste exato instante há pelo menos um terço a mais de carbono na atmosfera do que em qualquer outro momento nos últimos 800 mil anos — talvez até mesmo nos últimos 15 milhões de anos. Os humanos ainda não estavam por aqui. O nível dos oceanos era pelo menos trinta metros acima do que é hoje.
Muitos enxergam no aquecimento global uma espécie de dívida moral e econômica, acumulada desde o início da Revolução Industrial, e acham que agora a conta chegou, depois de vários séculos. Na verdade, mais da metade do carbono dissipado na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis foi emitido apenas nas últimas três décadas. Ou seja: trouxemos mais prejuízos para o destino do planeta e sua capacidade de sustentar a vida humana e a civilização depois que Al Gore publicou seu primeiro livro sobre o clima do que em todos os séculos — ou milênios — anteriores. As Nações Unidas propuseram uma série de protocolos sobre o clima em 1992, inequivocamente informando o mundo do consenso científico: isso significa que já engendramos mais destruição de caso pensado do que por ignorância. O aquecimento global pode parecer uma prolongada lição de moral se desenrolando ao longo de vários séculos e infligindo uma espécie de represália bíblica aos trinetos dos responsáveis, uma vez que a queima de carbono na Inglaterra do século xvii representa o estopim de tudo o que veio depois. Mas essa fábula sobre perfídia histórica absolve — injustamente — nós que vivemos hoje. A maior parte da queima de carbono ocorreu desde a estreia de Seinfeld. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a proporção é de cerca de 85%. A história da missão camicase do mundo industrial se passa ao longo de uma única vida — o planeta levado da aparente estabilidade à catástrofe iminente nos anos transcorridos entre o batismo ou bar mitsvá e o funeral.
Conhecemos bem essa geração. Quando meu pai nasceu, em 1938 — entre suas primeiras lembranças, as notícias de Pearl Harbor e a mítica força aérea dos filmes de propaganda industrial que vieram em seguida —, o sistema climático parecia, para a maioria dos observadores humanos, estável. Os cientistas haviam compreendido o efeito estufa, e de que maneira o carbono produzido pela queima de madeira, carvão e petróleo podia esquentar o planeta e desequilibrar tudo o que nele vive, por três quartos de século. Mas ainda não tinham visto para valer o efeito, o que o fez parecer menos um fato observável do que uma profecia sombria, a se cumprir somente num futuro distante — talvez nunca. Quando meu pai morreu, em 2016, semanas após a assinatura desesperada do Acordo de Paris, o sistema climático resvalava para a devastação, transgredindo o limiar da concentração de carbono — quatrocentas partes por milhão na atmosfera terrestre, no linguajar sinistramente banal da climatologia — que fora, por anos, a linha vermelho-vivo traçada pelos cientistas ambientais diante do avanço destrutivo da indústria moderna, que dizia: Proibido passar. Claro, isso não nos deteve: apenas dois anos depois, atingimos uma média mensal de 411 partes por milhão, e a culpa impregnou o ar do planeta tanto quanto o carbono, embora preferíssemos acreditar que não a respirávamos.
Essa foi também a geração de minha mãe: nascida em 1945, filha de imigrantes judeus alemães que escaparam dos fornos onde seus parentes foram incinerados, e então gozando de seus 73 anos em um paraíso americano de bens de consumo, sustentado pelas fábricas de um mundo em desenvolvimento que manufaturou para si, também no espaço de uma única vida, um lugar na classe média global, com todas as tentações consumistas e todos os benefícios dos combustíveis fósseis que vêm com a ascensão: eletricidade, carros particulares, viagens aéreas, carne vermelha. Ela fumou por 58 anos, sempre cigarros sem filtro, que hoje compra da China, aos pacotes.
É também a geração de muitos cientistas que soaram o alarme sobre a mudança climática pela primeira vez, alguns deles, por incrível que pareça, ainda hoje na ativa — tal a rapidez com que chegamos a este promontório. Roger Revelle, o primeiro a anunciar que o planeta estava aquecendo, morreu em 1991, mas Wallace Smith Broecker, que ajudou a popularizar o termo “aquecimento global”, ainda sai de casa no Upper West Side e pega o carro para trabalhar todo dia no Lamont-Doherty Earth Observatory, na margem oposta do Hudson, às vezes parando para comprar o almoço num velho posto de gasolina em Jersey recentemente convertido numa lanchonete hipster; na década de 1970, sua pesquisa era subsidiada pela Exxon, uma companhia que atualmente é alvo de uma batelada de processos visando atribuir a responsabilidade pelo regime de emissões galopante que hoje, a não ser que haja uma mudança de rumos no uso de combustíveis fósseis, ameaça tornar partes do planeta mais ou menos impróprias para os humanos até o fim do século. É nesse curso que seguimos alegremente a passos céleres — para mais de 4ºC de aquecimento até o ano de 2100. Segundo algumas estimativas, isso significaria que regiões inteiras da África, da Austrália e dos Estados Unidos, partes da América do Sul ao norte da Patagônia e da Ásia ao sul da Sibéria ficariam inabitáveis devido ao calor direto, à desertificação e às inundações. Certamente isso as tornaria inóspitas, assim como muitas outras regiões. Esse é o nosso itinerário, é a base de onde partimos. Porque se o planeta foi levado à beira da catástrofe climática no tempo de vida de uma geração, a responsabilidade por evitá-la recai sobre uma única geração, também. E sabemos de qual geração estamos falando. É a nossa.
Não sou ambientalista, tampouco me vejo como alguém particularmente ligado à natureza. Morei a vida toda na cidade, desfrutando dos aparelhos construídos por redes de abastecimento industriais a respeito dos quais mal penso, se é que penso. Nunca acampei, pelo menos não sem ser obrigado, e embora sempre tenha achado que é basicamente uma boa ideia manter os rios limpos e o ar puro, também sempre admiti ser verdade que há um jogo de perde e ganha entre crescimento econômico e custo para a natureza — e penso, bem, na maioria dos casos, eu provavelmente ficaria com o crescimento. Não chegaria a ponto de matar pessoalmente uma vaca para comer um hambúrguer, mas também não tenho planos de virar vegano. Tendo a pensar que se você está no topo da cadeia alimentar não tem problema bancar o maioral, porque não acho tão complicado traçar uma linha moral entre nós e os outros animais, e na verdade considero ofensivo para as mulheres e as minorias que de uma hora para outra ouçamos falar de estender a proteção legal dos direitos humanos para chimpanzés, macacos e polvos, apenas uma geração ou duas após finalmente termos quebrado o monopólio do macho branco sobre o status legal da pessoa humana. Nesses aspectos — em muitos deles, pelo menos —, sou como qualquer outro americano que passou a vida fatalmente complacente e obstinadamente iludido acerca da mudança climática, que é não apenas a maior ameaça que a vida humana no planeta já enfrentou, como também uma ameaça de categoria e escala totalmente diferentes. Isto é, a escala da própria vida humana.
Há alguns anos, comecei a juntar reportagens sobre a mudança climática, muitas delas aterrorizantes, fascinantes, esquisitas, em que mesmo as sagas mais modestas se desenrolavam como fábulas: um grupo de cientistas árticos aprisionados quando o gelo derreteu e isolou seu centro de pesquisa, numa ilha povoada também por um grupo de ursos-polares; um menino russo morto pelo antraz liberado da carcaça de uma rena descongelada, que ficara aprisionada no permafrost, a camada de gelo permanente em regiões frias, por muitas décadas. No começo, parecia que o noticiário estava inventando um novo gênero de alegoria. Mas é claro que a mudança climática não é uma alegoria.
A partir de 2011, cerca de 1 milhão de refugiados sírios foram despejados na Europa por uma guerra civil inflamada pela mudança climática e pela seca — e num sentido bastante real, grande parte do “momento populista” que o Ocidente atravessa hoje é resultado do pânico produzido pelo choque dessas migrações. A provável inundação de Bangladesh ameaça decuplicar, senão mais, a quantidade de migrantes, a ser assimilada por um mundo ainda mais desestabilizado pelo caos climático — e, desconfio, tanto menos receptivo quanto mais escura for a pele dos necessitados. E depois haverá os refugiados da África subsaariana, da América Latina e do resto da Ásia Meridional — 140 milhões em 2050, estima o Banco Mundial, ou seja, mais de cem vezes a “crise” síria da Europa.
As projeções das Nações Unidas são mais sombrias: 200 milhões de refugiados do clima até 2050. Duzentos milhões era toda a população mundial no auge do Império Romano, se você conseguir imaginar cada pessoa viva que habitava algum lugar do planeta nessa época sendo despojada de seu lar e forçada a sair vagando por territórios hostis em busca de um novo lugar para morar. O ponto extremo do que é possível nos próximos trinta anos, dizem os Estados Unidos, é consideravelmente pior: “Um bilhão ou mais de pobres vulneráveis com pouca opção além de lutar ou fugir”. Um bilhão ou mais. Isso é mais gente do que a população atual da América do Norte e do Sul combinadas; era a população mundial total até tão recentemente quanto 1820, com a Revolução Industrial a pleno vapor. O que sugere que seria mais correto conceber a história não como uma procissão de anos avançando deliberadamente numa linha do tempo, mas como um balão de crescimento populacional em expansão, a humanidade se dilatando sobre o planeta quase a ponto do eclipse total. Um motivo para as emissões de carbono terem acelerado tanto na última geração também explica por que a história parece estar caminhando bem mais rápido, com tantas novas coisas ocorrendo, em todos os lugares, todo ano: é o que acontece quando simplesmente há gente demais por aí. Conforme alguém já calculou, 15% de toda a experiência humana ao longo da história pertence a pessoas que estão vivas neste mesmo instante, cada uma delas deixando sua pegada de carbono sobre a Terra.
Esses dados sobre refugiados estão no ponto extremo das estimativas produzidas há alguns anos por grupos de pesquisa criados para chamar a atenção para uma causa ou cruzada particular; os números reais quase certamente não corresponderão a eles, e os cientistas tendem a fazer projeções na casa das dezenas de milhões, não das centenas de milhões. Mas o fato de esses números maiores serem apenas o teto do que é mais provável não deveria nos induzir à complacência; quando descartamos os piores cenários possíveis, nossa percepção dos resultados mais prováveis fica distorcida e passamos a encará-los como cenários catastróficos demais para os levarmos em consideração em nossos planos. Estimativas extremas estabelecem as fronteiras do que é possível, entre as quais podemos conceber melhor o que é provável. E talvez elas até se revelem um guia melhor, considerando que os otimistas, no meio século de ansiedade climática que já enfrentamos, jamais estiveram certos.
Meu arquivo de matérias crescia diariamente, mas muito poucos recortes, mesmo os tirados de pesquisas recentes publicadas nos periódicos científicos mais prestigiados, pareciam figurar na cobertura sobre a mudança climática a que o país assistia na tevê e lia nos jornais. Nesses lugares, a mudança climática era noticiada, claro, e até em tons alarmistas. Mas a discussão sobre os possíveis efeitos era enganadoramente estreita, limitada quase invariavelmente à questão da elevação do nível do mar. No final das contas, a cobertura da imprensa era otimista, o que não deixava de ser preocupante. Há não muito tempo, em 1997, ano em que foi firmado o famoso Protocolo de Kyoto, 2ºC de aquecimento global era considerado o limiar da catástrofe: cidades inundadas, secas destrutivas e ondas de calor, um planeta castigado diariamente por furacões e monções que costumávamos chamar de “desastres naturais”, mas que em breve assumirão o caráter mais normal de “clima ruim”. Mais recentemente, o ministro das Relações Exteriores das ilhas Marshall sugeriu outro nome para esse nível de aquecimento: “genocídio”.
São poucas as chances de evitarmos esse cenário. O Protocolo de Kyoto deu em quase nada; nos vinte anos transcorridos desde então, a despeito de todo nosso proselitismo climático, da legislação e do progresso na produção de energia verde, geramos mais emissões do que nos vinte anos anteriores. Em 2016, os acordos de Paris estabeleceram 2ºC como uma meta global, e, segundo os nossos jornais, esse nível de aquecimento continua sendo o cenário mais assustador que nosso senso de responsabilidade nos obriga a considerar; poucos anos depois, quando nenhuma nação industrial parece a caminho de cumprir as promessas feitas em Paris, 2ºC está mais para o melhor resultado possível, no momento improvável, com toda uma curva de distribuição normal de possibilidades mais apavorantes estendendo-se além desse limite, e contudo discretamente ocultas dos olhos do público.
Para os que nos trazem essas notícias sobre o clima, tais possibilidades apavorantes — e o fato de que desperdiçáramos nossa chance de ficar em algum ponto na metade boa da curva — tornaram-se de alguma forma improváveis. As razões são inúmeras, e tão frágeis que parece melhor chamá-las de impulsos. Optamos por não discutir um mundo 2ºC mais quente por questão de etiqueta, talvez; ou simples medo; ou o medo de apregoar o medo; ou a fé tecnocrática, que é na realidade a fé do mercado; ou a deferência a debates partidários ou mesmo prioridades partidárias; ou o ceticismo com a esquerda ambiental, do tipo que sempre alimentei; ou o desinteresse pelo destino de ecossistemas remotos, como sempre tive. Ficamos confusos sobre a ciência e seus muitos termos técnicos e números difíceis de digerir, ou pelo menos intuímos que outros ficariam facilmente confusos com a ciência e seus muitos termos técnicos e números difíceis de digerir. Demoramos a captar a velocidade da mudança, ou somos dotados de uma convicção quase conspiratória na responsabilidade das elites globais e suas instituições, ou de obediência a essas elites e suas instituições, seja lá o que pensamos delas. Talvez tenhamos sido incapazes de confiar de fato em projeções mais assustadoras porque acabávamos de ouvir falar no aquecimento, pensamos, e as coisas não poderiam ter piorado tanto desde o lançamento de Uma verdade inconveniente; ou porque gostávamos de andar de carro e comer filé e viver da forma como vivíamos em todos os demais aspectos e não queríamos queimar muitos neurônios pensando nisso; ou por nos sentirmos tão “pós-industriais”, não conseguíamos acreditar que nosso alento continuava a vir das fornalhas de combustível fóssil. Talvez fosse a nossa capacidade doentia, quase sociopata, de transformar más notícias em “normalidade”, ou porque olhávamos pela janela e as coisas pareciam boas como sempre. Porque estávamos de saco cheio de escrever, ou ler, a mesma notícia repetidas vezes, porque o clima, sendo tão global e portanto não tribal, sugeria apenas as políticas mais cafonas, porque ainda não avaliávamos como ele devastaria completamente nossa vida e porque, egoístas que somos, não nos importávamos em destruir o planeta para outros vivendo em outras partes ou os ainda não nascidos que o herdariam, indignados. Porque tínhamos fé demasiada na forma teleológica do mundo e na flecha do progresso humano para encarar a ideia de que o arco da história se curvaria na direção de tudo, menos da justiça ambiental. Porque nos momentos de maior franqueza em relação a nós mesmos já pensávamos no mundo como uma competição por recursos de soma zero e acreditávamos que, acontecesse o que acontecesse, a vitória provavelmente continuaria sendo nossa, ao menos em termos relativos, dados os privilégios de classe e nossa sorte na loteria do nascimento. Talvez estivéssemos apavorados demais com nossos próprios empregos e nossa economia para esquentar a cabeça com o futuro do emprego e da economia; ou talvez tivéssemos um medo real de robôs ou estivéssemos ocupados demais olhando para a tela de nossos celulares novos; ou talvez, por mais que enxerguemos o reflexo do apocalipse em nossa cultura e tomemos o caminho do pânico em nossa política, somos influenciados por um viés otimista no que respeita ao panorama mais geral; ou, na verdade, sabe-se lá por quê — há tantos aspectos do caleidoscópio climático que transformam nossas intuições acerca da devastação ambiental numa complacência inexplicável que é difícil focalizar o retrato completo da distorção climática. Mas simplesmente não queríamos, não podíamos ou, seja como for, nos recusamos a encarar a ciência de frente.
Este livro não é sobre a ciência do aquecimento; é sobre o que o aquecimento significa para o modo como vivemos no planeta. Mas o que diz essa ciência? A pesquisa é complicada, porque está assentada sobre duas camadas de incerteza: o que os humanos vão fazer, sobretudo em termos de emissão de gases de efeito estufa, e como o clima vai reagir, tanto em termos do aquecimento puro e simples como de uma variedade de ciclos de retroalimentação mais complicados e, às vezes, contraditórios. Mas mesmo obscurecida por essas faixas de incerteza, a pesquisa continua sendo bem clara, na verdade assustadoramente clara. O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês) das Nações Unidas oferece o padrão-ouro das avaliações sobre o estado do planeta e a trajetória provável da mudança climática — padrão-ouro, em parte, porque é conservador, integrando apenas as novas pesquisas que estão acima de qualquer controvérsia. Um novo relatório é esperado para 2022, mas o mais recente afirma que tomando logo uma atitude sobre as emissões de carbono e instituindo imediatamente os compromissos feitos, mas ainda não implementados, nos acordos de Paris, é provável que cheguemos a 3,2ºC de aquecimento, ou cerca de três vezes o aquecimento do planeta desde o início da industrialização — trazendo o impensável colapso das calotas polares não só ao plano da realidade, mas à realidade presente. Com isso ficariam inundadas não só Miami e Daca, como também Xangai e Hong Kong, além de uma centena de outras cidades pelo mundo todo. Acredita-se que o ponto de virada desse colapso sejam os 2ºC, mais ou menos; segundo diversos estudos recentes, mesmo a rápida interrupção das emissões de carbono ocasionaria um aquecimento nesse patamar até o fim do século.
As ameaças da mudança climática não cessam em 2100 só porque a maioria dos modelos, por convenção, não vai além desse ponto. É por isso que alguns estudiosos do aquecimento global chamam os próximos cem anos de o “século infernal”. A mudança climática é rápida — mais rápida, ao que tudo indica, do que nossa capacidade de perceber e admiti-la; mas é também mais longa, quase mais longa do que podemos realmente imaginar.
Ao ler sobre aquecimento, com frequência topamos com analogias extraídas do registro planetário: a última vez que o planeta ficou esse tanto mais quente, logicamente se infere, o nível do mar estava aqui. Essas condições não são coincidências. O nível do mar estava ali porque o planeta estava aquele tanto mais quente, basicamente, e o registro geológico é o melhor modelo que temos para compreender o intrincado sistema climático e estimar com precisão quanta destruição decorre de uma temperatura elevada em 2ºC, 4ºC ou 6ºC. Por isso, é particularmente preocupante que a pesquisa recente sobre a história profunda do planeta sugira que nossos atuais modelos climáticos podem estar subestimando a quantidade de aquecimento esperado para 2100 em pelo menos 50%. Em outras palavras, as temperaturas poderiam subir, em última análise, até o dobro do previsto pelo ipcc. Mesmo cumprindo as metas de emissão de Paris, ainda poderemos chegar a 4ºC de aquecimento, significando um Saara verde e as florestas tropicais do mundo transformadas em savanas dominadas por incêndios. Os autores de um estudo recente sugeriram que o aquecimento poderia ser ainda mais dramático — a diminuição drástica de nossas emissões ainda assim nos conduziria a 4ºC ou 5ºC, um cenário que, segundo eles, ofereceria graves riscos à habitabilidade do planeta. Eles o chamaram de “Terra Estufa”.
Por esses números serem tão pequenos, tendemos a trivializar as diferenças entre eles — um, dois, quatro. A experiência e a memória humanas não oferecem uma boa analogia para o modo como deveríamos pensar sobre esses limiares, mas, como no caso de conflitos militares mundiais ou da recorrência do câncer, você não quer ver nem o um. Com 2ºC, as calotas polares começarão a se desmanchar, 400 milhões de pessoas mais sofrerão com a escassez de água, cidades importantes na faixa equatorial do planeta se tornarão inabitáveis e mesmo em latitudes mais setentrionais as ondas de calor matarão milhares de pessoas todo verão. Haveria 32 vezes mais ondas de calor extremas na Índia e cada uma duraria cinco vezes mais, atingindo uma quantidade 93 vezes maior de pessoas. Esse é o nosso melhor cenário. Com 3ºC, a Europa meridional viverá uma seca permanente e a seca média na América Central duraria dezenove meses a mais e, no Caribe, 21 meses a mais. No Norte da África, a quantidade é sessenta meses a mais — cinco anos. As áreas queimadas por incêndios florestais todo ano dobrariam no Mediterrâneo e sextuplicariam, ou mais, nos Estados Unidos. Com 4ºC, haveria 8 milhões de novos casos de dengue todo ano só na América Latina e algo como crises alimentares anuais no mundo todo. A mortalidade ligada ao calor poderia aumentar em 9%. Danos por enchentes de rios aumentariam trinta vezes em Bangladesh, vinte vezes na Índia e sessenta vezes no Reino Unido. Em alguns lugares, seis desastres naturais provocados pelo clima poderiam ocorrer ao mesmo tempo, e, globalmente, os prejuízos passariam dos 600 trilhões de dólares — mais riqueza do que há no mundo hoje. Os conflitos e guerras poderiam duplicar.
Mesmo se mantivermos o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2ºC até 2100, ficaremos com uma atmosfera contendo quinhentas partes por milhão de carbono — talvez mais. A última vez que isso aconteceu, há 16 milhões de anos, o mundo não estava 2ºC mais quente, e sim em algum ponto entre 5ºC e 8ºC, causando uma elevação no nível dos oceanos de aproximadamente quarenta metros, o suficiente para recortar uma nova Costa Leste nos Estados Unidos na altura da rodovia I-95. Alguns processos levam milhares de anos para acontecer, mas também são irreversíveis, e portanto, na prática, permanentes. E se você ainda tem esperanças de que a mudança climática possa ser revertida por nós, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Está fora do nosso alcance.
É isso em parte que faz dela algo que o teórico Timothy Morton chama de “hiperobjeto” — um fato conceitual tão grande e complexo que, como a internet, nunca será plenamente compreendido. A mudança climática tem muitos aspectos — seu tamanho, abrangência e contundência — que, isolados, satisfazem essa definição; juntos, podem elevá-la a uma categoria conceitual ainda mais complexa e incompreensível. Mas o tempo talvez seja o aspecto mais desafiador para o nosso entendimento, as piores consequências ocorrendo numa época tão distante que, num ato reflexo, não consideramos que possam ser reais.
Contudo, essas consequências prometem zombar de nós e de nossa percepção da realidade. Os dramas ecológicos desencadeados por nosso uso da terra e a queima de combustíveis fósseis — lentamente por cerca de um século e muito rapidamente por apenas algumas décadas — continuarão a se desenrolar ao longo de muitos milênios, na verdade por um período de tempo maior do que a presença dos seres humanos no planeta, e vividos em parte por criaturas e em ambientes que ainda nem sequer conhecemos, trazidos ao palco planetário pela força do aquecimento. E assim, numa barganha cognitiva conveniente, decidimos considerar a mudança climática apenas como ela se apresentará neste século. Em 2100, afirmam as Nações Unidas, caminhamos para os 4,5ºC de aquecimento, a seguir nos rumos em que estamos hoje. Ou seja, mais distante do curso proposto em Paris do que o curso de Paris fica do limiar de 2ºC da catástrofe, o que significa mais do que o dobro.
Como escreveu Naomi Oreskes, há incertezas demais em nossos modelos para que possamos extrair de suas predições uma lei incontestável. Uma simples simulação repetida muitas vezes com os atuais modelos climáticos, como Gernot Wagner e Martin Weitzman fazem em seu livro Climate Shock [Choque climático], resulta numa chance de 11% de excedermos os 6ºC. Trabalho recente do prêmio Nobel William Nordhaus sugere que um crescimento econômico acima do previsto significa uma probabilidade maior do que um para três de que nossas emissões ultrapassarão o pior cenário usado como base de referência pelas Nações Unidas, que leva em consideração as condições atuais de crescimento. Em outras palavras, uma elevação da temperatura em 5ºC ou possivelmente mais.
O ponto mais extremo da estimativa de probabilidade de 2014 das Nações Unidas para um cenário inalterado de fim de século — o pior cenário resultado do pior cenário de emissões — nos deixa em 8ºC de aumento. Nessa temperatura, seres humanos no equador e nos trópicos não conseguiriam sair de casa sem colocar a vida em risco.
Em um mundo 8ºC mais quente, os efeitos do calor direto seriam o menor dos problemas: os oceanos acabariam aumentando mais de sessenta metros, inundando dois terços das principais cidades mundiais da atualidade; não haveria terras no planeta capazes de produzir com eficiência a quantidade de alimentos que consumimos hoje; as florestas seriam varridas por tempestades de fogo e as costas assoladas por furacões cada vez mais intensos; o capuz sufocante das doenças tropicais se estenderia para o norte e abrangeria partes do que hoje chamamos de Ártico; provavelmente, cerca de um terço do planeta ficaria inabitável pelo calor direto; e o que hoje são secas e ondas de calor intoleráveis e literalmente sem precedentes passariam a ser condição cotidiana dos seres humanos sobreviventes.
É bem provável que evitemos os 8ºC de aquecimento; de fato, diversos artigos científicos recentes sugerem que o clima está na verdade menos sensível a emissões do que imaginávamos e que mesmo o teto das condições atuais nos levaria a cerca de 5ºC até o fim do século, parando possivelmente lá pelos 4ºC. Mas 5ºC é quase tão impensável quanto 8ºC, e 4ºC não é muito melhor: o mundo num déficit de comida permanente, os Alpes tão áridos quanto a cordilheira do Atlas.
Entre esse cenário e o mundo em que vivemos hoje, há apenas a questão em aberto da reação humana. Uma nova fornada de aquecimento extra já está para sair, graças aos lentos processos pelos quais o planeta se adapta aos gases de efeito estufa. Mas todas essas alternativas projetadas com base no presente — até 2ºC, 3ºC, 4ºC, 5ºC ou mesmo 8ºC — serão determinadas preponderantemente pelo que decidirmos fazer hoje. Não há nada que nos impeça de evitar os 4ºC além de nossa vontade de mudar de rumo, algo que ainda estamos por manifestar. Porque o planeta é tão grande e ecologicamente diverso; porque os seres humanos se revelaram uma espécie adaptável e provavelmente continuarão a se adaptar para superar uma ameaça letal; e porque os efeitos devastadores do aquecimento em breve ficarão extremos demais para serem ignorados, ou negados, se é que já não são: por causa disso tudo, é pouco provável que a mudança climática torne o planeta realmente inabitável. Mas se não fizermos nada quanto às emissões de carbono, se os próximos trinta anos de atividade industrial deixarem como rastro o mesmo arco ascendente dos últimos trinta anos, até o fim deste século regiões inteiras se tornarão inabitáveis por quaisquer padrões que tenhamos atualmente.
Anos atrás, E. O. Wilson propôs um termo, “Meia Terra”, para nos ajudar a pensar num modo de conviver com as pressões de um clima em transformação, permitindo que a natureza siga seu curso reabilitador em metade do planeta e isolando a humanidade na outra metade habitável do mundo. A fração pode ser ainda menor do que isso, consideravelmente menor, e não por acaso; o subtítulo de seu livro era A luta de nosso planeta pela vida. Em escalas de tempo maiores, o resultado ainda mais desalentador também é possível — as trevas engolindo o planeta habitável à medida que o crepúsculo dos seres humanos se aproxima.
Seria necessária uma espetacular coincidência de más escolhas e má sorte para tornar esse tipo de “Terra Nenhuma” uma possibilidade ainda em nossa geração. Mas o fato de que trouxemos a eventualidade do pesadelo à baila talvez seja o fato cultural e histórico mais significativo da era moderna — o que os historiadores do futuro provavelmente estudarão sobre nós e algo que teríamos esperado também que as gerações anteriores tivessem tido a antevisão de abordar. Seja lá o que façamos para deter o aquecimento, e por mais agressivamente que ajamos para nos proteger de seus danos, teremos vislumbrado a perspectiva da devastação da espécie humana — suficientemente de perto para enxergar com clareza como seria e saber, com algum grau de precisão, qual será o preço pago por nossos filhos e netos. Perto o bastante, na verdade, para que já comecemos a sentir seus efeitos, quando não lhes damos as costas.
Biografia do autor: Holly Cave nasceu em 1983, em Torquay, a mesma cidade natal da “grande dama do crime”, Agatha Christie. Formou-se em Biologia e obteve um mestrado em Ciência da Comunicação, ambos pelo prestigioso Imperial College London. Trabalhou no Museu de Ciências de Londres antes de passar a se dividir entre a escrita de textos científicos e de ficção. Publicou também o romance The Generation e o infantil Really Really Big Questions About Science.
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.