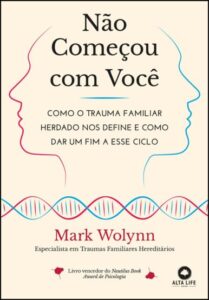“Não Começou com Você“, de Mark Wolynn, explora o trauma hereditário e oferece ferramentas inovadoras para aliviar o sofrimento transmitido por gerações. Wolynn, um pioneiro no campo, utiliza sua abordagem da linguagem central para ajudar pessoas a identificar medos e ansiedades herdados por meio de comportamentos, palavras e sintomas físicos. O livro apresenta técnicas como visualizações e heredogramas, que permitem mapear traumas familiares e abrir caminhos para a cura.
Baseado em pesquisas de especialistas como Rachel Yehuda e Bessel van der Kolk, a obra revela como traumas de pais, avós e bisavós podem influenciar nossa saúde emocional e física hoje. Mesmo traumas esquecidos ou silenciados podem ser codificados em nossa expressão gênica e em nossas emoções, mostrando que nossas dificuldades podem ter raízes muito mais profundas. Mark Wolynn, premiado internacionalmente, continua a treinar médicos e tratar pacientes com problemas como depressão e dor crônica, oferecendo uma abordagem transformadora para traumas profundos.
Quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, desperta.
— Carl Jung, Cartas
Introdução:
A Linguagem Secreta do Medo
Em tempos de escuridão, o olho começa a enxergar…
— Theodore Roethke, “In a Dark Time”
Este livro é resultado de uma missão que me levou ao redor do mundo, de volta às minhas raízes e em direção a uma carreira profissional que jamais imaginei ao iniciar essa jornada. Por mais de vinte anos, trabalhei com pessoas que lutaram contra depressão, ansiedade, doenças crônicas, fobias, pensamentos obsessivos, TEPT e outras condições debilitantes. Muitas me procuraram desmotivadas e desesperançadas após anos de psicoterapia, medicação e outras intervenções que falharam em descobrir a fonte de seus sintomas e aliviar seu sofrimento.
Minha própria experiência, meu treinamento e minha prática clínica me ensinaram que a resposta pode não estar em nossa própria história, mas, sim, nas de nossos pais, avós e até mesmo bisavós. As pesquisas científicas mais recentes, agora nas manchetes, também revelam que os efeitos do trauma podem passar de uma geração para a outra. Esse “legado” é conhecido como trauma familiar hereditário, e evidências emergentes sugerem que é um fenômeno verdadeiro. A dor nem sempre se dissipa sozinha ou diminui com o tempo. Mesmo que a pessoa que sofreu o trauma original tenha morrido, mesmo que sua história esteja submersa em anos de silêncio, os fragmentos da experiência, da memória e da sensação corporal podem sobreviver, como se o passado reemergisse nas mentes e nos corpos daqueles que vivem no presente para encontrar resolução.
Nas páginas seguintes, apresentarei uma síntese das observações empíricas de minha prática como diretor do Family Constellation Institute, em São Francisco, bem como das últimas descobertas em neurociência, epigenética e ciência da linguagem. Esse compêndio também reflete meu treinamento profissional com Bert Hellinger, o renomado psicoterapeuta alemão, cuja abordagem à terapia familiar demonstra os efeitos psicológicos e físicos do trauma familiar herdado em várias gerações.
Grande parte deste livro se concentra na identificação de padrões familiares herdados — os medos, os sentimentos e os comportamentos que adotamos sem saber e que mantêm o ciclo de sofrimento vivo de geração em geração — e na forma de encerrar esse ciclo, o que consiste no cerne do meu trabalho. Assim como eu, você pode descobrir que muitos desses padrões não nos pertencem; eles simplesmente foram emprestados de outras pessoas em nosso histórico familiar. Estou convicto de que essa constatação ocorre devido à possibilidade de finalmente trazer à tona uma história que precisa ser contada. Deixe-me compartilhar a minha.
Nunca me propus a criar um método para superar o medo e a ansiedade até o dia em que perdi minha visão. Aos 34 anos, sofri minha primeira enxaqueca ocular. Não senti nenhuma dor física real — apenas um ciclone de terror sombrio, dentro do qual minha visão foi obscurecida. Sem enxergar nada, andei tropeçando por meu escritório, tentando discar o número da emergência no telefone da mesa. Uma ambulância logo chegaria.
Uma enxaqueca ocular não costuma ser séria. A visão fica turva, mas geralmente retorna ao normal em cerca de uma hora, ainda que nem sempre se saiba disso enquanto está acontecendo. No entanto, para mim, a enxaqueca ocular foi apenas o começo. Em algumas semanas, a visão do meu olho esquerdo começou a desaparecer. Rostos e placas de trânsito logo se tornaram um borrão cinza.
Os médicos me informaram que eu tinha retinopatia serosa central, uma condição sem cura, de causa desconhecida. O fluido se acumula sob a retina e vaza, provocando cicatrizes e manchas no campo visual. Algumas pessoas, os 5% com a forma crônica em que a minha se transformou, ficam praticamente cegas. Da forma como estava avançando, disseram-me que muito provavelmente ambos os olhos seriam afetados. Era só questão de tempo.
Os médicos não conseguiram me dizer o que causou minha perda de visão e o que a curaria. Tudo o que tentei por conta própria — vitaminas, dietas líquidas, cura energética — parecia piorar a situação. Fiquei desnorteado. Meu maior medo estava se revelando bem na minha frente e eu não conseguia fazer nada a respeito. Cego, incapaz de me cuidar sozinho, eu desmoronaria. Minha vida estaria arruinada. Eu perderia minha vontade de viver.
Repassei o cenário várias vezes na minha mente. Quanto mais pensava sobre isso, mais profundamente a desesperança se enraizava em meu corpo. Eu estava afundando na lama. Sempre que tentava sair, meus pensamentos retornavam às imagens de estar sozinho, incapaz e arruinado. Naquela época, eu não sabia que estas exatas palavras — sozinho, incapaz e arruinado — faziam parte da minha linguagem pessoal de medo. Elas ecoavam traumas que aconteceram na minha história familiar antes do meu nascimento. Desenfreadas e irrestritas, essas palavras dominavam minha mente e afetavam meu corpo.
Eu me perguntava por que concedia tanto poder aos meus pensamentos. Outras pessoas tinham adversidades muito piores do que as minhas e não cediam a esse abismo. O que em mim permaneceu tão profundamente arraigado no medo? Eu demoraria anos para responder a essa pergunta.
Naquela época, só o que eu podia fazer era ir embora. Deixei meu relacionamento, minha família, meu negócio, minha cidade — tudo que conhecia. Queria respostas que não poderiam ser encontradas no mundo do qual eu fazia parte — um mundo em que muitas pessoas pareciam estar confusas e infelizes. Eu tinha apenas perguntas e pouca vontade de levar a vida como a conhecia. Entreguei meu negócio (uma empresa de eventos bem-sucedida) para alguém que literalmente acabara de conhecer e lá fui eu para o leste — o mais longe possível — até chegar ao Sudeste da Ásia. Queria ser curado. Só não fazia ideia de como isso aconteceria. Li livros e estudei com os professores que os escreveram. Sempre que ficava sabendo de alguém que poderia me ajudar — uma idosa em uma cabana, um homem sorridente com um manto —, eu fazia a tentativa. Participei de programas de treinamento e cantei com gurus. Um desses gurus disse, àqueles reunidos para ouvi-lo falar, que queria se cercar apenas de “descobridores”. Os buscadores, afirmou, permaneciam apenas nisto — em um estado constante de busca.
Eu queria ser um descobridor. Meditei por horas diariamente. Jejuei por dias seguidos. Fervi ervas e lutei contra as toxinas ferozes que, eu imaginava, tinham invadido meus tecidos. Enquanto isso, minha visão continuava a piorar e minha depressão se agravava.
Na época, eu não compreendia que, quando tentamos resistir a um sentimento doloroso, muitas vezes prolongamos a própria dor que nos esforçamos em evitar — uma receita para o sofrimento contínuo. Também há algo na ação de procurar que nos impossibilita de chegar ao que buscamos. O olhar constante para fora de nós mesmos pode nos impedir de saber quando acertamos o alvo. É possível que algo valioso esteja acontecendo dentro de nós, mas, se não estivermos atentos, podemos despercebê-lo.
“O que você não está disposto a enxergar?”, instigavam os curandeiros, provocando-me a olhar mais profundamente. Como eu poderia saber? Estava no escuro.
Na Indonésia, um guru tornou a luz um pouco mais brilhante para mim ao questionar: “Quem você acha que é para não ter problemas nos olhos?” Ele continuou: “Talvez os ouvidos de Johan não ouçam tão bem quanto os de Gerhard, e talvez os pulmões de Eliza não sejam tão fortes quanto os de Gerta. E talvez Dietrich não ande tão bem quanto Sebastian.” (Todos eram holandeses ou alemães nesse programa de treinamento específico e pareciam estar lutando com algum tipo de condição crônica.) Surtiu efeito. Ele estava certo. Quem era eu para não ter problemas nos olhos? Foi arrogante da minha parte discutir com a realidade. Gostasse ou não, minha retina estava lesionada e minha visão, turva, mas eu — o “eu” por trás de tudo — estava começando a me acalmar. Não importava o estado do meu olho, ele não precisava mais ser o fator determinante de como eu me sentia.
Para aprofundar o aprendizado, esse guru nos fez passar 72 horas — três dias e três noites — com vendas nos olhos e tampões nos ouvidos, meditando em uma pequena almofada. Todos os dias, recebíamos uma tigelinha de arroz para comer e apenas água para beber. Sem dormir, sem levantar, sem deitar, sem se comunicar. Ir ao banheiro significava levantar a mão e ser escoltado no escuro até um buraco no chão.
O objetivo dessa maluquice era simplesmente conhecer de forma íntima a loucura da mente, observando-a. Aprendi como minha mente me provocava constantemente com o pensamento do pior cenário possível e a mentira de que, se eu apenas me preocupasse o suficiente, poderia me proteger do que mais temia.
Depois dessa experiência e de outras semelhantes, minha visão interior começou a clarear um pouco. Meu olho, entretanto, permaneceu o mesmo; o vazamento e as cicatrizes continuaram. Em muitos níveis, ter um problema de visão é uma ótima metáfora. Acabei descobrindo que se tratava menos do que eu conseguia ou não enxergar e mais da maneira como via as coisas. Mas não foi nesse momento que dei a volta por cima.
Foi durante o terceiro ano do que agora denomino “busca da visão” que finalmente encontrei o que estava procurando. Nessa época, eu meditava bastante. A depressão apresentara uma melhora significativa. Eu conseguia passar inúmeras horas em silêncio, concentrado apenas em minha respiração ou sensações corporais. Essa era a parte fácil.
Certo dia, eu esperava na fila para ter um satsang — encontro com um mestre espiritual. Fiquei aguardando por horas, usando o manto branco assim como todos na fila. Minha vez chegou. A minha expectativa era que o mestre reconhecesse minha dedicação. Em vez disso, ele olhou através de mim e viu o que eu não conseguia. “Vá para casa”, disse. “Vá para casa e ligue para sua mãe e seu pai.”
Como assim? Fiquei furioso. Meu corpo tremia de raiva. Era óbvio que ele tinha se enganado. Eu não precisava mais dos meus pais. Já os superara. Desistira deles há muito tempo, trocando-os por pais melhores, pais divinos, pais espirituais — todos os professores, gurus e mulheres e homens sábios que me guiavam até o próximo nível do despertar. Além disso, com minha bagagem de vários anos de terapia equivocada, de socar travesseiros e rasgar efígies de papelão dos meus progenitores, eu acreditava que já “curara” meu relacionamento com eles. Decidi ignorar o conselho.
E, não obstante, algo me impactou internamente. Eu não conseguia esquecer o que ele dissera. Estava finalmente começando a entender que nenhuma experiência é em vão. Tudo o que nos acontece tem mérito, quer reconheçamos o seu significado superficial ou não. No fim das contas, tudo em nossa vida nos leva a algum lugar. Ainda assim, estava determinado a manter a ilusão de quem eu era intacta. Ser um meditador realizado era tudo o que eu tinha para me agarrar. Então, procurei um encontro com outro mestre espiritual — que, tinha certeza, esclareceria tudo. Esse homem imbuía centenas de pessoas por dia em seu amor celestial. Sem dúvida me veria como a pessoa profundamente espiritual que eu imaginava ser. Mais uma vez, esperei um dia inteiro até ser o primeiro da fila. E, então, aconteceu. De novo. As mesmas palavras. “Ligue para seus pais. Vá para casa e faça as pazes com eles.”
Dessa vez, ouvi o que foi dito.
Os grandes professores têm conhecimento. Os verdadeiramente grandes não se importam se você acredita em seus ensinamentos ou não. Eles apresentam uma verdade e depois o deixam refletir e descobrir a sua própria. Adam Gopnik escreve sobre a diferença entre gurus e professores em seu livro Through the Children’s Gate [sem publicação no Brasil]: “Um guru nos apresenta a si mesmo e então oferece seu sistema; um professor nos oferece sua matéria e depois nos apresenta a nós mesmos.”
Os grandes professores entendem que nossa origem afeta o lugar ao qual nos direcionamos, e que o irresolúvel em nosso passado influencia nosso presente. Eles sabem que nossos progenitores são importantes, independentemente de serem bons pais ou não. Não há como evitar: a história familiar é nossa história. Goste ou não, ela habita nosso interior.
Não importa a história que tenhamos com nossos pais, eles não podem ser apagados ou expurgados de nós. Estão em nosso interior e somos parte deles — mesmo que nunca os tenhamos conhecido. Rejeitá-los apenas nos distancia ainda mais de nós mesmos e provoca mais sofrimento. Esses dois professores eram capazes de ver isso. Eu não. Minha cegueira era literal e figurativa. Agora eu estava começando a despertar, principalmente para o fato de que havia deixado uma grande bagunça em casa.
Por anos, eu julgara meus pais com severidade. Imaginei-me mais capaz, muito mais sensível e humano do que eles. Eu os culpei por todas as coisas que acreditava estarem erradas em minha vida. Agora precisava regressar a fim de restaurar o que faltava em mim — minha vulnerabilidade. Comecei a perceber que minha capacidade de receber o amor alheio estava relacionada à minha capacidade de receber o amor materno.
Entretanto, acolher o amor dela não seria fácil. Tive uma ruptura tão profunda no vínculo com minha mãe que ser abraçado por ela era como estar preso em uma armadilha. Meu corpo se contraía como se fosse criar uma armadura que ela não pudesse romper. Essa mágoa afetava todos os aspectos da minha vida — principalmente minha capacidade de permanecer aberto em um relacionamento.
Minha mãe e eu poderíamos ficar meses sem nos falar. Quando conversávamos, eu encontrava uma forma, por meio de palavras ou da minha linguagem corporal blindada, de ignorar os sentimentos calorosos que ela demonstrava. Eu parecia insensível e distante. Em contrapartida, a acusava de não ser capaz de me ver ou ouvir. Era um impasse emocional.
Determinado a curar nossa relação problemática, reservei um voo para Pittsburgh. Não via minha mãe há vários meses. Enquanto me dirigia à entrada da casa dos meus pais, senti meu peito apertar. Não tinha certeza se nosso relacionamento poderia ser reparado; havia tantos sentimentos mal resolvidos. Preparei-me para o pior, conjecturando a cena: minha mãe me abraçaria e eu, querendo apenas me soltar em seus braços, faria exatamente o contrário. Eu me retrairia.
E foi exatamente o que aconteceu. Envolto em um abraço quase insuportável, eu mal conseguia respirar. Mesmo assim, pedi à minha mãe que continuasse me abraçando. Queria entender, de dentro para fora, a resistência do meu corpo, como eu recuava, quais sensações surgiam, como me fechava. Não era nenhuma novidade. Tinha percebido esse padrão espelhado em meus relacionamentos. Só que, desta vez, eu não iria embora. Meu plano era curar essa ferida na sua origem.
Quanto mais ela me abraçava, mais eu sentia que ia explodir. Era fisicamente doloroso. A dor se fundia ao torpor e vice-versa. Então, depois de muitos minutos, algo cedeu. Meu peito e meu abdômen tremeram. Comecei a me soltar e, nas semanas seguintes, progredi ainda mais.
Em uma de nossas muitas conversas durante esse tempo, minha mãe compartilhou — quase de maneira espontânea — um acontecimento da minha infância. Ela teve que ser hospitalizada por três semanas para operar a vesícula biliar. Com esse insight, comecei a juntar as peças do que ocorria internamente. Antes dos 2 anos de idade — quando minha mãe e eu ficamos separados —, uma retração inconsciente se enraizou em algum lugar do meu corpo. Quando ela voltou para casa, eu não confiava mais em seus cuidados. Não era mais vulnerável em relação a ela. Em vez disso, a afastei e continuaria a fazê-lo pelos trinta anos seguintes.
Outro acontecimento precoce também pode ter contribuído para o meu medo de que minha vida fosse repentinamente arruinada. Minha mãe disse que me dar à luz foi difícil — o médico precisou usar um fórceps. Como resultado, nasci com muitos hematomas e um crânio parcialmente lesionado, o que não é incomum nesse tipo de parto. Com pesar, minha mãe revelou que, no início, minha aparência fazia com que ela tivesse dificuldades até mesmo de me segurar no colo. Identifiquei-me com sua história, que ajudou a explicar a sensação de fracasso cravada dentro de mim. Especificamente, memórias traumáticas de meu nascimento submersas em meu corpo emergiam sempre que eu “desse à luz” um novo projeto ou apresentasse um novo trabalho em público. Só esse entendimento já me trouxe paz. Ademais, de uma forma inesperada, aproximou nós dois.
Enquanto restaurava meu vínculo com minha mãe, também comecei a reconstruir meu relacionamento com meu pai. Morando sozinho em um pequeno apartamento caindo aos pedaços — o mesmo desde que se divorciou da minha mãe quando eu tinha 13 anos —, meu pai, um ex-sargento da Marinha e operário da construção civil, nunca se preocupou em reformar sua própria moradia. Ferramentas velhas, parafusos, pregos e rolos de fita adesiva e isolante estavam espalhados pelos quartos e corredores — como sempre estiveram. Enquanto estávamos juntos em meio a um monte de ferro e aço enferrujado, eu disse o quanto sentia sua falta. As palavras pareceram evaporar. Ele não sabia como lidar com elas.
Sempre desejei ter uma relação próxima com meu pai, mas nenhum dos dois sabia como fazer isso acontecer. Desta vez, porém, continuamos conversando. Eu disse que o amava e que ele era um bom pai. Compartilhei as memórias do que ele fez por mim quando eu era pequeno. Podia senti-lo ouvir minhas palavras, embora suas ações — encolher os ombros, mudar de assunto — indicassem o contrário. Levou muitas semanas de conversa e relato de memórias. Durante um de nossos almoços juntos, meu pai fitou meus olhos e disse: “Achei que você não me amasse.” Eu mal conseguia respirar. Era evidente que ambos cultivavam uma dor intensa. Naquele momento, algo se abriu. Foram nossos corações. Às vezes, o coração precisa se partir para se abrir. Por fim, começamos a expressar nosso amor um pelo outro. Eu agora percebia os efeitos de confiar nas palavras dos professores e voltar para casa a fim de me curar com meus pais. Pela primeira vez, fui capaz de me permitir receber o amor e o carinho de meus progenitores — não da forma que eu esperava, mas da maneira que eles conseguiam. Algo se abriu em mim. Não importava se eles podiam ou não me amar, mas, sim, se eu conseguia receber o que tinham para oferecer. Eles eram os mesmos pais de sempre. A diferença estava em mim. Eu estava voltando a amá-los, do jeito que devo ter me sentido quando era bebê, antes do rompimento de vínculo com minha mãe.
Minha precoce separação materna, junto com traumas semelhantes que herdei do meu histórico familiar — especificamente, o fato de que três dos meus avós perderam suas mães em tenra idade, e o quarto perdeu o pai quando criança (assim como a atenção de sua mãe em meio à dor) —, ajudou a estabelecer minha linguagem secreta do medo. As palavras sozinho, incapaz e arruinado, e os sentimentos que as acompanhavam, estavam finalmente perdendo o poder de me desorientar. Eu estava ganhando uma nova vida, e minha relação renovada com meus pais era uma grande parte disso.
Nos meses seguintes, restabeleci uma relação afetuosa com minha mãe. Seu amor, que antes parecia invasivo e aversivo, agora era relaxante e restaurador. Também tive a sorte de passar dezesseis anos próximo ao meu pai antes de ele morrer. Na demência que dominou os últimos quatro anos de sua vida, ele me ensinou talvez a lição mais valiosa sobre vulnerabilidade e amor que já aprendi. Juntos, nos encontramos naquele lugar além do pensamento, além da mente, onde apenas o amor mais profundo habita.
Em minhas viagens, tive muitos professores excelentes. Todavia, em retrospecto, percebo que foi meu olho — meu olho estressado, atormentado e apavorante — que me fez dar a volta por cima, me reaproximar de meus pais, superar o trauma familiar e, finalmente, retornar ao meu coração. Meu olho foi, sem dúvida, o maior professor de todos eles.
A certa altura, parei até mesmo de pensar em meu olho e de me preocupar se ele iria melhorar ou piorar. Não tinha mais expectativas de enxergar bem de novo. De alguma forma, isso deixou de ser importante. Não muito depois, minha visão voltou. Eu não esperava que isso acontecesse. Nem precisava disso. Aprendera a ficar bem, independentemente do meu olho.
Hoje, minha visão é perfeita, embora meu oftalmologista jure que, com a quantidade de cicatrizes que ainda tenho na retina, eu não deveria ser capaz de enxergar. Ele apenas balança a cabeça e pressupõe que, de alguma forma, os sinais de luz devem ricochetear e contornar a fóvea, a região central da retina. Assim como acontece com muitas histórias de cura e transformação, o que começou parecendo adversidade era, na verdade, uma graça disfarçada. Ironicamente, depois de vasculhar os recônditos do planeta em busca de respostas, descobri que os maiores recursos de cura já estavam dentro de mim, esperando para serem escavados.
Em última análise, a cura é um trabalho interno. Felizmente, meus professores me levaram de volta aos meus pais e à minha casa interior. Ao longo do caminho, descobri histórias familiares que acabaram me trazendo paz. Devido à gratidão e à nova sensação de liberdade, tornou-se minha missão ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo.
A linguagem foi minha porta de entrada para o mundo da psicologia. Tanto como estudante quanto como psicólogo clínico, tive pouco interesse em testes, teorias e modelos de comportamento. Em vez disso, optei por ouvir a linguagem. Desenvolvi técnicas de escuta e me capacitei a ouvir o que as pessoas diziam por trás de suas queixas e de suas velhas histórias. Aprendi a ajudá-las a identificar as palavras específicas que levavam à origem de sua dor. E, embora alguns teóricos postulem que a linguagem desaparece durante o trauma, em vários casos, constatei em primeira mão que ela nunca se perde. Apenas vaga pelos reinos do inconsciente, esperando para ser redescoberta.
Não é por acaso que considero a linguagem uma ferramenta potente de cura. Desde sempre, ela tem sido minha professora, minha maneira de organizar e compreender o mundo. Escrevo poesia desde a adolescência e largo tudo (bem, quase tudo) quando um impulso de linguagem urgente insiste em irromper. Sei que do outro lado dessa entrega há insights que, de outra forma, não seriam acessíveis. No meu próprio processo, foi essencial identificar as palavras sozinho, incapaz e arruinado.
De muitas maneiras, curar traumas é semelhante a escrever um poema. Ambos exigem as palavras, a imagem e o momento certos. Quando esses elementos se alinham, algo significativo e sensorial é desencadeado. Para que haja cura, nosso ritmo deve estar em consonância. Se alcançarmos uma imagem rápido demais, ela pode não se enraizar. Se as palavras que nos confortam surgirem muito cedo, talvez não estejamos prontos para recebê-las. Se as palavras não forem precisas, podemos não ouvi-las ou não assimilá-las.
Ao longo de minha prática como professor e palestrante, associei o meu conhecimento do papel crucial da linguagem aos insights e métodos adquiridos no meu treinamento em traumas familiares herdados. Chamo isso de abordagem da linguagem central. Por meio de perguntas específicas, ajudo as pessoas a descobrirem a origem por trás dos sintomas físicos e emocionais que as prejudicam. Desvendar a linguagem certa não apenas expõe o trauma, mas também revela as ferramentas e as imagens necessárias à cura. Ao aplicar esse método, testemunhei padrões profundamente arraigados de depressão, ansiedade e vazio mudarem com uma epifania.
Nessa jornada, o veículo é a linguagem — a linguagem oculta de nossas preocupações e nossos medos. É provável que ela sempre tenha vivido dentro de nós. Pode ter se originado com nossos pais, ou mesmo com gerações anteriores, como nossos bisavós. Nossa linguagem central insiste em ser ouvida. Quando seguimos sua direção e escutamos sua história, ela adquire o poder de neutralizar nossos medos mais profundos.
Ao longo do caminho, é provável que encontremos familiares conhecidos e desconhecidos. Alguns já morreram há anos. Outros nem são parentes, mas seu sofrimento ou sua crueldade pode ter alterado o destino de nossa família. Talvez até descubramos um ou dois segredos ocultos em histórias que há muito foram enterradas. Porém, independentemente de aonde essa exploração nos levar, minha experiência sugere que chegaremos a um novo lugar em nossas vidas, com uma maior sensação de liberdade em nossos corpos e uma capacidade de estar mais em paz conosco.
Neste livro, aproveitei as histórias de pessoas com quem trabalhei em meus workshops, treinamentos e atendimentos individuais. Os detalhes do caso são reais, mas, a fim de proteger sua privacidade, mudei seus nomes e outras características de identificação. Sou profundamente grato a elas por me permitirem compartilhar a linguagem secreta de seus medos, por confiarem em mim e me concederem o privilégio de ouvir o essencial por trás de suas palavras.
Livros relacionados
Leia trecho do livro Há sol na solidão de Fred Elboni
Leia trecho do livro Desenfreados de Kelly M.
Leia trecho do livro Baumgartner de Paul Auster
Leia trecho do livro A Arte de Pensar com Clareza