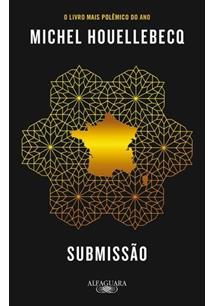Submissão, de Michel Houellebecq, se passa na França de 2022, após as eleições presidenciais vencidas por Mohammed Ben Abbes, líder da Fraternidade Muçulmana. Carismático e conciliador, Ben Abbes forma uma frente democrática ampla, mas mudanças sociais inicialmente sutis se tornam dramáticas com o avanço do regime islâmico. François, um acadêmico solitário e desencantado, vê sua vida virada de cabeça para baixo ao lidar com essa nova realidade. Surpreendentemente, as consequências dessa transformação não são necessariamente desastrosas. Comparado a clássicos como *1984* de George Orwell e *Admirável Mundo Novo* de Aldous Huxley, *Submissão* é uma sátira incisiva e devastadora dos valores da sociedade contemporânea, tornando-se uma das obras mais impactantes da literatura atual.
Editora: Alfaguara; 1ª edição (15 abril 2015); Páginas: 256 páginas; ISBN-13: 978-8579623820; ASIN: B00VIWW3S6
Clique na imagem para ler amostra
Biografia do autor: Michel Houellebecq (1958) é poeta, ensaísta e romancista, considerado “a primeira estrela literária desde Sartre”, segundo o *Le Nouvel Observateur*. Sua primeira novela, *Amplição do campo de batalha* (1994), ganhou o Prêmio Flore e foi bem recebida pela crítica. Em maio de 1998, recebeu o Prêmio Nacional de Letras, concedido pelo Ministério da Cultura francês. Sua segunda obra, *As partículas elementares*, foi aclamada e polêmica, assim como *Plataforma*. Houellebecq ganhou o Prêmio Goncourt com *O mapa e o território*, traduzido em 36 países, e abordou a islamização da sociedade europeia em *Submissão*, gerando controvérsias com *Serotonina*. Suas obras, publicadas pela Anagrama, incluem romances, ensaios e livros de poesia, e ele também recebeu o prestigioso Prêmio IMPAC (2002) e o Prêmio Schopenhauer (2004).
Leia trecho do livro
I
Durante todos os anos de minha triste juventude, Huysmans foi para mim um companheiro, um amigo fiel; nunca tive dúvida, nunca fui tentado a abandonar, nem a me orientar para outro tema; e então, numa tarde de junho de 2007, depois de longamente esperar, depois de tanto tergiversar até um pouco mais que o admissível, defendi perante a banca da universidade Paris IV-Sorbonne minha tese de doutorado: Joris-Karl Huysmans, ou a saída do túnel. Já na manhã seguinte (ou talvez já na própria noite, não posso garantir, pois a noite de minha defesa foi solitária e muito alcoolizada), entendi que uma parte de minha vida acabava de terminar, e era provavelmente a melhor.
Este é o caso, em nossas sociedades ainda ocidentais e social-democratas, de todos os que concluem seus estudos, mas que em sua maioria não tomam, ou não imediatamente, consciência disso, hipnotizados que estão pela ânsia do dinheiro, ou talvez do consumo, entre os mais primitivos, aqueles que desenvolveram o vício mais violento a certos produtos (são minoria, pois a maioria, mais sensata e ajuizada, desenvolve um fascínio simples pelo dinheiro, esse “Proteu incansável”), hipnotizados ainda mais pelo desejo de passar pelas provações, de consolidar um lugar social invejável num mundo que imaginam e esperam ser competitivo, galvanizados que estão pela adoração a ícones mutáveis: atletas, criadores de moda ou de portais da internet, atores e modelos.
Por diferentes razões psicológicas que não tenho competência nem vontade de analisar, me afastei sensivelmente desse esquema. No dia 1º de abril de 1866, então com dezoito anos, Joris-Karl Huysmans iniciou sua carreira de funcionário de sexta classe, no Ministério do Interior e dos Cultos. Em 1874, publicou por conta própria uma primeira coletânea de poemas em prosa, Le drageoir à épices, que foi objeto de poucas resenhas, fora um artigo extremamente fraterno de Théodore de Banville. Seus inícios na existência, como se vê, nada tiveram de estrondosos.
Sua vida administrativa foi passando e, mais genericamente, sua vida. No dia 3 de setembro de 1893, a Legião de Honra lhe foi outorgada por seus méritos no funcionalismo público. Em 1898, aposentou-se, tendo cumprido — uma vez contabilizadas as licenças por motivos pessoais — seus trinta anos regulamentares de serviço. Nesse meio-tempo, dera um jeito de escrever diferentes livros que me fizeram, com mais de um século de distância, considerá-lo um amigo. Muitas coisas, demasiadas coisas talvez foram escritas sobre a literatura (e, como professor universitário especialista nesse campo, sinto-me mais que qualquer outro habilitado a falar a respeito). A especificidade da literatura, arte maior de um Ocidente que se conclui diante dos nossos olhos, não é, porém, muito difícil de definir. Tanto quanto a literatura, a música pode determinar uma reviravolta, um transtorno emotivo, uma tristeza ou um êxtase absolutos; tanto quanto a literatura, a pintura pode gerar um deslumbramento, um olhar novo depositado sobre o mundo. Mas só a literatura pode dar essa sensação de contato com outro espírito humano, com a integralidade desse espírito, suas fraquezas e grandezas, suas limitações, suas mesquinharias, suas ideias fixas, suas crenças; com tudo o que o comove, o interessa, o excita ou o repugna. Só a literatura permite entrar em contato com o espírito de um morto, da maneira mais direta, mais completa e até mais profunda do que a conversa com um amigo — por mais profunda e duradoura que seja uma amizade, numa conversa nunca nos entregamos tão completamente como o fazemos diante de uma página em branco, dirigindo-nos a um destinatário desconhecido. Então, é claro, quando se trata de literatura, a beleza do estilo, a musicalidade das frases têm sua importância; a profundidade da reflexão do autor, a originalidade de seus pensamentos não são de desprezar; mas um autor é antes de tudo um ser humano, presente em seus livros; que escreva muito bem ou muito mal, em última análise, importa pouco, o essencial é que escreva e esteja, de fato, presente em seus livros (é estranho que uma condição tão simples, na aparência tão pouco discriminatória, na realidade o seja tanto, e que esse fato evidente, facilmente observável, tenha sido tão pouco explorado pelos filósofos de diversas vertentes: como os seres humanos possuem em princípio, à falta de outra qualidade, uma idêntica quantidade de ser, todos estão em princípio mais ou menos igualmente presentes; porém, não é esta a impressão que dão, com alguns séculos de distância, e é frequente vermos se esfiapar, páginas a fio, que sentimos ditadas mais pelo espírito do tempo do que por uma individualidade própria, um ser incerto, cada vez mais fantasmático e anônimo). Da mesma maneira, um livro que amamos é antes de tudo um livro cujo autor amamos, a quem temos vontade de encontrar, com quem desejamos passar nossos dias. E durante esses sete anos que durou a redação de minha tese vivi na companhia de Huysmans, em sua presença quase permanente. Nascido na rue Suger, tendo morado na rue de Sèvres e na rue Monsieur, Huysmans morreu na rue Saint-Placide e foi enterrado no cemitério de Montparnasse. Em suma, quase toda sua vida se passou nos limites do sexto arrondissement de Paris — assim como sua vida profissional, por mais de trinta anos, se passou nas salas do Ministério do Interior e dos Cultos. Na época eu também morava no sexto arrondissement de Paris, num quarto úmido e frio, sobretudo extremamente escuro — as janelas davam para um pátio minúsculo, quase um poço, era preciso acender a luz desde o início da manhã. Eu sofria com a pobreza, e se devesse ter respondido a uma dessas pesquisas que tentam regularmente “tomar o pulso da juventude”, é provável que tivesse definido minhas condições de vida como “muito difíceis”. No entanto, na manhã seguinte à minha defesa de tese (talvez na própria noite), meu primeiro pensamento foi que eu acabava de perder algo inapreciável, algo que nunca mais reencontraria: minha liberdade. Por vários anos, os últimos resíduos de uma social- -democracia agonizante tinham me permitido (graças a uma bolsa de estudos, a um sistema extenso de descontos e vantagens sociais, a refeições medíocres mas baratas no restaurante universitário) dedicar a integralidade de meus dias a uma atividade que eu escolhera: o livre convívio intelectual com um amigo. Como nota com acerto André Breton, o humor de Huysmans representa o caso único de um humor generoso, que põe o leitor em posição de vantagem, que convida o leitor a escarnecer de antemão do autor, do excesso de suas descrições lamurientas, atrozes ou risíveis. E eu aproveitara melhor que ninguém essa generosidade, recebendo minhas doses de maionese de aipo, ou merluza com purê, nos compartimentos daquele bandejão metálico de hospital que o restaurante universitário Bullier entregava a seus desafortunados clientes (que visivelmente não tinham para onde ir, com certeza haviam sido barrados em todos os restaurantes universitários aceitáveis, mas possuíam a carteira de estudante, pois isso não podia ser tirado deles), enquanto eu pensava nos epítetos de Huysmans, o queijo desolador, o temível linguado, e imaginava o proveito que Huysmans, que não os conhecera, poderia ter tirado daqueles compartimentos metálicos carcerários, e me sentia um pouco menos infeliz, um pouco menos sozinho, no restaurante universitário Bullier.
Mas tudo isso estava terminado; minha juventude, mais genericamente, estava terminada. Em breve (e sem dúvida muito depressa), eu deveria me envolver num processo de inserção profissional. O que não me alegrava nem um pouco.
Os estudos universitários no campo das letras não levam, como se sabe, praticamente a nada, a não ser, para os estudantes mais dotados, a uma carreira de ensino universitário no campo das letras — em suma, temos a situação um tanto cômica de um sistema sem outro objetivo além de sua própria reprodução, acompanhado por uma taxa de não aproveitamento superior a noventa e cinco por cento. Esses estudos no entanto não são nocivos e podem até apresentar uma utilidade marginal. Uma moça que procure um emprego de vendedora na Céline ou na Hermès deverá naturalmente, e em primeiríssimo lugar, cuidar de sua aparência; mas uma graduação ou um mestrado em letras modernas poderá constituir um trunfo secundário que garanta ao patrão, na falta de competências mais aproveitáveis, uma certa agilidade intelectual que pressagie a possibilidade de uma evolução na carreira — a literatura, além do mais, vem desde sempre acompanhada de uma conotação positiva no ramo da indústria do luxo.
No meu caso, eu tinha consciência de fazer parte da mínima franja dos “estudantes mais dotados”. Escrevera uma boa tese, eu sabia, e esperava uma menção honrosa; fiquei até agradavelmente surpreso com as felicitações do júri por unanimidade, e mais ainda quando recebi meu relatório de tese, que era excelente, quase ditirâmbico; a partir daí, tinha boas chances de me qualificar, se desejasse, para o cargo de professor adjunto. Em suma, minha vida continuava, por sua uniformidade e insipidez previsíveis, a se assemelhar à de Huysmans um século e meio antes. Eu tinha passado os primeiros anos de minha vida de adulto numa universidade; ali passaria provavelmente os últimos, e talvez na mesma (na verdade, não foi exatamente assim: obtive meus diplomas na universidade Paris IV-Sorbonne, e fui nomeado para a de Paris III, um pouco menos prestigiosa, mas também localizada no quinto arrondissement, a poucas centenas de metros de distância).
Nunca tivera a menor vocação para o ensino — e, quinze anos mais tarde, minha carreira apenas confirmara essa ausência de vocação inicial. Algumas aulas particulares dadas na esperança de melhorar meu padrão de vida me convenceram muito cedo de que a transmissão do saber era, quase sempre, impossível; a diversidade das inteligências, extrema; e que nada conseguiria suprimir nem sequer atenuar essa desigualdade fundamental. Talvez, mais grave ainda, eu não gostasse dos jovens — e jamais tinha gostado, nem na época em que podia ser considerado como um integrante de suas fileiras. A ideia de juventude implicava, parecia-me, certo entusiasmo em relação à vida, ou talvez certa revolta, tudo isso acompanhado por uma vaguíssima sensação de superioridade com respeito à geração que se era chamado a substituir; eu nunca tinha sentido em mim nada parecido. No entanto, tive amigos, no tempo da juventude — ou, mais exatamente, certos colegas com quem eu podia imaginar, sem asco, ir tomar um café ou uma cerveja entre uma aula e outra. Sobretudo, tive amantes — ou melhor, como se dizia na época (e como talvez ainda se dissesse), tive namoradinhas — mais ou menos na base de uma por ano. Essas relações amorosas se desenvolveram segundo um esquema relativamente imutável. Nasciam no início do ano letivo, durante um trabalho de grupo, uma troca de notas de aula, em suma, uma dessas múltiplas ocasiões de socialização, tão frequentes na vida do estudante, e cujo desaparecimento, ao se entrar na vida profissional, mergulha a maioria dos seres humanos numa solidão tão espantosa quanto radical. Elas seguiam seu curso ao longo de todo o ano, as noites eram passadas na casa de um ou de outro (bem, sobretudo na casa delas, pois o ambiente lúgubre, e até insalubre, de meu quarto se prestava mal a encontros românticos) e envolviam atos sexuais (com uma satisfação que eu gosto de imaginar mútua). No fim das férias de verão, portanto no início do novo ano letivo, a relação terminava, quase sempre por iniciativa das garotas. Tinham vivido alguma coisa durante o verão, era essa a explicação que me davam, no mais das vezes sem maiores esclarecimentos; algumas, menos preocupadas talvez em me poupar, me comunicavam que tinham encontrado alguém. Sim, e daí? Eu também era alguém. Com a distância, essas explicações factuais me parecem insuficientes: tinham de fato, não nego, encontrado alguém; mas o que as levara a atribuir a esse encontro um peso suficiente para interromper nossa relação e se envolverem numa relação nova era apenas a aplicação de um modelo comportamental amoroso poderoso mas implícito, e mais poderoso ainda na medida em que permanecia implícito.
Segundo o modelo amoroso prevalecente nesses anos de minha juventude (e nada me faz pensar que as coisas tenham mudado significativamente), os jovens, depois de um período curto de vagabundagem sexual que corresponde à pré-adolescência, deviam se envolver, supostamente, em relações amorosas exclusivas, acompanhadas de uma monogamia estrita, em que entravam em cena atividades não só sexuais mas também sociais (saídas, fins de semana, férias). Essas relações não tinham, porém, nada de definitivo, mas deviam ser consideradas aprendizados da relação amorosa, de certa forma estágios (cuja prática se generalizava, aliás, no plano profissional como algo prévio ao primeiro emprego). Relações amorosas de duração variável (a duração de um ano que, por minha vez, eu mantinha podia ser considerada aceitável), em número variável (uma média de dez a vinte parecia razoável), deviam supostamente se suceder antes de resultar, como uma apoteose, na relação última, que teria, agora sim, caráter conjugal e definitivo, e levaria, pela geração de filhos, à constituição de uma família.
Só me daria conta da perfeita inanição desse esquema muito mais tarde, bem recentemente, na verdade, quando tive oportunidade, com algumas semanas de intervalo, de encontrar por acaso Aurélie, e depois Sandra (mas, estou convencido, o encontro com Chloé ou Violaine não teria mudado significativamente minhas conclusões). Assim que cheguei ao restaurante basco onde, a meu convite, ia jantar com Aurélie, percebi que passaria uma noite lamentável. Apesar das duas garrafas de Irouléguy branco que fui praticamente o único a beber, senti dificuldades crescentes, que logo se tornaram intransponíveis, em manter um nível razoável de comunicação calorosa. Sem que eu conseguisse realmente explicar, de imediato me pareceu indelicado e quase impensável evocar lembranças comuns. Quanto ao presente, era óbvio que Aurélie não conseguira, de jeito nenhum, se envolver num relacionamento conjugal, que as aventuras ocasionais lhe causavam aversão crescente, que sua vida sentimental, enfim, se encaminhava para um desastre irremediável e completo. Entretanto, ela havia tentado ao menos uma vez, compreendi por diversos indícios, e não se recuperara desse fracasso, e a amargura e o rancor com que evocava seus colegas masculinos (tínhamos chegado, na falta de algo melhor, a falar de sua vida profissional — ela era responsável pela comunicação no sindicato interprofissional dos vinhos de Bordeaux, portanto viajava muito, em especial pela Ásia, para promover as safras francesas) revelavam com cruel evidência que levara umas boas traulitadas. Mas fiquei surpreso quando me convidou, logo antes de sair do táxi, para “tomar uma saideira”. Ela está realmente na pior, pensei, e já sabia, na hora em que a porta do elevador se fechou atrás de nós, que nada aconteceria, não tinha sequer vontade de vê-la nua, teria preferido evitar, mas a coisa se produziu, e apenas confirmou o que eu já pressentia: não era apenas no plano emocional que ela levara umas traulitadas, seu corpo sofrera estragos irreparáveis, sua bunda e seus seios não eram mais que superfícies de carnes magras, reduzidas, moles e caídas, ela já não podia, nunca mais poderia ser considerada um objeto de desejo.
Meu jantar com Sandra se passou mais ou menos no mesmo esquema, com algumas variações individuais (restaurante de frutos do mar, cargo de secretária de diretoria numa multinacional farmacêutica), e sua conclusão foi, grosso modo, idêntica, com a diferença de que Sandra, mais cheinha e mais jovial que Aurélie, me deixou com uma impressão de desamparo menos profunda. Sua tristeza era grande, irremediável, e eu sabia que acabaria encobrindo tudo; como Aurélie, no fundo ela não passava de um pássaro sujo de petróleo numa maré negra, mas conservara, se posso me expressar assim, uma capacidade superior de bater as asas. Em um ou dois anos deixaria de lado qualquer ambição matrimonial, os vestígios de sua sensualidade a impeliriam a buscar a companhia de gente jovem, ela se tornaria o que se chamava em minha juventude uma coroa enxuta, e provavelmente isso duraria alguns anos, dez na melhor das hipóteses, antes que o desabamento de suas carnes, desta vez redibitório, a levasse a uma solidão definitiva.
Em um ou dois anos deixaria de lado qualquer ambição matrimonial, os vestígios de sua sensualidade a impeliriam a buscar a companhia de gente jovem, ela se tornaria o que se chamava em minha juventude uma coroa enxuta, e provavelmente isso duraria alguns anos, dez na melhor das hipóteses, antes que o desabamento de suas carnes, desta vez redibitório, a levasse a uma solidão definitiva.
Na época de meus vinte anos, na época em que eu ficava de pau duro com qualquer pretexto, e às vezes até sem razão, em que de certa forma me excitava no vazio, poderia me sentir tentado por uma relação desse tipo, a um só tempo mais satisfatória e mais lucrativa do que minhas aulas particulares, e acho que naquela época conseguiria me garantir, mas agora, é claro, nem pensar nisso, minhas ereções mais raras e mais casuais exigiam corpos firmes, flexíveis e sem defeito.
Minha própria vida sexual, nos primeiros anos que se seguiram à nomeação para o posto de professor adjunto da universidade Paris III Sorbonne, não conheceu evolução notável. Continuei, ano após ano, a dormir com estudantes da faculdade — e o fato de estar na posição de professor não mudava muita coisa em relação a elas. Seja como for, no início era bastante pequena a diferença de idade entre mim e essas estudantes, e só aos poucos é que uma dimensão de transgressão foi se introduzir, mais ligada à evolução de meu estatuto universitário do que a meu envelhecimento real ou mesmo aparente. Beneficiei-me amplamente, em suma, dessa desigualdade de base que reza que o envelhecimento no homem só altera muito devagar seu potencial erótico, ao passo que na mulher o desabamento se produz com uma brutalidade estarrecedora, em poucos anos, às vezes em alguns meses. A única verdadeira diferença em relação a meus anos de estudante é que, via de regra, agora era eu que terminava a relação no início do ano letivo. Não o fazia por ser um dom juan, de jeito nenhum, nem por desejar uma libertinagem desenfreada. Ao contrário de meu colega Steve, responsável junto comigo pelo ensino de literatura do século XIX no primeiro e segundo anos, eu não me desabalava com avidez, desde o primeiro dia de aula, para observar “as novas levas” de alunas de primeiro ano (com seus suéteres, seus tênis Converse e seu look vagamente californiano, toda vez ele me fazia pensar em Thierry Lhermitte em Les Bronzés, quando sai de sua cabaninha para assistir à chegada ao clube dos veranistas da semana). Se eu rompia meu relacionamento com essas moças, era mais sob o efeito de um desânimo, de um cansaço: realmente já não me sentia em condições de manter uma relação amorosa, e desejava evitar qualquer decepção, qualquer desilusão. Mudava de opinião durante o ano letivo, sob influência de fatores externos e muito episódicos — em geral uma saia curta.
E depois, isso também acabava. Tinha me afastado de Myriam no final de setembro, já estávamos em meados de abril, o ano letivo se aproximava do final e eu ainda não a substituíra. Fora nomeado professor titular, minha carreira acadêmica atingia com isso uma espécie de coroação, mas eu não pensava que, de fato, fosse possível estabelecer uma relação entre as duas coisas. Em compensação, foi pouco depois de meu rompimento com Myriam que encontrei Aurélie, e depois Sandra, e nisso havia uma conexão perturbadora, e desagradável, e desconfortável. Porque tive de me dar conta, e repisei isso ao longo dos dias, de que minhas ex e eu estávamos muito mais próximos do que imaginávamos, e as relações sexuais ocasionais, não inscritas numa perspectiva de casal estável, acabaram nos inspirando um sentimento de desilusão muito semelhante. Ao contrário delas, eu não podia me abrir com ninguém, pois as conversas sobre a vida íntima não fazem parte dos temas considerados admissíveis na sociedade dos homens: eles falarão de política, de literatura, de mercados financeiros ou de esportes, dependendo do temperamento. Sobre sua vida amorosa manterão silêncio, e isso até seu último suspiro.
Será que, ao envelhecer, eu era vítima de uma espécie de andropausa? Aquilo podia estar realmente acontecendo e, para tirar a limpo, resolvi passar minhas noites no YouPorn, que ao longo dos anos se tornou um site pornô de referência. O resultado foi, logo de saída, extremamente tranquilizador. O YouPorn respondia às fantasias dos homens normais, espalhados pela superfície do planeta, e eu era, o que se confirmou desde os primeiros minutos, um homem de normalidade absoluta. Isso, afinal de contas, não tinha nada de óbvio, eu dedicara grande parte da vida ao estudo de um autor volta e meia considerado uma espécie de decadente, cuja sexualidade não era, por isso mesmo, um assunto muito claro. Pois bem, saí da prova absolutamente sossegado. Aqueles vídeos ora magníficos (filmados por uma turma de Los Angeles, havia um elenco, um iluminador, câmeras e diretores de fotografia), ora lamentáveis, mas vintage (os diletantes alemães), baseavam-se em alguns roteiros idênticos e agradáveis. Num dos mais difundidos, um homem (moço? velho? Havia as duas versões) deixava bestamente seu pênis dormir no fundo de uma cueca ou de um short. Duas moças de raça variável se davam conta dessa incongruência, e a partir daí só pensavam em liberar o órgão de seu abrigo temporário. Elas faziam, para inebriá-lo, as mais alucinantes provocações, tudo isso sendo perpetrado num espírito de amizade e cumplicidade femininas. O pênis passava de uma boca a outra, as línguas se cruzavam como se cruzam os voos de andorinhas, ligeiramente inquietas, no céu escuro do sul do Seine-et-Marne quando se preparam para abandonar a Europa em sua peregrinação de inverno. O homem, aniquilado por essa assunção, só pronunciava umas palavras extenuadas; horrivelmente extenuadas na versão para os franceses (“Ai, porra!”, “Ai, porra estou gozando!”, era isso mais ou menos o que se podia ouvir de um povo regicida), e mais belas e intensas na versão para os americanos (“Oh, my God!”, “Oh, Jesus Christ!”), testemunhas exigentes, para quem aquilo era como uma intimação a não se desprezar os dons de Deus (as felações, a posição do frango assado), seja como for eu também ficava de pau duro, na frente da tela do meu iMac 27 polegadas, portanto tudo ia muitíssimo bem.
Desde que eu fora nomeado professor, meus horários reduzidos de aula me permitiram concentrar na quarta-feira o conjunto de minhas tarefas universitárias. Isso se iniciava, de oito às dez, com um curso sobre literatura do século XIX que eu dava para os estudantes de segundo ano — ao mesmo tempo, Steve dava, num auditório vizinho, um curso análogo para os do primeiro ano. De onze à uma da tarde, eu dava o curso de especialização 2 sobre os decadentes e os simbolistas. Depois, entre três e seis da tarde, organizava um seminário em que respondia às perguntas dos doutorandos.
Gostava de pegar o metrô pouco depois das sete da manhã e ter a ilusão fugaz de pertencer à “França que levanta cedo”, a dos operários e artesãos, mas devia ser mais ou menos o único nesse caso, pois dava aula às oito numa sala quase deserta, fora um grupo compacto de chinesas, de uma seriedade gélida, que falavam pouco entre si e nunca com nenhuma outra pessoa. Mal chegavam, ligavam os smartphones para gravar a integralidade de minha aula, o que não as impedia de tomarem notas em grandes cadernos de 21 x 29,7 com espiral. Nunca me interrompiam, não faziam nenhuma pergunta, e as duas horas se passavam sem me dar a impressão de terem realmente começado. Na saída da aula eu encontrava Steve, que tivera uma audiência comparável — com a diferença de que as chinesas eram substituídas, no caso dele, por um grupo de magrebinas de véu, mas igualmente sérias, igualmente impenetráveis. Quase sempre ele me propunha irmos tomar alguma coisa — geralmente um chá de hortelã na grande mesquita de Paris, a poucas ruas da faculdade. Eu não gostava de chá de hortelã, nem da grande mesquita de Paris, e também não gostava muito de Steve, mas o acompanhava. Penso que ele me era grato por aceitar, pois não era muito respeitado por seus colegas em geral, na verdade era de se perguntar como conseguira o estatuto de professor adjunto, pois não havia publicado nada, em nenhuma revista importante nem mesmo de segundo plano, e só era autor de uma vaga tese sobre Rimbaud, tema embromação por excelência, como me explicara Marie Françoise Tanneur, outra colega minha, por sua vez reconhecida especialista em Balzac, pois milhares de teses foram escritas sobre Rimbaud, em todas as universidades da França, dos países francofônicos e mesmo em outros, e Rimbaud é provavelmente o assunto de tese mais batido do mundo, com exceção talvez de Flaubert, então basta ir procurar duas ou três teses antigas, defendidas em universidades do interior, e intercalá-las vagamente, e ninguém terá meios materiais de checar, ninguém terá meios nem sequer vontade de mergulhar em centenas de milhares de páginas incansavelmente paridas sobre o vidente por estudantes destituídos de personalidade. A carreira universitária mais que honrosa de Steve se devia unicamente, ainda segundo Marie-Françoise, ao fato de que ele fazia minete na dona Delouze. Era possível, embora surpreendente. Com seus ombros quadrados, seu cabelo grisalho escovinha e seu currículo implacavelmente gender studies, Chantal Delouze, reitora da universidade Paris III-Sorbonne, me parecia uma lésbica cem por cento madeira de lei, mas eu podia estar enganado, aliás talvez ela sentisse rancor pelos homens, expressando-se por fantasias de dominação, e talvez o fato de obrigar o gentil Steve, com seu rosto bonito e inofensivo, seu cabelo meio comprido, cacheado e fino, a se ajoelhar entre suas coxas atacarradas lhe proporcionasse êxtases de um gênero novo. Verdade ou mentira, eu não conseguia deixar de pensar nisso, naquela manhã, no pátio do salão de chá da grande mesquita de Paris, olhando-o chupar sua repulsiva chicha aromatizada de maçã.
Sua conversa versava, como de hábito, sobre nomeações e evoluções da carreira dentro da hierarquia universitária, e não creio que algum dia tivesse tratado de outro tema por conta própria. Sua preocupação naquela manhã era a nomeação para o posto de professor assistente de um sujeito de vinte e cinco anos, autor de uma tese sobre Léon Bloy, e que segundo ele tinha “relações com a corrente identitária”. Acendi um cigarro para ganhar tempo, me perguntando que diachos ele tinha a ver com isso. Por um instante me passou pelo espírito até mesmo a ideia de que o homem de esquerda despertava nele, e depois caí em mim: o homem de esquerda estava profundamente adormecido em Steve, e nenhum acontecimento de importância menor que um deslocamento político das instâncias dirigentes da universidade francesa teria condições de tirá-lo de seu sono. Talvez fosse um sinal, ele prosseguiu, ainda mais que Amar Rezki, conhecido por seus trabalhos sobre os autores antissemitas do início do século XX, acabava de ser nomeado professor. Aliás, insistiu ele, a conferência dos reitores se associara recentemente a uma operação de boicote aos intercâmbios com os pesquisadores israelenses, iniciada por um grupo de universidades inglesas.
Aproveitando a sua concentração na chicha, que custava a ser chupada, consultei discretamente meu relógio e verifiquei que eram apenas dez e meia, dificilmente eu poderia alegar a iminência de meu segundo curso para me despedir, e depois me veio uma ideia para retomar a conversa sem maiores riscos: nas últimas semanas voltava a se falar de um velho projeto de pelo menos quatro ou cinco anos, relativo à implantação de uma réplica da Sorbonne em Dubai (ou no Bahrein? ou no Catar? eu os confundia). Um projeto semelhante estava em estudo com Oxford, pois a antiguidade de nossas duas universidades devia ter seduzido uma petromonarquia qualquer. Nessa perspectiva, certamente promissora em matéria de oportunidades financeiras reais para um jovem professor adjunto, ele pensava em se apresentar como candidato, manifestando posições antissionistas? E ele achava que eu deveria adotar a mesma atitude?
Dei para Steve um olhar brutalmente inquisidor — o rapaz não tinha grande inteligência, era fácil desestabilizá-lo, meu olhar teve um efeito rápido. “Como especialista em Bloy”, ele gaguejou, “com certeza você sabe coisas sobre essa corrente identitária, antissemita…” Suspirei, exausto: Bloy não era antissemita, e eu não era de jeito nenhum especialista em Bloy. É claro que fora levado a falar dele, por ocasião de minhas pesquisas sobre Huysmans, e a comparar o uso da linguagem em cada um, em meu único livro publicado, Vertigens dos neologismos — talvez o ápice de meus esforços intelectuais terrestres, que, em todo caso, obtivera excelentes críticas em Poétique e em Romantisme, e ao qual eu provavelmente devia minha nomeação para o cargo de professor. Na verdade, grande parte das palavras estranhas que encontramos em Huysmans não eram neologismos, mas palavras raras tiradas do vocabulário específico de certas corporações artesanais, ou de certos dialetos regionais. Huysmans, era essa minha tese, permanecera até o final um naturalista, preocupado em incorporar à sua obra o falar real do povo, e em certo sentido talvez até tivesse continuado a ser o socialista que participava das noitadas de Médan na casa de Zola, seu desprezo crescente pela esquerda jamais apagou a aversão inicial pelo capitalismo, pelo dinheiro, e por tudo o que podia se aparentar aos valores burgueses, em suma, era o tipo único de um naturalista cristão, ao passo que Bloy, constantemente ávido pelo sucesso comercial ou mundano, só buscava com seus neologismos incessantes se singularizar, se estabelecer como luz espiritual almejada, inacessível ao mundo, e escolhera um posicionamento místico-elitista na sociedade literária de seu tempo e mais adiante não parou de se espantar do próprio fracasso, e da indiferença, no entanto legítima, que suas imprecações causavam. Era, escreveu Huysmans, “um homem infeliz, cujo orgulho é realmente diabólico, e o ódio, incomensurável”. Na verdade, desde o início Bloy me pareceu o protótipo do mau católico, cuja fé e cujo entusiasmo só se exaltam realmente quando ele pode considerar seus interlocutores como condenados. No entanto, na época em que escrevia minha tese estive em contato com diferentes círculos católico-monarquistas de esquerda, que divinizavam Bloy e Bernanos e me acenavam com esta ou aquela carta manuscrita, até eu perceber que não tinham nada, absolutamente nada a me oferecer, nenhum documento que eu não conseguisse facilmente encontrar por conta própria nos arquivos normalmente acessíveis ao público universitário.
“Você com certeza está na pista de alguma coisa… Releia Drumont”, eu disse então a Steve, mais para agradá-lo, e ele me cravou um olhar obediente e ingênuo de criança oportunista. Diante da porta de minha sala de aula — nesse dia eu previra falar de Jean Lorrain —, três sujeitos de uns vinte anos, dois árabes e um negro, bloqueavam a entrada; hoje não estavam armados e tinham um jeito mais para calmo, não havia nada de ameaçador na atitude deles, mas o fato é que obrigavam as pessoas a terem de atravessar seu grupo para entrar na sala, e eu precisava intervir. Parei na frente deles: com certeza deviam ter ordem de evitar provocações, tratar com respeito os professores da faculdade, enfim, era o que eu esperava.
“Sou professor desta universidade, devo dar minha aula agora”, falei num tom firme, dirigindo-me ao grupo. Foi o negro que me respondeu, com um grande sorriso. “Sem problema, senhor, nós só viemos visitar nossas irmãs…”, disse ele, apontando para o auditório com um gesto tranquilizador. Em matéria de irmãs, só havia duas moças de origem magrebina, sentadas lado a lado, no alto à esquerda do auditório, vestidas com uma burca preta, os olhos protegidos por uma redinha, em suma, me pareciam visivelmente irrepreensíveis. “Então, pois é, já viram…” concluí com bondade. “Agora podem ir embora”, insisti. “Sem problema, senhor”, ele respondeu com um sorriso ainda mais largo, e depois deu meia-volta, seguido pelos outros, que não tinham pronunciado uma palavra. Três passos adiante, virou-se para mim. “A paz esteja com o senhor…”, disse, se inclinando ligeiramente. “Correu tudo bem…”, pensei ao fechar a porta da sala, “desta vez correu tudo bem”. Na verdade não sei muito bem o que eu esperava, tinha havido rumores de agressões a professores em Mulhouse, em Estrasburgo, em Aix-Marseille e em Saint Denis, mas eu nunca tinha encontrado um colega agredido e, no fundo, não acreditava realmente nisso, aliás, segundo Steve, fora fechado um acordo entre os movimentos de jovens salafistas e as autoridades universitárias, e ele via como prova disso o fato de que os pivetes e os traficantes tivessem desaparecido de vez, já fazia dois anos, dos arredores da faculdade. O acordo comportava uma cláusula que proibia o acesso à faculdade das organizações judaicas? De novo, isso não passava de um boato, dificilmente verificável, mas o fato é que a União dos Estudantes Judeus da França já não estava representada, desde o último início de ano letivo, em nenhum campus da região parisiense, enquanto a seção juvenil da Fraternidade Muçulmana tinha, um pouco em todo lado, multiplicado suas representações.
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.