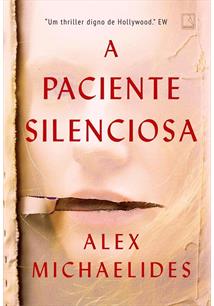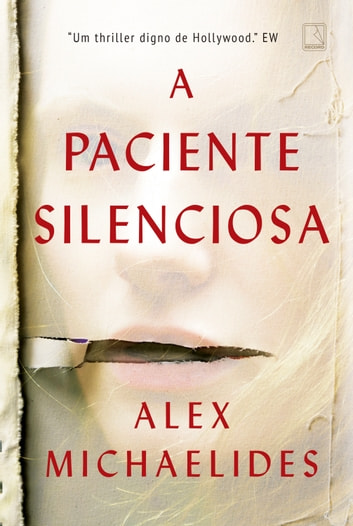
Após cometer o assassinado de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violência e do silencio. Só ela sabe o que aconteceu. Só ele pode fazê-la falar. A paciente silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não. Alicia Berenson tinha uma vida perfeita. Ela era uma pintora famosa casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres que dá para o parque de Hampstead Heath. Certa noite, Gabriel, seu marido, voltou tarde para casa depois de um ensaio para a Vogue, e de repente a vida de Alicia mudou completamente… Alicia tinha 33 anos quando deu cinco tiros no rosto do marido, e ela nunca mais disse uma palavra. A recusa de Alicia a falar ou a dar qualquer explicação transforma essa tragédia doméstica em algo muito maior…
Páginas: 350 páginas; Editora: Record; Edição: 3 (20 de maio de 2019); ISBN-10: 8501116432; ISBN-13: 978-8501116437; ASIN: B07NLKFWGY
Biografia do autor: Alex Michaelides nasceu no Chipre e é filho de pai greco-cipriota e mãe inglesa. Estudou literatura inglesa na Universidade de Cambridge e fez pós-graduação em roteiro cinematográfico no American Film Institute, em Los Angeles. Seu livro de estreia, A paciente silenciosa, teve os direitos de publicação vendidos para mais de 50 países, e os direitos de adaptação adquiridos por uma premiada produtora de Hollywood. As musas é seu segundo romance.
Leia trecho do livro
Para os meus pais
Mas por que ela não fala?
EURÍPIDES, Alceste
PRÓLOGO
O diário de Alicia Berenson
14 DE JULHO
Não sei por que estou escrevendo isso.
Minto, não é verdade. Talvez eu saiba, mas não queira admitir para mim mesma.
Não sei nem que nome dar para isso aqui que estou escrevendo. Parece meio pretensioso chamar de diário. Não é como se eu tivesse alguma coisa para dizer. Anne Frank tinha um diário — não alguém como eu. Chamar de “crônicas da minha vida” soa meio pedante. Dá um peso e uma obrigação que eu não quero: se virar obrigação, jamais vou levar isso adiante.
Talvez eu não dê nome nenhum. Uma coisa sem nome na qual eu escrevo de vez em quando. Prefiro assim. Quando se coloca um nome em algo, não dá mais para ver essa coisa como um todo nem a importância dela. Só se presta atenção na palavra, que é a parte menos importante, na verdade; a ponta do iceberg. Nunca me senti muito à vontade com as palavras — sempre penso visualmente, eu me expresso em imagens —, o que significa que jamais teria começado a escrever isso aqui se não fosse por Gabriel.
Tenho andado meio deprimida ultimamente por causa de algumas coisas. Achei que estava conseguindo esconder isso, mas ele percebeu — é claro que percebeu, ele percebe tudo. Gabriel perguntou como estava indo a pintura, e eu respondi que não estava indo. Ele trouxe uma taça de vinho para mim, e eu me sentei à mesa da cozinha enquanto ele cozinhava.
Gosto de observar Gabriel em ação na cozinha. Ele é um cozinheiro gracioso: elegante, ágil, organizado. Diferente de mim. Tudo que eu consigo fazer é uma enorme bagunça.
“Conversa comigo”, ele pediu.
“Eu não tenho nada para dizer. Às vezes é como se eu me perdesse nos meus próprios pensamentos. Como se eu estivesse nadando na lama.”
“Por que você não tenta fazer anotações? Registrar as coisas… Pode ajudar.”
“É, pode ser. Vou tentar.” “Mas não deixa isso ficar só no plano das ideias, querida. Coloca em prática.”
“Vou colocar, sim.”
Ele ficava me cobrando, mas eu não fazia nada. Até que alguns dias depois ele me deu de presente esse caderninho de anotações com capa de couro preta e folhas brancas sem pauta e grossas. Passei a mão na primeira página, sentindo sua maciez — e então apontei o lápis e comecei.
Ele tinha razão, é claro. Eu já estou me sentindo melhor — anotar essas coisas é uma espécie de libertação, uma válvula de escape, um espaço para me expressar. Acho que é mais ou menos como terapia.
Gabriel não disse nada, mas dá para perceber que ele está preocupado comigo. E, para ser sincera — e é bom que eu seja mesmo —, o verdadeiro motivo de eu ter concordado em escrever esse diário era para tranquilizá-lo, mostrar que eu estou bem. Não suporto a ideia de ver Gabriel preocupado comigo. Não quero nunca ser um motivo de aflição para ele, nem deixá-lo infeliz ou magoá-lo. Eu amo tanto Gabriel. Ele é sem sombra de dúvida o amor da minha vida. Eu o amo tanto, tanto, que às vezes esse sentimento parece que vai me consumir por completo. Às vezes eu sinto como se…
Não. Eu não vou escrever sobre essas coisas.
Isso aqui vai ser um registro prazeroso de ideias e imagens que me inspiram artisticamente, coisas que têm algum impacto criativo em mim. Eu vou registrar apenas pensamentos positivos, felizes, normais.
Nada de ideias malucas.
PRIMEIRA PARTE
Ele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai se convencer de que nenhum mortal é capaz de guardar segredo. Se os lábios estiverem em silêncio, ele vai tagarelar com a ponta dos dedos; traição exsuda por todos os poros.
SIGMUND FREUD,
Conferênciasintrodutórias à psicanálise
CAPÍTULO 1
Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido.
Eles estavam casados fazia sete anos. Os dois eram artistas: Alicia era pintora, e Gabriel um renomado fotógrafo de moda. Ele tinha um estilo bem próprio — fotografava mulheres semiesquálidas e seminuas sob ângulos estranhos e nada favoráveis. Desde sua morte, o preço das suas fotos aumentou astronomicamente. Para ser sincero, eu acho o trabalho dele bastante forçado e superficial. Sem nada do caráter visceral dos melhores trabalhos de Alicia. Não entendo de arte o bastante para dizer se Alicia Berenson vai passar no teste do tempo como pintora. Seu talento estará sempre à sombra da sua infâmia; portanto, é difícil ser objetivo. E vocês podem me acusar de ser tendencioso. Mas é apenas a minha opinião, tenha ela o valor que tiver. E, para mim, Alicia era praticamente um gênio. Deixando de lado a excelência técnica do seu trabalho, as pinturas dela têm uma estranha capacidade de prender a atenção — na verdade é, quase como se as obras agarrassem a atenção com força pelo pescoço.
Gabriel Berenson foi assassinado há seis anos. Tinha 44 anos. Foi morto no dia 25 de agosto — num verão particularmente quente, como devem se lembrar, com o registro de algumas das temperaturas mais altas jamais vistas. O dia em que ele morreu foi o mais quente do ano.
No último dia de vida, Gabriel se levantou cedo. Um carro foi buscá-lo às cinco e quinze da manhã na casa onde morava com Alicia na região noroeste de Londres, em frente ao parque de Hampstead Heath, e ele foi levado para uma sessão de fotos em Shoreditch. Passou o dia fotografando modelos num terraço para a Vogue.
Não se sabe muito bem o que Alicia fez naquele dia. Ela estava às vésperas de uma nova exposição, atrasada com o trabalho. É provável que tenha passado o dia pintando no chalé nos fundos do jardim, que havia transformado em ateliê recentemente. No final das contas, a sessão de fotos de Gabriel avançou noite adentro e ele só foi levado de volta para casa às onze.
Meia hora depois, a vizinha Barbie Hellmann ouviu vários tiros. Ela ligou para a polícia, e a delegacia de Haverstock Hill mandou uma viatura às onze e trinta e cinco, que chegou à casa da família Berenson em menos de três minutos.
A porta da frente estava aberta. A casa, mergulhada na escuridão total; nenhum dos interruptores funcionava. Os policiais atravessaram o corredor e chegaram à sala. Usaram lanternas, iluminando o ambiente com feixes de luz intermitentes. E deram com Alicia de pé junto à lareira. Seu vestido branco ficou fantasmagórico à luz das lanternas. Alicia parecia não perceber a presença da polícia. Estava imóvel, congelada — uma estátua de gelo —, com uma estranha e assustadora expressão no rosto, como se estivesse diante de um terror jamais visto.
No chão, uma arma. Ao lado dela, no escuro, Gabriel sentado, imóvel, preso a uma cadeira por fios que atavam seus tornozelos e seus punhos. De início, os policiais acharam que ele estava vivo. A cabeça pendia ligeiramente para o lado, como se ele estivesse inconsciente. Até que foi possível ver, sob um dos feixes de luz, que tinha levado vários tiros no rosto. Seus traços atraentes nunca mais seriam vistos, transformados numa massa escura, carbonizada e coberta de sangue. Na parede atrás dele, pedaços do crânio, massa cinzenta, cabelos… E sangue.
Havia sangue por todo lado, salpicado nas paredes, em filetes escuros no chão, nos sulcos do assoalho de madeira. Os policiais deduziram que era de Gabriel. Mas tinha sangue demais. Até que alguma coisa brilhou à luz das lanternas — havia uma faca no chão perto dos pés de Alicia. Outro feixe de luz revelou sangue em seu vestido. Um dos oficiais pegou seus braços e os levantou na luz. Havia cortes profundos nas veias dos punhos — cortes recentes, sangrando muito.
Alicia resistiu às tentativas de salvar sua vida; foram necessários três policiais para contê-la. Ela foi levada para o Royal Free Hospital, a poucos minutos de distância. Desmaiou no caminho. Tinha perdido muito sangue, mas sobreviveu.
No dia seguinte, estava deitada numa cama de um quarto particular do hospital. Fora interrogada pela polícia na presença do advogado. Mas Alicia se manteve em silêncio o tempo todo. Os lábios pálidos volta e meia tremiam, mas sem chegar a formar palavras, sem emitir nenhum som. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Não era capaz de falar, não queria. Nem disse absolutamente nada ao ser acusada do assassinato de Gabriel. Continuou em silêncio ao ser detida, recusando-se a negar qualquer culpa ou confessá-la.
Alicia nunca mais voltou a falar.
Seu silêncio inabalável transformou essa tragédia doméstica
banal em algo muito maior: um mistério, um enigma que tomou conta das manchetes e ocupou durante meses a imaginação do público. Mesmo em silêncio, Alicia não deixou de se expressar. Uma pintura. Começou-a depois de sair do hospital para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. De acordo com a enfermeira psiquiátrica designada pelo tribunal, Alicia mal comia ou dormia — ela praticamente se limitava a pintar.
Em geral, Alicia se preparava durante semanas ou até meses antes de começar um novo quadro, fazendo intermináveis esboços, dispondo e reformulando a composição, experimentando com cores e formas — uma longa gestação seguida de um demorado parto, conforme cada pincelada era aplicada com infinita meticulosidade. Agora, entretanto, ela havia alterado drasticamente seu processo criativo, e concluiu essa pintura poucos dias após o assassinato do marido.
E para muita gente isso já seria suficiente para condená-la: voltar ao ateliê tão pouco tempo depois da morte de Gabriel demonstrava uma extraordinária insensibilidade. A monstruosa ausência de remorso de uma assassina fria.
Talvez. Mas não se deve esquecer que, embora Alicia Berenson possa de fato ser uma assassina, ela também era uma artista. E faz total sentido — pelo menos para mim — que se utilizasse de tintas e pincéis para expressar numa tela suas complexas emoções. Não é de surpreender que, para variar, a inspiração lhe viesse com tamanha facilidade; se é que o sofrimento pode ser considerado fácil.
A pintura era um autorretrato. E ela lhe deu um título no canto inferior esquerdo da tela, em letras azul-claras do alfabeto grego.
Uma palavra:
Alceste.
CAPÍTULO 2
Alceste é a heroína de um mito grego. Uma história de amor das mais tristes. Alceste decide sacrificar a própria vida pelo marido, Admeto, morrendo em seu lugar quando ninguém mais o fez. Um mito perturbador de autossacrifício, embora não ficasse claro como isso estaria relacionado ao caso de Alicia. O verdadeiro significado da alusão me escapou por algum tempo. Até que um dia a verdade veio à tona…
Mas não quero me adiantar. Estou me precipitando. Tenho que começar do começo e deixar que os acontecimentos falem por si mesmos. Não devo enfeitá-los, distorcê-los, nem contar mentiras. Vou avançar passo a passo, lenta e cautelosamente. Mas por onde começar? Eu preciso me apresentar, mas talvez ainda não seja o momento certo; afinal, não sou o herói dessa história. Essa é a história de Alicia Berenson; e, portanto, preciso começar por ela — e por Alceste.
A pintura é um autorretrato, mostrando Alicia em seu ateliê nos dias subsequentes ao assassinato, de pé diante de uma tela num cavalete, segurando um pincel. Ela está nua. Seu corpo é entregue sem que se poupe nenhum detalhe: longos fios de cabelo ruivo se estendendo além dos ombros ossudos, as veias azuladas visíveis por baixo da pele translúcida, feridas recentes nos dois punhos. Ela segura o pincel entre os dedos. Dele pinga tinta vermelha — ou seria sangue? Ela é retratada no ato de pintar, mas a tela está vazia, assim como sua expressão. Com a cabeça virada de lado, ela olha diretamente para nós. Boca aberta, lábios afastados. Muda.
Durante o julgamento, Jean-Felix Martin, gerente da pequena galeria do Soho que representava Alicia, tomou a polêmica decisão, criticada por muitos como sensacionalista e macabra, de exibir Alceste. O fato de a artista estar naquele momento respondendo pela morte do marido no banco dos réus fez com que, pela primeira vez na longa história da galeria, filas se formassem à entrada.
Entrei na fila com os outros ansiosos apreciadores de arte, esperando minha vez à luz neon vermelha da sex shop ao lado. E, um por um, nós entrávamos. Dentro da galeria, éramos conduzidos até a pintura, como uma multidão empolgada num parque de diversões indo para a casa mal-assombrada. Até que me vi diante de Alceste.
Fiquei encarando a pintura, o rosto de Alicia, tentando interpretar seu olhar, tentando entender — mas o retrato resistia, desafiador. Alicia me encarava com sua máscara impassível, impenetrável, enigmática. Não consegui detectar inocência nem culpa em sua expressão. Mas houve quem achasse a leitura mais fácil.
— Maldade pura — sussurrou a mulher atrás de mim.
— Né? — concordou sua companhia. — Piranha com sangue-frio.
Um tanto injusto, pensei, considerando que a culpa de Alicia ainda não havia sido provada. Mas, na verdade, a conclusão era inevitável. Desde o início, os tabloides venderam a ideia de que ela era uma vilã: uma mulher fatal, uma viúva negra. Um monstro. Tal como se apresentavam, os fatos eram simples: Alicia foi encontrada sozinha com o corpo de Gabriel; na arma havia apenas suas impressões digitais. Não restava a menor dúvida de que ela matara Gabriel. Já o porquê continuava um mistério.
O crime era debatido na mídia, e surgiam diferentes teorias nos jornais, no rádio, nos talk shows matinais da televisão. Especialistas eram convidados a explicar, condenar, justificar os atos de Alicia. Ela devia ser vítima de violência doméstica, sem dúvida, e suportou até o seu limite antes de explodir. Outra teoria era de que se tratava de um jogo sexual que deu errado — afinal, o marido não tinha sido encontrado amarrado? Alguns suspeitavam de que Alicia tenha sido levada ao assassinato pelo bom e velho ciúme — provavelmente outra mulher. No julgamento, entretanto, Gabriel foi descrito pelo irmão como marido dedicado, profundamente apaixonado pela companheira. Bem, e questões relacionadas a dinheiro? Alicia não tinha muito a ganhar com a morte dele; era ela quem tinha dinheiro, herdado do pai.
E assim corriam soltas as especulações, sem respostas, apenas mais perguntas sobre os motivos de Alicia e seu posterior silêncio. Por que ela se recusava a falar? O que isso significava? Estava escondendo alguma coisa? Protegendo alguém? Neste caso, quem? E por quê?
Na época, me lembro de pensar que, enquanto todo mundo falava, escrevia, discutia sobre Alicia, bem no cerne de toda essa barulhenta e frenética agitação, havia um vazio — um silêncio. Uma esfinge.
No julgamento, o juiz não viu com bons olhos a persistente recusa de Alicia de se manifestar. Quem é inocente, frisava o Meritíssimo Juiz Alverstone, costuma proclamar a própria inocência em alto e bom som, e o tempo todo. Alicia não só permanecia em silêncio como não demonstrava o menor sinal de remorso. Não chorou uma vez sequer durante o julgamento, fato bastante explorado pela imprensa, mantendo a expressão fria e inalterada. Congelada.
A defesa não tinha escolha senão alegar inimputabilidade: Alicia tinha um longo histórico de transtornos mentais, afirmava-se, remontando à infância. O juiz descartou boa parte desse argumento como sem fundamento, mas no fim se deixou convencer por Lazarus Diomedes, professor de psiquiatria forense no Imperial College e diretor clínico do Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na região norte de Londres. O professor Diomedes sustentou a alegação de que a própria recusa de falar demonstrava o profundo desequilíbrio psicológico de Alicia, o que devia ser levado em conta na determinação da sentença. O que era, na verdade, um eufemismo para algo que os psiquiatras não gostam de afirmar diretamente:
O que Diomedes queria dizer era que Alicia estava louca.
Era a única explicação que fazia algum sentido: por que outro motivo ela iria amarrar o homem amado a uma cadeira e atirar no rosto dele? Para depois não manifestar nenhum remorso, não dar explicações, nem sequer falar? Ela só podia estar louca.
Alicia tinha que estar louca.
No fim, o Meritíssimo Juiz Alverstone aceitou a alegação de inimputabilidade e recomendou que o júri a levasse em consideração. Alicia seria em seguida internada no Grove, sob a supervisão do mesmo professor Diomedes, cujo depoimento influenciara tanto a decisão do juiz.
Se Alicia não estava louca — isto é, se o seu silêncio não passava de fingimento, uma encenação para enganar os membros do júri —, então seu plano tinha dado certo. Ela escapou de uma longa sentença de prisão, e, caso se recuperasse por completo, poderia ser libertada em poucos anos. Então já estaria na hora de começar a fingir essa recuperação? Pronunciar umas palavras aqui e ali, e depois um pouco mais; começar aos poucos a expressar alguma forma de remorso. Mas não. Semana após semana, mês após mês, então os anos se passaram — e Alicia continuava muda.
Apenas silêncio.
E assim, sem dispor de mais nenhuma revelação, a mídia, decepcionada, acabou perdendo o interesse em Alicia Berenson. Ela se tornou mais uma dentre esses assassinos de fama passageira; rostos de que nos lembramos, mas cujos nomes esquecemos.
Nem todos nós. Certas pessoas — entre elas, eu mesmo — continuaram fascinadas pelo mistério de Alicia Berenson e seu persistente silêncio. Como terapeuta, me parecia evidente que ela havia sofrido algum trauma grave em relação à morte de Gabriel; e o silêncio era uma expressão desse trauma. Incapaz de enfrentar o que tinha feito, Alicia emperrou e ficou imobilizada, como um carro com defeito. Eu queria contribuir para fazê-la dar a partida novamente, ajudar Alicia a contar sua história, se curar e ficar bem. Queria consertá-la.
Sem querer parecer que estou me gabando, eu me considerava a pessoa certa para ajudar Alicia Berenson. Sou psicoterapeuta forense, acostumado a trabalhar com pessoas vulneráveis e com muitos traumas. E algo na história de Alicia ressoava em mim — desde o começo, senti uma profunda empatia por ela.
Infelizmente, na época eu ainda trabalhava em Broadmoor; portanto, me dedicar ao tratamento de Alicia seria apenas — ou deveria ter sido — uma fantasia sem desdobramentos reais, não fosse a inesperada intervenção do destino.
Quase seis anos depois da internação de Alicia, o cargo de psicoterapeuta forense ficou vago no Grove. Assim que vi o anúncio, percebi que não tinha escolha. Segui meus instintos e me candidatei à vaga.
fim da amostra…
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.