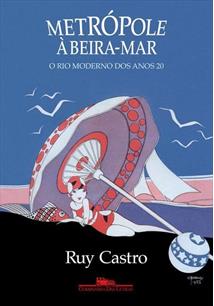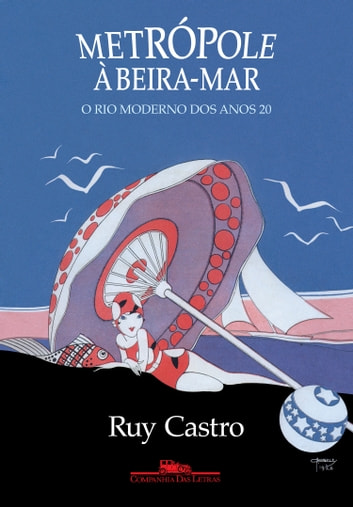
O que aconteceu no Rio entre o carnaval de 1919 e a Revolução de 30? Tudo. Uma cidade em convulsão na imprensa, na literatura, na música popular, na ópera, no teatro, nas artes plásticas, no cinema, na caricatura, na praia, na ciência, na arquitetura, no futebol, na luta das mulheres, nos costumes, no sexo e nas drogas. Se o Brasil dos anos 20 ainda engatinhava rumo à modernização, o Rio de Janeiro tinha vida própria e já era sinônimo de arrojo e vanguarda. É essa capital fervilhante o cenário e a protagonista do novo livro de Ruy Castro. Em Metrópole à beira-mar, um de nossos maiores biógrafos faz uma saborosa reconstituição histórica dos anos loucos cariocas, entrelaçando eventos políticos e culturais à trajetória dos personagens ― os lembrados e os esquecidos ―, que fizeram e mudaram a história. Quem fez o Rio dos anos 20: Adalgisa Nery – Adhemar Gonzaga – Agrippino Grieco – Alvaro Moreyra – Aracy Cortes – Benjamin Costallat…
Páginas: 504 páginas; Editora: Companhia das Letras; Edição: 1 (20 de novembro de 2019); ISBN-10: 8535932860; ISBN-13: 978-8535932867; ASIN: B07XTN6LHJ
Leia trecho do livro


PORTA DE ENTRADA – O cartão-postal — a baía de Guanabara — era apenas a moldura para a cidade que se transformava e apresentava o Brasil ao século XX.

NOITES ELÉTRICAS – “Os brasileiros mataram a noite”, disse Einstein em 1925, ao ser conduzido pela cidade iluminada. Nas ruas que vibravam de vida, dia e noite eram uma coisa só.

ALEGRIA À SOLTA – O corso, que era o Carnaval motorizado, ajudou a liberar os costumes. Mas a carioca já saíra em massa às ruas desde o fim da Grande Guerra.

LABORATÓRIO URBANO – Os leões do Palácio Monroe reinavam sobre a cidade que se reconstruía sem parar. O Rio pertencia aos engenheiros e logo seria também dos arquitetos.
PRÓLOGO
O CARNAVAL DA GUERRA E DA GRIPE
Nem tudo eram valsas e bombons nos Bálcãs da Belle Époque. No dia 28 de junho de 1914, em visita oficial a Sarajevo, capital da Bósnia, o príncipe Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, a duquesa Sophia, foram mortos a tiros por nacionalistas sérvios num desfile em carro aberto, um Gräf & Stift de seis lugares. Foi um ato da facção terrorista Mão Negra, empenhada na libertação das províncias eslavas sob domínio da Áustria-Hungria e na sua absorção por uma futura Grande Sérvia. Aquele atentado era um assunto interno, de um império de barbas brancas e mangas já puídas, e assim devia ser tratado. Mas as grandes potências viram nele um pretexto para impor medidas expansionistas há muito em seus planos, e para as quais estavam se armando — sabendo que, se executadas, essas medidas levariam a Europa à guerra.
A Áustria, escorada no “apoio incondicional” que recebeu da Alemanha, exigiu uma retratação que a Sérvia considerou humilhante. A Rússia, atenta às manobras alemãs em busca da hegemonia no continente, pôs-se ao lado da Sérvia. Como a Sérvia não deu satisfações à Áustria, esta lhe declarou guerra em 28 de julho. No dia 29, a Rússia ordenou a mobilização geral de suas forças. A 31, a Alemanha comunicou à Rússia que faria o mesmo se, em doze horas, esta não se desmobilizasse. No dia seguinte, 1º- de agosto, como nenhuma medida foi tomada, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Assim se davam as cartas nos bons tempos.
A França, vendo-se no centro geográfico do conflito, tomou o partido da Rússia e, no dia 3, a Alemanha também lhe declarou guerra. Para mostrar que falava a sério, invadiu o território francês passando por cima da Bélgica. A Inglaterra, vendo desrespeitada a neutralidade belga e sentindo a ameaça do domínio alemão no continente, entrou no conflito. No dia 4 de agosto, já estavam definidas as alianças: de um lado, a Rússia, a França e a Inglaterra; do outro, a Alemanha, a Áustria e, docemente constrangida por um antigo pacto com a Áustria, a Itália. Somente dali a dois dias, a Áustria, que fora quem começara tudo, declarou sua guerra à Rússia — como um garoto que dá um pontapé na canela de um adulto, confiante de que seu irmão batuta brigará por ele. Mas, ali, todos eram batutas.
Em Viena, Berlim, Moscou, Paris e Londres, multidões tomaram as ruas com fervor patriótico e foram aos portos e estações ferroviárias para se despedir de seus rapazes em uniforme. A guerra provoca uma estranha química — faz de cada civil, por mais tíbio, um bravo, principalmente com o pescoço alheio, o dos soldados. Além disso, previa-se uma guerra curta, que talvez nem chegasse ao Natal. Os mais cínicos diziam que ela nem precisava acontecer: o rei Jorge v, da Inglaterra, o kaiser Guilherme ii, da Alemanha, e o tzar Nicolau ii, da Rússia, subitamente inimigos, eram primos — todos descendentes da rainha Vitória — e poderiam resolver suas diferenças num torneio de tiro aos pombos numa de suas casas de campo.
Mas as guerras têm também seus ritmos próprios. Aquela, pela primeira vez, envolveria todos os continentes — daí essa ter sido a Grande Guerra, por todos chamada. Em algum momento dos quatro anos seguintes, búlgaros, australianos, canadenses, neozelandeses, indianos, turcos, sul-africanos, argelinos, senegaleses, marroquinos e até brasileiros (aos milhares, todos; às centenas, no nosso caso) foram para a Europa combater a favor desta ou daquela aliança, nem sempre como voluntários. A Itália cometeu a façanha de trocar de lado com o jogo em andamento, e concentrou-se em lutar contra a Áustria, com quem tinha amargas querelas territoriais. Poucos meses depois de iniciado o conflito, ninguém mais se lembrava do que acontecera em Sarajevo, nem interessava. Era também o fim da Belle Époque.
Nas guerras do passado, o grosso das baixas se dava pela morte na ponta das baionetas — os soldados se matavam de olhos nos olhos. Mas, agora, a morte não tinha rosto e vinha de todos os lados. Essa foi a guerra em que fizeram sua estreia as trincheiras que atravessavam fronteiras, os canhões semiautomáticos, os lança-chamas, os gases venenosos, os submarinos, os aviões, os tanques com lagarta e até as motocicletas. Antes, a morte em combate vinha no trespassar de uma bala ou baioneta. Agora tinha-se o corpo estraçalhado. Diante das metralhadoras que disparavam seiscentas descargas por minuto, a expectativa de vida dos soldados de infantaria que partiam para um ataque era de vinte minutos.
Dos tiros no arquiduque, em junho de 1914, ao armistício e ao cessar-fogo, em novembro de 1918, a Grande Guerra matou 9,2 milhões de soldados. Vinte milhões saíram feridos, de que resultaram, de volta à vida civil, 8 milhões de cegos, sem braços, pernas ou testículos, de vítimas de doenças crônicas ou de pessoas em estado de choque — e quantos não teriam sido os suicídios? Somem-se a isso 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos, sem contar as baixas tardias, de pessoas que morreriam dali a alguns anos em decorrência de ferimentos ou de enfermidades contraídas por causa da luta. Morreram também 6 milhões de civis, de tiros, doença ou fome. Tropas em fuga matavam o gado, cortavam as árvores frutíferas e envenenavam os poços e cisternas do inimigo. A guerra destruiu cidades, indústrias e lavouras, desagregou famílias e solapou talentos — quantos pianistas, escultores ou arquitetos nunca puderam seguir suas vocações porque tiveram de lutar? Matou também 8 milhões de cavalos, burros e mulas — estes eram queimados ou mesmo deixados para trás, apodrecendo. E, ah, sim, a Alemanha e a Áustria perderam.
Na verdade, ninguém ganhou, exceto os Estados Unidos, que tinham passado em casa os primeiros três anos de guerra, confortavelmente fornecendo armas, equipamento e empréstimos aos combatentes. E só entraram em ação porque, em abril de 1917, a Alemanha cometeu o erro de estender sua agressão submarina a qualquer navio, neutro ou não, que entrasse nas zonas de bloqueio. Quando ela afundou os primeiros navios americanos na Europa, o presidente Woodrow Wilson declarou-lhe guerra e a Alemanha, já combalida pela luta nas diversas frentes, perdeu sua última chance. As tropas americanas chegariam em massa à Europa somente na primavera de 1918, a sete meses do final da guerra, mas ainda a tempo de recolher as batatas.
A participação do Brasil no conflito foi modesta, mas agitada. Os escritores brasileiros, em grande maioria, colocaram-se a favor dos aliados franceses, russos e ingleses — e, considerando-se que o Rio se julgava um faubourg literário de Paris, nem podia ser diferente. Escritores como Olavo Bilac, Julia Lopes de Almeida e Coelho Netto ocupavam quase diariamente os auditórios, teatros e salões com conferências pela paz ou contra a Alemanha. Nos restaurantes e cafés, as orquestras tocavam a Marselhesa e todos se punham de pé para cantar. Paulo Barreto mobilizou seus diversos pseudônimos, de João do Rio a José Antonio José, para perorar pela França. O escritor Medeiros e Albuquerque, autor da letra do Hino da Proclamação da República (o famoso “Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós…”), foi, literalmente, mais longe: zarpou para Paris, onde desfilou pelos bulevares com sua imponente farda de tenente-coronel da Guarda Nacional brasileira. Como contaria depois em suas memórias, Medeiros nunca precisou dar um tiro, mas o uniforme lhe rendeu muitas horas de amor com as parisienses, que o tomavam por alta patente internacional.
Apesar disso, a literatura brasileira não produziu nenhum texto significativo sobre a guerra. Aliás, a consequência mais notável da mobilização no front doméstico se deu no… futebol. Pela semelhança de seu uniforme com as cores da Alemanha — listras grossas vermelhas e pretas separadas por uma listra fina e branca, lembrando uma cobra- -coral —, o Flamengo eliminou em 1916 a listra branca e consagrou, para sempre, a camisa rubro-negra.
Um ano depois, em abril de 1917, o Paraná, um vapor brasileiro carregado de café, foi afundado pelos alemães em águas francesas. Três brasileiros morreram na operação, e o Brasil rompeu relações com o bloco germânico. A Alemanha atacou outros seis navios mercantes brasileiros nas costas francesa, espanhola e portuguesa, e, em troca, o Brasil apreendeu 42 cargueiros alemães em portos nacionais. O Jornal do Brasil, com o maior parque gráfico da imprensa brasileira, começou a publicar cinco edições diárias sobre a guerra, em todas exigindo a transformação do Brasil, de um país então essencialmente agrícola, em uma potência militar. As hostilidades continuaram e, finalmente, em outubro, o presidente Wenceslau Braz também declarou guerra a Guilherme II. Não se sabe como o kaiser reagiu ao ser informado disso, mas não deve ter se alterado muito — se necessário, os alemães aprenderiam a viver sem tomar café.
Em meados de 1918, o governo brasileiro finalmente tomou as primeiras providências. Enviou para o front francês, como estagiários, 28 jovens oficiais chefiados por um general chamado, com involuntário humor, Napoleão. Despachou também uma missão médica para implantar um “Hospital Brasileiro” perto de Paris, formada por 86 médicos, entre civis e militares, aos quais se juntaram seis que já atuavam na França. E, sob orientação da esquadra inglesa, mandou dois cruzadores, quatro destróieres, um rebocador e um navio de apoio para colaborar na patrulha do triângulo Dakar-Cabo Verde-Gibraltar, no Atlântico Sul. Ao chegarem às proximidades da costa africana, os navios foram alvo de torpedos de um submarino alemão que não chegaram a atingi- -los. Dias depois, a frota brasileira bombardeou um cardume de toninhas julgando ser o submarino. Em fins de agosto, a frota fundeou em Dakar e, então, deu-se a tragédia — sua tripulação se expôs a um novo inimigo surgido nos últimos meses do conflito: uma estranha gripe. Dos cerca de 1200 homens nos seis navios, mil caíram doentes e 156 morreram em questão de dias.
Ainda não se sabia, mas era uma epidemia que, em poucos meses de 1918, atingiria um quinto da população mundial e mataria o que hoje se estima entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas. Chamaram-na de Gripe Espanhola. Nunca houve igual na história e não poderia ter acontecido em pior momento.
Passados quase quatro anos de combate, o mundo já estava farto da guerra, exaurido de recursos e sem saber por que continuava lutando. Em todas as frentes, soldados desertavam aos milhares — russos, franceses, italianos, turcos, búlgaros, tchecos, austríacos. Os próprios generais alemães sonhavam com uma impossível “paz sem derrota”. E, mesmo entre os vitoriosos da Europa, o futuro que os esperava eram cidades devastadas, mortos a enterrar e um endividamento com que nunca haviam contado. Os próprios símbolos da guerra tinham se tornado intoleráveis. Em Londres, ninguém mais aguentava ouvir “It’s a Long, Long Way to Tipperary”, a marcha de Jack Judge e Harry Williams que animara os ingleses a lutar. Em Paris, o mesmo a respeito da vibrante “La Madelon”, de Camille Robert e Louis Bousquet. O cessar- -fogo, quando viesse, não seria recebido com exultação, mas com alívio.
E, então, com a guerra ainda nos estertores, a gripe se instalou. Nunca se soube ao certo o que a provocou — a ciência já suspeitava da existência de algo novo, chamado “vírus”, mas seus microscópios não tinham como alcançá-los. Só se sabe que a Espanhola não veio da Espanha. Deram-lhe esse nome porque, ao contrário dos outros países europeus, que a contraíram quase ao mesmo tempo, a Espanha, neutra na guerra, não escondeu seus primeiros casos — o mundo logo ficou sabendo que um terço da população de Madri adoecera, inclusive o rei Alphonso XIII. Na verdade, a epidemia parece ter saído dos Estados Unidos, mais exatamente dos estados de Kansas e Nova York, e sido levada para a Europa pelos soldados americanos, embarcados naquele abril de 1918. Como atingia primeiro as zonas litorâneas, presume-se que foi transmitida por marinheiros em viagem, contaminando as tropas em terra e espalhando-se pelas populações civis. Logo chegaria à Índia, ao Sudeste da Ásia, à China, ao Japão e às Américas Central e do Sul. E antes fosse apenas uma gripe.
Começava por uma aguda dor de cabeça, seguida de calafrios que nenhum cobertor conseguia aplacar. Em seguida vinham as dores em todos os ossos do corpo, a diarreia e a letargia. Devido à oxigenação insuficiente, o rosto ficava roxo ou azulado e os pés, escuros — era a cianose. Sucediam-se sufocações e espasmos de sangue ao tossir — eram os pulmões, cheios de um líquido avermelhado. Em três dias, sobrevinha a morte por parada respiratória. Seus alvos favoritos eram as crianças com menos de cinco anos, os adultos de vinte a quarenta e acima de setenta. De abril a julho, houvera um primeiro surto, comparativamente brando, que se limitou à Europa e, de repente, desaparecera. Mas, em setembro, a praga voltou com força total e se disseminou pelo globo, já com o nome de Espanhola.
Na França, duas de suas primeiras vítimas foram o dramaturgo Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac, e o poeta Guillaume Apollinaire. Na Áustria, Sophie, filha de Sigmund Freud, e o mestre da Secessão, o pintor Egon Schiele. Na Alemanha, o economista Max Weber. Em Portugal, as crianças Francisco e Jacinta, do famoso “milagre de Fátima”. Nos Estados Unidos, Rose Cleveland, que tinha sido primeira-dama do país; Henry Ragas, pianista da Original Dixieland Jass Band, que, apenas um ano antes, gravara o primeiro disco de jazz da história; e os irmãos John e Horace Dodge, tubarões da indústria automobilística americana. A Espanhola não respeitava talentos, títulos nem contas bancárias.
O Brasil de 1918 não estava preparado para recebê-la. Ninguém estava. Ela chegou ao Rio no dia 16 de setembro, quando atracou no porto o correio britânico Demerara, vindo de Lisboa, mas com uma escala fatal em Dakar. A bordo havia duzentos tripulantes em vários estágios da doença e outros só aparentemente saudáveis. A gripe desceu do navio nos pés dos marujos que se espalharam pela praça Mauá, rapazes que invadiram as gafieiras e beijaram na boca as mulheres que lhes abriram os braços. Em dias, os primeiros sintomas se fizeram sentir. As pessoas começaram a passar mal, a cair doentes e a morrer em questão de horas.
O alerta demorou a ser dado. Numa cultura em que o quinino era visto, até pelos médicos, como um santo remédio, o povo depositou suas esperanças em destronca-peitos, purgantes e preparados à base de alfazema, limão, coco, cebola, vinho do Porto, sal de azedas, cachaça e fumo de rolo — o que, naturalmente, não diminuiu o índice de mortalidade. Uma instituição fornecia canja de galinha contra a gripe. Um laboratório saiu-se com um remédio homeopático, Grippina, “fórmula do dr. Alberto Seabra”. A própria Bayer passou a oferecer a aspirina Fenacetina, anunciada como “tiro e queda contra a influenza”, e prometendo “bem-estar com a rapidez de um raio”.
As notícias viajavam a pé e não se percebeu de imediato que era uma epidemia. No começo, o carioca ainda brincou, atribuindo a doença a uma arma secreta dos alemães, embutida nas salsichas. Mas, quando se descobriu que o número de mortes no Rio estava chegando a centenas por dia, viu-se que não havia motivo para rir. Outras cidades litorâneas brasileiras seriam muito atingidas, como Recife, Salvador e Santos, mas nenhuma com a intensidade do Rio.
A morte em massa começou a gerar consequências que ninguém podia controlar. Sem leitos suficientes nos hospitais da cidade, os doentes eram amontoados no chão das enfermarias e nos corredores. Muitos morriam antes de ser atendidos. Os hospitais foram fechados às visitas e, nos enterros, só se permitia a presença dos mais próximos. Mas logo deixaria de haver espaço para condolências. Em pouco tempo, os velhos rituais — velório, cortejo e sepultamento — ficaram impraticáveis. As casas funerárias passaram a não dar conta. Viam-se carros transportando caixões com tábuas mal pregadas, indicando que tinham sido feitos às pressas. Então, começou a faltar madeira para os caixões e gente para fabricá-los. As pessoas morriam e seus corpos ficavam nas portas das casas, esperando pelos caminhões e carroças que deveriam levá-los. Os motoristas e carroceiros os recolhiam na calçada e os atiravam nas caçambas como se fossem sacos de areia. Às vezes, descobria-se que alguém dado como morto ainda respirava — era liquidado ali mesmo, a golpes de pá, antes de o veículo sair, mas houve casos de enterrados vivos. Nos necrotérios, os corpos jaziam empilhados por dias sobre as mesas de mármore ou no chão. Os recolhidos na rua, sem identificação, eram despejados em valas comuns ou incendiados. Os coveiros também começaram a morrer. O Exército e a Cruz Vermelha os substituíram como voluntários e, por toda a cidade, armaram-se hospitais emergenciais e postos de atendimento. Deixou de haver remédios.
Através dos jornais, que continuaram a circular mesmo que reduzidos a poucas páginas, a população era aconselhada a evitar os trens, bondes e ônibus — que andasse a pé, se pudesse. Rogava-se que ninguém tossisse, espirrasse, cuspisse ou se assoasse em público — inútil, porque, já então, a cidade era uma tosse em uníssono. As aglomerações foram desestimuladas e, com isso, a vida desapareceu: fábricas, lojas, escolas, teatros, cinemas, concertos, restaurantes, bares, tribunais, clubes, associações, até bordéis, tudo fechou. A avenida Rio Branco, a rua do Ouvidor, a praça Tiradentes, pareciam cidades-fantasma. O movimento do porto parou — os navios que chegavam ficavam algumas horas no cais e iam embora, por falta de gente para descarregá-los. Curiosamente, as igrejas pareciam imunes ao perigo. Nelas, rezava- -se pelos parentes mortos e também ao padroeiro, são Sebastião, para “levar a gripe embora” — assim como, na invasão francesa de 1711, apelara-se (em vão) para o santo contra o corsário Duguay-Trouin, que tomara a cidade.
Da rua, no começo, ainda se viam pelas janelas os mortos em câmara-ardente. Mas logo as casas passaram a manter as portas e janelas fechadas. Temiam-se as emanações que vinham de fora, embora o inimigo já estivesse lá dentro. Outra visão impressionante era a das famílias vestidas de preto pela morte de seus parentes — foi o apogeu da Casa das Fazendas Pretas, loja no centro da cidade que garantia “lutos elegantes e completos em doze horas” — tingimento, confecção etc. Mas o luto, na Espanhola, também logo perdeu o sentido, inclusive entre as funcionárias da Fazendas Pretas, e qualquer cor passou a representá-lo.
Os doentes eram tantos que muitas atividades básicas sofreram por não haver quem as desempenhasse: vender comida, transportar produtos, aplicar injeção. Sem as telefonistas para lhes dar linha, os telefones ficaram mudos. E veio a inflação: um ovo passou a custar o preço de uma galinha; um pão, o de uma cesta inteira. Quando a falta de leite, carne e ovos ficou geral, começaram os saques aos açougues e armazéns — as pessoas, desesperadas e tossindo, depenavam os estabelecimentos. A polícia passou a garantir que, em cada bairro, uma farmácia e uma padaria se mantivessem abertas. Era o máximo que se podia querer.
Pedro Nava, futuro médico e escritor, tinha então quinze anos e morava com seus pais na Tijuca. Num de seus livros, ele descreveria uma cena impressionante que vira na rua: a da criança esfomeada chupando os peitos da mãe morta e já em decomposição. Nava falaria ainda de quando, à falta de coveiros, os presidiários foram soltos e intimados a ajudar. Alguns, antes dos sepultamentos, cortavam os dedos ou orelhas de defuntos para se apossar de anéis e brincos esquecidos, e — o horror, o horror! — curravam os cadáveres femininos mais frescos. Mas Nava contaria também a bonita história de José Luiz Cordeiro, o Jamanta, enteado do dramaturgo Arthur Azevedo e funcionário da delegacia da rua da Relação, na Lapa. Por algum motivo, Jamanta sabia dirigir bondes e, quando começaram a faltar condutores, pediu que lhe confiassem um bonde-bagageiro acoplado a dois “taiobas”, que eram os bondes de carga. E saiu com eles pela cidade, do Centro aos bairros das zonas Norte e Sul, recolhendo os mortos que as famílias lhe quisessem entregar, com ou sem caixão. Quando já tinha uma quantidade apreciável, ia despejando-os no Caju ou no São João Batista. Era um bonde-fantasma — macabro, mas poético.
A Espanhola não distinguia classes sociais. Levou gente entre os pobres, os remediados e até de famílias importantes, como os Nabuco, os Penido e os Mello Franco. Dois dos irmãos Lage, Jorge e Antonio, que dominavam a navegação marítima no Brasil com seus “itas”, morreram. O casal Eugenia e Alvaro Moreyra também perdeu dois filhos. O estadista Afranio de Mello Franco perdeu sua mulher, Silvia, e um filho, Cesario. O craque Belfort Duarte, jogador do América e símbolo da disciplina no futebol, igualmente caiu — fora o inventor do “chute à Belfort”, um pé chutando o ar e o outro, a bola (o futuro sem-pulo). A cafetina Alice Cavalo de Pau, imperatriz dos bordéis da Lapa, idem, se foi. O próprio poeta Olavo Bilac contraiu o mal, de forma benigna, mas isso contribuiu para sua grave condição cardíaca, da qual ele morreria em dezembro. Segundo o médico Miguel Couto, 600 mil habitantes foram contagiados — mais de metade da população. Foi um milagre que só uma fração tenha morrido.
De repente, em fins de outubro — 15 mil mortes depois —, a Espanhola pareceu amainar. Os infectados se recuperavam, os doentes pararam de morrer. Aos poucos, as portas das casas começaram a se abrir. A cidade voltava à vida. Os caixeiros reapareceram atrás dos balcões. O comércio retomou seu movimento e o dinheiro, inútil diante da morte, recuperou seu antigo valor. Os teatros reabriram e tinham agora filas nas portas. Os navios voltaram a parar no Rio. Das janelas, ouviam-se tímidos sons de pianos. Algumas moças saíram às ruas. Assim como surgira, a gripe fora embora. Não por alguma poção ou magia, mas porque as pessoas haviam ficado imunes.
E, com a Espanhola, foi-se também a Guerra. No dia 11 de novembro, dentro de um vagão-restaurante à margem do rio Oise, afluente do Sena, os aliados e a Alemanha assinaram o Armistício. A notícia chegou até nós pelo cabo submarino. O importante é que o Brasil, modestamente, estava entre os vitoriosos. Não tendo a quem vender café durante o conflito, diversificara seu setor agrícola. E, como não tinha de quem comprar manufaturas, começara a produzi-las aqui mesmo, com o que, em poucos anos, saltou de um país de enxadas e pés descalços para uma incipiente sociedade de máquinas e macacões. Subitamente, fabricávamos turbinas, elevadores, vagões ferroviários, tamancos, vasos sanitários, marmelada em lata, balanças, gravatas e cavaquinhos. Para um país em que, até então, quase tudo vinha da Inglaterra, de Portugal ou da França, aquilo era uma revolução. Chaminés surgiram no horizonte e nasceu um embrião de classe operária, formada, em boa parte, por imigrantes recém-chegados. E, de uma nova massa de funcionários públicos, brotou uma classe média.
Poucas semanas antes, estávamos a milímetros da morte. Agora já eram as vésperas de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele Carnaval.
“Quem não morreu na Espanhola/ quem dela pôde escapar/ não dê mais tratos à bola/ toca a rir, toca a brincar./ Vai o prazer aos confins/ remexe-se a terra inteira/ ao som vivaz dos clarins/ ao ronco do Zé Pereira./ Há alegrias à ufa/ e em se tocando a brincar/ nem este calor de estufa/ nos chega a preocupar./ Tenho por cetro um chocalho/ por trono um bombo de rufo/ o Deus Momo, louco e bufo/ vai começar a reinar.”
Esses versos, assinados por Pierrot (com toda a certeza, o poeta Bastos Tigre), no Correio da Manhã de 20 de janeiro já refletiam o clima das ruas. O Carnaval de 1919 seria o da revanche — a grande desforra contra a peste que quase dizimara a cidade. E, por um desses caprichos, seria um Carnaval tardio. O sábado cairia no dia 1º- de março, dando à vida dois belos meses, janeiro e fevereiro, para acertar as contas com a morte. Momo então era chamado de deus, não de rei, e já pontificava sobre seus devotos.
Mal rompido o ano, o comércio inundou a cidade com seus artigos para o Carnaval: lança-perfume, serpentina, confete, camisas com golas náuticas, quepes, bonés, chapéus de palha, luvas, meias, leques, panos africanos, miçangas, quimonos, sombrinhas, ventarolas. O lança-perfu me vinha em caixinhas com três bisnagas de vidro — as de metal só ali começavam a aparecer. As marcas famosas eram Vlan, “preferida por suas finas essências”, Flirt e Rodo, mas havia as mais baratas, como Geyser, Nice e Meu Coração. Poucos o usavam para encharcar o lenço e aspirar; a praxe era esguichá-lo nas axilas das moças e nos olhos dos rapazes, o que provocava infernal ardimento — donde o colírio Visuol era um dos grandes anunciantes do Carnaval. Já o confete vinha em sacos e em várias cores. O mais caro era o dourado. Os espíritos de porco achavam o confete absurdo — por mais barato o saco, era como jogar dinheiro no chão. E era mesmo, porque, ao fim de cada baile, os salões tinham quase um palmo de confete no piso.
As fantasias femininas exigiam verdadeiros conselhos de família — não era possível chegar ao Carnaval sem uma diferente para cada dia. As revistas publicavam páginas duplas com modelos para rapazes e moças, a serem confeccionados em casa mesmo, nas Singer domésticas, mas os jornais traziam anúncios de costureiras apregoando suas criações para vender ou alugar — algumas faziam entregas pelo correio. As fantasias podiam ser de dominó, Arlequim, jardineira, diabo, morcego, caveira, índio, baiana, bebê, odalisca, palhaço. As de malandro e marinheiro eram as mais fáceis de improvisar e, por isso, desprezadas nos salões finos. Em 1919, pela primeira vez, viram-se fantasias de Carlito — como Carlitos era então conhecido. Uma fantasia considerada chique era a de Pierrô, em seda azul-celeste, complementada por uma meia máscara de veludo azul-rei. O segredo estava em fantasiar-se de modo a permitir a identificação. Quem não podia ou não queria se fantasiar por completo saía com um “carão”, uma máscara gigante cobrindo metade da pessoa, amarrada à nuca por barbante — as mais populares eram as de burro e de velho. E nenhuma criança, por mais miserável que fosse, saía à rua no Carnaval sem pelo menos um chapéu de jornal e uma espada de pau.
A imprensa carioca tinha mais de sessenta jornalistas especializados em Carnaval: os “cronistas carnavalescos”. Desde janeiro eles ocupavam os jornais, revistas, modinhas e publicações avulsas com suas notícias sobre os clubes, cordões, blocos, ranchos e Grandes Sociedades — com os quais tinham conexões, quase sempre comerciais. Ou seja, ganhavam para divulgá-los. Assinavam com pseudônimos e, por algum motivo, alguns dos mais famosos tinham nomes em K, como K. K. Reco (Norberto Bittencourt), K. Veirinha (Alvaro Gomes de Oliveira), K. Noa (Antonio Veloso), K. Peta (Rimus Prazeres) e K. Rapeta (Arlindo Cardoso). Havia ainda os indisputados Vagalume (Francisco Guimarães), A.Zul (Arthalydio Luz), Príncipe Fofinho (Innocencio Pillar Drummond) e Peru dos Pés Frios (Mauro de Almeida, este, famoso também como letrista do grande sucesso dos Carnavais de 1917 e 1918 e que continuava a ser cantado no de 1919: o samba “Pelo telefone”, de Donga).
Os “cronistas” não se limitavam a noticiar a atividade pré-carnavalesca de suas agremiações, como os bailes, desfiles e batalhas de confete. Eram eles também que, em troca de comissão, contratavam as orquestras para tocar nos coretos. E, semanas antes da festa, levavam seus ranchos e blocos à redação do jornal em que trabalhavam, para que suas fantasias fossem fotografadas em primeira mão e para pedir o apoio da publicação. Os jornais estimulavam tais visitas, publicando reportagens de primeira página, oferecendo prêmios ao melhor grupo de fantasias e cedendo seu saguão no térreo, ao lado das oficinas, para exposições de estandartes. O poder dos “cronistas” estendia-se sobre bairros inteiros, pelo que alguns, discretamente, se deixavam corromper — por seu intermédio, políticos bancavam as atividades das agremiações locais em troca de votos nas eleições. No resto do ano, esses jornalistas tornavam- -se repórteres policiais ou da madrugada, cobrindo a intimidade dos subúrbios e grotões, de que sabiam tudo.
No dia 9 de fevereiro, um domingo, a quase um mês do Carnaval, o Correio da Manhã noticiou: “Hoje o Rio se agitará em mais uma véspera carnavalesca, preparatória do grande prélio da folia que se travará daqui a três semanas. Serão bailes e batalhas de confete por todos os bairros da cidade, e em todos reinará a mais estonteante alegria. É que Momo está para chegar com seu séquito de prazeres. Évoé!”. Uma das maiores batalhas aconteceu na avenida Rio Branco, embandeirada de ponta a ponta e iluminada por 50 mil lâmpadas, e que o Correio descreveu assim: “Era fulgurante o espetáculo da Avenida. Multidões se arrastavam, levadas pelo mais vivo entusiasmo, e os blocos em cordões passavam cantando, gritando, vivando. Nos coretos erguidos, tocavam as bandas de música da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O corso foi lindo, tendo se sobressaído alguns autos esplendidamente ornamentados e floridos. A luta de lança-perfumes também foi regularmente animada”
As batalhas de confete e de flores eram promovidas pelos comerciantes e organizadas pelos rapazes e moças de cada bairro. A Light colaborou, cedendo bondes que trafegavam gratuitamente apinhados de jovens cantando e anunciando a batalha — sabia que, no dia do desfile, recuperaria o investimento vendendo mais passagens do que nunca. Banhos de mar à fantasia (com roupas de papel crepom sobre os maiôs) se davam na ponta do Caju, animados pela Banda do Batalhão Naval, e na praia do Flamengo, ao som da Banda da Marinha. Naquele ano, começaram a surgir os blocos exclusivamente femininos, como o das Borboletas Negras, da praça Onze, e o das Baianinhas Invejadas, da praça Tiradentes. Apareceu até uma Orquestra de Senhoritas, com sede na rua Evaristo da Veiga, na Lapa.
Duas instituições que se revelariam imortais nasceram também naquele Carnaval. A primeira foi o Cordão da Bola Preta, fundado no dia 31 de dezembro do ano anterior e já desfilando pela primeira vez em 1919. A outra consistia no folião Julio Silva, que saiu nos três dias pela Avenida vestindo um fraque com metade pelo avesso, calça listrada e chapéu tirolês, cantando algo incompreensível e tocando corneta. Não aceitava adesões, não se deixava abraçar e portava uma tabuleta com os dizeres Bloco do Eu Sozinho. Foi uma sensação, mas talvez ele não estivesse tão sozinho: Julio Silva era um “cronista carnavalesco”, colaborador de vários jornais, e estes deram ampla cobertura à sua simpática odisseia — que ele sustentaria pelos 53 Carnavais seguintes.
Tudo isso estava acontecendo apenas dois meses depois da maior catástrofe sanitária na história da cidade, que foi a Espanhola. O que levou o diretor-geral da Saúde Pública, dr. Theophilo Torres, a declarar ao Correio da Manhã no dia 23 de fevereiro: “Se até hoje a gripe não recrudesceu, não quer dizer que, de um momento para outro, tal não possa acontecer”. Aconselhou a que “cada um evitasse as aglomerações” e exortou os foliões a se pouparem de “circunstâncias que quebram a resistência do organismo e favorecem a invasão da gripe, como resfriamentos, indigestões e bebidas alcoólicas”. As palavras do dr. Theophilo caíram no vazio. A própria ideia de que a gripe pudesse voltar, levantada por ele próprio, fazia com que ninguém aceitasse se poupar. “E se este for o último Carnaval da minha vida?”, perguntavam-se muitos.
Incrivelmente, não se registraram casos de Espanhola no Carnaval. Mas, de fato, algo estranho aconteceu: algumas pessoas que tinham sido infectadas pela gripe e se recuperado começaram a perder cabelo — os tufos saíam em suas mãos ou voavam a um simples sopro. Os médicos avisaram que era um efeito passageiro e pediram que ninguém se assustasse. Bastou isso, no entanto, para que laboratórios e perfumarias apregoassem remédios para o problema, como o Vigor de Ovo, a Quina Jaborandy, o Óleo Indígena e o Tônico Angorá (os cabelos voltaram a crescer sem o auxílio desses preparados). Para que não se acuse o Carnaval de 1919 de ter ficado alheio à desgraça que matara tanta gente, um de seus sucessos foi o maxixe “Gripe Espanhola”, de Caninha, cuja letra dizia: “A Espanhola está aí/ A Espanhola está aí/ A coisa não está brincadeira/ Quem tiver medo de morrer/ Não venha mais à Penha”. E os Fenianos fizeram da gripe o tema de seu desfile de carros alegóricos daquele ano.
Os bravos Fenianos, fundados em 1869, eram os primos pobres entre as chamadas Grandes Sociedades — organizações gigantes, com carros, alas e alegorias decorados por cenógrafos profissionais e comissões de frente montadas em cavalos puro-sangue. Os Fenianos eram uma delas, mas não se comparavam aos Tenentes do Diabo, a mais antiga e de elite, fundada em 1855 e que, naquele Carnaval, sairia com um carro de 33 metros de comprimento, com centauros de galalite cavalgados por mulheres, representando as nações vitoriosas na Grande Guerra. E muito menos chegavam perto dos Democráticos, de 1869 e a maior de todas. Para aquele Carnaval, que marcaria os seus cinquenta anos de existência, os Democráticos anunciavam um desfile com sete carros alegóricos e esperavam a adesão — que se confirmou — de mais de cinquenta carros particulares ornamentados. Muitos carros das Grandes Sociedades foram decorados por artistas e caricaturistas como Helios Seelinger, Di Cavalcanti, J. Carlos e K. Lixto. Esse trabalho era feito nos barracões, situados nos terrenos do antigo Convento da Ajuda, em frente à Biblioteca Nacional, bem em meio ao burburinho da cidade. Era dali que, na Terça-Feira Gorda, fechando o Carnaval, elas saíam gloriosas e faziam seu longo desfile pelas ruas, sob o confete das calçadas, janelas e sacadas.
As calçadas podiam ser de todos, mas as janelas e sacadas estavam reservadas a quem as alugara — para isso, os anúncios dos jornais as ofereciam, às dezenas, com semanas de antecedência. Outros anúncios típicos do Carnaval eram os de aluguel de instrumentos nas casas de música, principalmente bombos, clarins e reco-recos, e os de caminhões para o transporte dos blocos. Bares e restaurantes comunicavam que iriam varar a noite funcionando nos dias de Carnaval e que suas chopeiras, fornecidas pela Brahma ou pela Hanseática, se estenderiam à rua para atender à demanda da bebida. Ninguém podia imaginar que, tão pouco tempo depois do abalo provocado pela Espanhola, os jornais, a indústria e o comércio teriam tal bonança em seus negócios graças ao Carnaval.
Bonança essa que se viu ameaçada pela chuva que avassalou o Rio no domingo anterior à festa, 23 de fevereiro, e se prolongou pela semana. O Carnaval corria risco — falou-se até em adiamento. Mas, na quinta-feira, 27, o tempo abriu — e não voltou a fechar. As fantasias saíram dos armários, as pessoas, de suas casas, e os Fords e Pierce-Arrows, das garagens. Os corsos tomaram as ruas.
Os corsos eram os eufóricos desfiles de automóveis abertos, de seis ou oito lugares (mas comportando o dobro disso), levando jovens e adultos mascarados, muitos sentados na capota arriada ou no encosto dos bancos, cantando e se agitando, a dez quilômetros por hora. Havia corsos em diversos bairros, mas o mais concorrido era o que ia da praça Mauá à Praia do Flamengo, atravessando as avenidas Rio Branco e Beira-Mar. As pistas eram largas e o corso se formava em quatro filas, com intensa comunicação entre elas. Sua principal atração eram os flertes entre os rapazes e moças em carros diferentes, cada qual em sua fila — daí os engarrafamentos quando um carro tentava mudar de fila. Um recado que todos entendiam era o do rapaz que beijava a ponta da serpentina antes de arremessá-la para uma garota em um carro no outro lado da pista. Ou quando esta respondia, com os carros já emparelhados, atirando-lhe confete perfumado. Essa operação se dava sob os gritos de aprovação ou vaias dos que acompanhavam o flerte nos carros vizinhos.
ros vizinhos. Havia corsos de tarde e de noite. Alguns corsos noturnos estendiam-se até às duas da manhã, e seus componentes não eram tão inocentes quanto os da festa vespertina. Em 1919, os jornais registraram casos de folionas atrevidamente “seminuas” — com o umbigo de fora. Dizia- -se que eram estimuladas a isso pelos amantes ou namorados, que pagavam por suas fantasias de “Eva” ou “Salomé” e pareciam ter orgulho de exibi-las. Às vezes, os carros dos grã-finos saíam da fila e voltavam, apenas para serem vistos ou para recolher uma garota em outra fila. Esses jovens já tinham os sobrenomes que atravessariam as décadas seguintes: Barrozo do Amaral, Rocha Miranda, Marcondes Ferraz, Cupertino Durão, Lage, Simonsen, Scarpa, Guinle. Não fora para tanto que o falecido colunista Figueiredo Pimentel — árbitro da elegância carioca na Belle Époque, em sua coluna “Binóculo”, na Gazeta de Notícias — inventara o corso em 1907. E Pimentel não previra também os barulhentos corsos de motocicletas equipadas com sidecar — os rapazes, de touca de couro no assento e as moças, no carrinho acoplado.
O Carnaval ferveu nos clubes, e não apenas nos mais premiados, como o High Life, na Glória, com seu concurso de fantasias e o baile que durou quatro dias e noites seguidos; o dos Zuavos, na Lapa; e o Assírio, na Avenida. Foi intenso também nos grandes hotéis, como o Avenida e o novíssimo Palace, e nos clubes de bairros, como o Fluminense, o Tijuca, o América, o São Cristóvão — estes, reservando as tardes para uma grande novidade: os bailes infantis. Teatros como o Trianon, o São José, o Carlos Gomes, o República e o São Pedro interromperam suas programações, removeram os assentos e converteram suas plateias em salões de bal masqué — bailes a rigor ou à fantasia. Cada qual contava com três orquestras: uma na sala de espera, transformada em bar, e as outras revezando-se no palco até o sol raiar. Em todos esses eventos, os camarotes tremiam às batalhas de serpentina. Mas o escritor e jornalista João do Rio preferia o do Teatro Recreio, onde podia “acanalhar-se, enlamear-se bem”, e foi nele que brincou os últimos Carnavais de sua vida.
Durante uma semana, a Gazeta de Notícias deu manchetes com “O gargalhar carnavalesco”, “As alucinações da Avenida” e “No reinado da loucura”. Mal sobrava espaço para o noticiário político. O ano letivo, que deveria ter começado no dia 25 de fevereiro, foi adiado para 10 de março. O presidente eleito Rodrigues Alves acabara de morrer sem tomar posse e sabia-se que seu vice, Delfim Moreira, teria de assumir e convocar novas eleições, mas quem queria pensar no assunto? O próprio poder já se preparava para ir passar o Carnaval em Petrópolis. O qual era o Carnaval mais fino e chique do Brasil, porque o governo, os empresários, os ex-nobres, os estrangeiros ricos e o Corpo Diplomático se mudavam para lá no verão. Os bailes em Petrópolis eram um festival de casacas e decotes, com os convidados vergando ao peso das condecorações. Num deles, o senador Lauro Müller perdeu um guarda-chuva com cabo de ouro. O corso, na praça D. Pedro e na rua do Imperador, era um cortejo de carros suntuosos, senhores de cartola e senhoras com os últimos modelos de Paris. Só não era um Carnaval muito animado — ao contrário. Nesse quesito, havia outro, decididamente mais pobre e humilde, mas de que já se dizia ser o melhor Carnaval do Rio: o da praça Onze, com seus clubes e blocos como o Kananga do Japão, o Paladinos da Cidade Nova e o Rancho Rosa Branca. Era para lá que convergiam os moradores dos morros vizinhos.
O Carnaval de 1919 foi o último em que se brincou com músicas lançadas no decorrer do ano ou em anos anteriores — marchas-rancho, polcas, tangos, maxixes, ragtimes, one-steps, e até mesmo valsas e árias de ópera. A palavra “samba” só então estava deixando de significar baile ou pagode para designar um ritmo — mesmo que, como em “Pelo telefone”, esse ritmo ainda fosse o maxixe. Quanto a este, ia longe o tempo em que, no Brasil, dançá-lo podia render uma excomunhão. Em 1919, o maxixe — matchiche, como se dizia na Europa — já fora não apenas assimilado como estava começando a sair de moda. O único a ainda vê-lo como coisa do demônio era o jornalista, escritor e ex-padre mineiro Antonio Torres, que falava da sua “canalhice bárbara” e dizia que a visão de um casal entregue ao seu “enlace impudico” bastava para revelar a “fisionomia reles” do povo brasileiro.
A festa daquele ano rendeu um filme, depois perdido e nunca encontrado: o musical O Carnaval de 1919, produzido pela Nacional Film. Mudo, naturalmente, mas com música a cargo do trio Pepe, Oterito e Raul, os três cantando em pessoa por trás da tela. Raul era o jovem Raul Roulien, futuramente célebre como ator, diretor e produtor, ao lado de seu irmão Francisco Pepe e da cantora Oterito. Era o “cinema cantado”, uma das sensações da época.
Na Quarta-Feira de Cinzas, o Rio despertou convicto de que vivera o maior Carnaval de sua história. Exceto pelos punguistas de sempre, pelos comas alcoólicos e pelos corações partidos, tudo correra bem — só nove meses depois se saberia a enorme quantidade de “filhos do Carnaval”, gerados naquele período. A manhã de Cinzas era a hora da busca pelos enjeitados, outra tradição do Carnaval. Crianças desacompanhadas, abandonadas pelos pais, eram encontradas chorando nas ruas e levadas às delegacias para posterior resgate. Idosos também eram recolhidos nas calçadas, confusos e desorientados, e igualmente encaminhados. Seus parentes tinham se esquecido deles — “ao entusiasmo dos três dias”, segundo a Gazeta de Notícias.
Já com o sol quente, assim que o último folião, resignado, foi para casa dormir, chegaram os trapeiros — os vendedores de papel velho, para recolher as montanhas de serpentina deixadas para trás. O jornal A Noite estimou que o Carnaval de 1919 produzira quarenta toneladas de papel e que isso renderia aos trapeiros, a cem réis o quilo, quatro contos de réis.
Valor que, hoje, não temos como avaliar. Mas devia ser bom dinheiro, a justificar que esses profissionais, no luto do Carnaval, varejassem cada canto das ruas, em busca dos despojos da grande cidade.
fim da amostra…
Livros relacionados
Livro 'Com amor, Freddie: A vida e o amor secreto de Fr...
Livro 'Coisa de Rico: A vida dos endinheirados brasilei...
Livro 'Análise' por Vera Iaconelli
Livro 'O Nazista e o Psiquiatra' por Jack El-Hai
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.