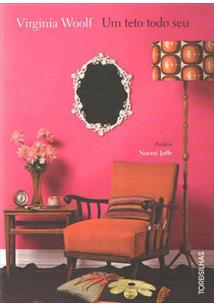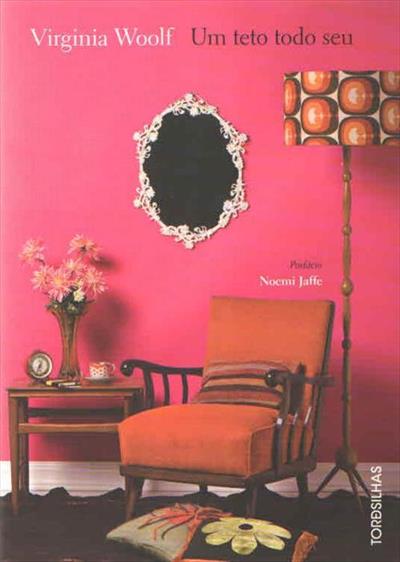
Baseado em palestras proferidas por Virginia Woolf nas faculdades de Newham e Girton em 1928, o ensaio Um teto todo seu é uma reflexão acerca das condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária feminina. A escritora pontua em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre de seu pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição e, finalmente, para que essa escrita seja recebida com consideração, em vez da indiferença comumente reservada à escrita feminina na época. Esta edição traz, além do ensaio, uma seleção de trechos dos diários de Virginia, uma cronologia da vida e da obra da autora e um posfácio escrito pela crítica literária e colaboradora da Folha de S. Paulo Noemi Jaffe.
Editora: Nova Fronteira (8 maio 2019); Páginas: 112 páginas; ISBN-10: 8520943896; ISBN-13: 978-8520943892; ASIM: B07QMTDJQ7
Clique na imagem para ler o livro
Biografia do autor: Virginia Woolf nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1882. Colaborou com o Times Literary Supplement, foi membro proeminente do Grupo de Bloomsbury, formado por intelectuais e artistas britânicos no começo do século XX, e escreveu diversas resenhas e artigos. De sua produção como romancista constam títulos de valor literário excepcional, como Mrs. Dalloway, Ao farol e As ondas. Em 1941, após anos de depressão, suicidou-se por afogamento.
Leia trecho do livro
Apresentação
Na década de 1920, Vírginia Woolf, já então uma escritora de renome, é convidada a palestrar em duas faculdades inglesas exclusivas para mulheres, o que mais tarde daria forma ao presente ensaio. A partir do tema “As mulheres e a ficção”, Woolf elege como foco de sua exposição a tradição imperativa do patriarcado, descortinando em que medida a falta de recursos financeiros e de legitimidade cultural a que as mulheres eram submetidas compunha um cenário desencorajador para que elas escrevessem ficção.
Na empreitada, Woolf utiliza uma parcela de fantasia para tratar de uma questão por demais real — a assimetria dos papéis sociais destinados à mulher e ao homem, que recebiam atribuições e privilégios bastante distintos. A escritora propõe uma hipótese perspicaz: se Shakespeare tivesse tido uma irmã de igual talento, teriam os dois as mesmas possibilidades de trabalhar com seu potencial criativo? A proposição nos conduz a um questionamento mais pungente: como o papel social destinado a cada sexo interfere no desenvolvimento de uma habilidade por vezes nata?
Entremeado por referências a inúmeros artistas e pensadores, Um teto todo seu discute em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre de seu pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição e recebida com consideração, em vez de indiferença.
Woolf empresta a este ensaio a linguagem autêntica e lírica que lhe é tão particular e que fez de seus romances obras-primas da literatura. Esta edição traz também uma seleção de trechos dos diários da autora, uma cronologia de sua vida e obra e um posfácio escrito pela crítica literária Noemi Jaffe.
Sobre a autora
Vírginia Woolf nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1882. Colaborou com o Times Literary Supplement, foi membro proeminente do Grupo de Bloomsbury, formado por intelectuais e artistas britânicos no começo do século xx, e escreveu diversas resenhas e artigos. De sua produção como romancista constam títulos de valor literário excepcional, como Mrs. Dalloway, Ao farol e As ondas. Em 1941, após anos de depressão, suicidou-se por afogamento.

Este ensaio é baseado em dois artigos lidos para a Arts Society, do Newnham College, e para a ODTAA, do Girton College, em outubro de 1928. Os artigos eram muito extensos para serem lidos na íntegra e, desde então, foram alterados e expandidos.
1
Mas, vocês podem dizer, nós pedimos para você falar sobre mulheres e ficção — o que isso tem a ver com um teto todo seu? Vou tentar explicar. Quando vocês me pediram para falar sobre mulheres e ficção, sentei-me às margens de um rio e ponderei sobre o significado dessas palavras. Elas poderiam significar simplesmente algumas menções a Fanny Burney; outras sobre Jane Austen; um tributo às irmãs Brontë e um esboço de Haworth Parsonage sob a neve; alguns chistes, se possível, sobre a senhorita Mitford; uma alusão respeitosa a George Eliot; uma referência à senhora Gaskell e pronto. Mas, à segunda vista, as palavras não parecem tão simples. O título “As mulheres e a ficção” poderia significar, e talvez vocês pensassem assim, as mulheres e como elas são, ou as mulheres e a ficção que elas escrevem, ou poderia significar as mulheres e a ficção que é escrita sobre elas, ou poderia significar que de alguma forma as três possibilidades estão inextricavelmente emaranhadas e vocês gostariam que eu as considerasse sob esse ponto de vista. Quando, porém, comecei a pensar no assunto dessa forma, que parecia a mais interessante, logo percebi que havia um obstáculo inevitável. Eu nunca conseguiria chegar a uma conclusão. Nunca conseguiria cumprir o que é, na minha opinião, a principal tarefa de um palestrante, a de dar a vocês, após um discurso de uma hora, uma pepita de preciosa verdade para ser embrulhada nas páginas de um caderno e mantida em permanente exibição. Tudo o que eu poderia fazer seria dar-lhes a minha opinião sob um ponto de vista mais singelo: uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção; e isso, como vocês verão, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esquivei-me da obrigação de chegar a uma conclusão sobre esses dois assuntos — mulheres e ficção permanecem, no que me concerne, problemas não resolvidos. Mas, em compensação, vou fazer o possível para mostrar como formei essa opinião acerca do espaço próprio e do dinheiro. Vou revelar a vocês o mais completa e livremente que puder a linha de raciocínio que me levou a isso. Talvez se eu revelar as ideias, os preconceitos que se escondem atrás desse argumento, vocês vejam que têm alguma relação com mulheres e ficção. De qualquer forma, quando o assunto é controverso — e qualquer questão que envolve sexo é —, não se pode esperar a verdade. Só se pode mostrar como se chegou a ter a opinião que se tem. Só se pode dar ao público a oportunidade de tirar as próprias conclusões ao observar as limitações, os preconceitos, as idiossincrasias do palestrante. É mais provável que a ficção contenha mais verdade do que o fato. Por isso, o que proponho, com todas as liberdades e as licenças de uma escritora, é contar a história dos dois dias que precederam minha vinda até aqui… como, curvada pelo peso colocado sobre meus ombros, ponderei sobre o assunto e o encaixei no meu dia a dia. Não preciso dizer que o que estou prestes a descrever não existe; Oxbridge é uma invenção, assim como Fernham; “eu” é apenas um termo prático para alguém que não tem existência real. Dos meus lábios fluirão mentiras, mas talvez haja alguma verdade misturada a elas; cabe a vocês buscar essa verdade e decidir se vale a pena guardar parte dela. Se não, é lógico, vocês vão jogar tudo isso no lixo e esquecer.
Então ali estava eu (chamem-me Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael ou qualquer outro nome que lhes agrade — pouco importa), sentada às margens de um rio há uma ou duas semanas no clima agradável de outubro, perdida em meus pensamentos. Aquele laço sobre o qual falei, mulheres e ficção, a necessidade de chegar a uma conclusão em um assunto que evoca toda sorte de preconceitos e paixões, me fez curvar a cabeça ao chão. A direita e à esquerda, alguns arbustos dourados e carmesins brilhavam coloridos, pareciam até queimados pelo calor do fogo. Na margem oposta, salgueiros choravam numa lamentação perene, os cabelos sobre os ombros. O rio refletia o que queria de céu e ponte e árvore flamejante, e depois que o estudante remou seu barco pelos reflexos, estes se fecharam de novo, por inteiro, como se ele nunca tivesse estado ali. Era possível passar um dia inteiro nesse lugar com a mente perdida em pensamentos. Um pensamento — para lhe dar um nome mais altivo do que merece — tinha deixado seu rastro pela corrente. Oscilava, minuto a minuto, para cá e para lá entre os reflexos e as plantas aquáticas, deixando-se mostrar e submergir na água até… Sabe aquele puxão, e então um amontoado de ideias na ponta da linha, e depois o recolher cauteloso e a exposição cuidadosa? Por fim, assentado na grama, tão pequeno e tão insignificante parecia esse meu pensamento; o tipo de peixe que um bom pescador devolveria à água para que engordasse e um dia fosse digno de ser cozido e comido. Não vou incomodá-las com esse pensamento agora, embora, se prestarem atenção, vão conseguir encontrá-lo por sí mesmas no curso do que estou prestes a dizer.
Por menor que fosse, esse pensamento tinha, apesar de tudo, o mistério próprio de sua espécie — de volta à mente, tomou-se imediatamente muito empolgante e digno de atenção; e, conforme zunia, afundava e zanzava para lá e para cá, despertava um aluvião e um tumulto de ideias tal que me era impossível ficar parada. Foi assim que me ví andando extremamente rápido através de um gramado. Na mesma hora a figura de um homem surgiu para me interceptar. Não percebi de pronto que as gesticulações daquele objeto curioso, de fraque e camisa formal, eram dirigidas a mim. O rosto dele expressava horror e indignação. O instinto, em vez da razão, veio me socorrer: ele era um bedel; eu era uma mulher. Aqui era o gramado; ali estava o caminho. Somente os estudantes e os professores eram admitidos aqui; o cascalho era o meu lugar. Esses eram meus pensamentos naquele momento. Assim que retomei meu caminho, os braços do bedel caíram, seu rosto assumiu a tranquilidade usual, e, embora o gramado fosse melhor para caminhar do que o cascalho, não houve nenhum dano grave. A única acusação que posso fazer contra estudantes e professores de qualquer universidade que seja é a de eles terem afugentado meu pequeno peixe para proteger seus gramados cultivados durante trezentos anos a fio.
Que ideia me levou a uma invasão tão audaciosa, agora não me lembro. O espírito da paz desceu dos céus como uma nuvem, porque, se o espírito da paz habita em algum lugar, é nas quadras e nos pátios de Oxbridge em uma bela manhã de outubro. Passeando por aquelas faculdades, por aqueles corredores antigos, a rudeza do presente parecia se amenizar; o corpo parecia encerrado em um armário de vidro milagroso no qual som nenhum podia penetrar, e a mente, liberta de qualquer contato com os fatos (a menos que alguém invadisse o gramado de novo), ficava à vontade para se dedicar a qualquer meditação que estivesse em harmonia com o momento. Por acaso, memórias esparsas de um ensaio antigo sobre retornar a Oxbridge nas férias me lembraram de Charles Lamb — santo Charles, disse Thackeray, encostando uma carta de Lamb na testa. De fato, entre todos os mortos (compartilho meus pensamentos à medida que eles me ocorrem), Lamb é um dos mais agradáveis; alguém a quem eu gostaria de perguntar: Diga-me, pois, como escreve seus ensaios? Porque os ensaios dele são superiores até aos de Max Beerbohm, pensei, com toda aquela perfeição, por causa daquela centelha bravia de imaginação, aquele lampejo de genialidade no meio dos textos que os faz ter falhas e imperfeições, mas os toma radiantes de poesia. Lamb esteve em Oxbridge talvez cem anos atrás. Sem dúvida, ele escreveu um ensaio — o título me escapa — sobre o manuscrito de um dos poemas de Mílton que ele viu aqui. Era “Lycidas”, talvez, e Lamb escreveu como ficou chocado ao pensar na possibilidade de que qualquer das palavras de “Lycidas” pudesse ter sido diferente do que era. Pensar em Milton alterando as palavras do poema parecia-lhe uma espécie de sacrilégio. Isso me fez lembrar de tudo o que eu sabia sobre “Lycidas”, e foi divertido imaginar que palavra Milton teria alterado e por quê. Então me ocorreu que o mesmo manuscrito visto por Lamb estava a poucos metros de distância e que era possível seguir seus passos através do pátio até a famosa biblioteca onde esse tesouro fica guardado. Além do mais, ponderei enquanto colocava o plano em prática, é nessa famosa biblioteca que o manuscrito de Esmond, de Thackeray, está guardado. Os críticos sempre dizem que Esmond é o romance mais perfeito de Thackeray. Mas a afetação do estilo, com sua paródia do século xvm, era incômoda, tanto quanto posso lembrar, a menos que realmente o estilo do século xvm fosse inato em Thackeray — um fato que se pode comprovar olhando o manuscrito e verificando se as alterações eram para o bem do estilo ou do sentido. Mas para isso alguém teria de decidir o que é estilo e o que é significado, uma questão que… mas eis-me de fato à porta que leva para a própria biblioteca. Devo tê-la aberto, já que, num instante, como um anjo guardião impedindo o caminho com o esvoaçar de um traje preto em lugar de asas brancas, um cavalheiro desaprovador, prateado e gentil, lamentou em voz baixa, à medida que me dispensava com um gesto, que só se admitiam damas na biblioteca se acompanhadas por um estudante da universidade ou munidas de uma carta de apresentação.
Que aquela biblioteca famosa tenha sido amaldiçoada por uma mulher é uma questão irrelevante para uma biblioteca famosa. Venerável e calma, com todos os seus tesouros seguramente trancados em seu íntimo, ela dorme complacentemente, e, no que me diz respeito, vai dormir assim para sempre. Nunca mais eu despertaria os ecos, nunca mais solicitaria aquela hospitalidade de novo, prometi ao descer os degraus, enraivecida. Ainda restava uma hora até o almoço, e o que se podia fazer? Vagar pelos prados? Sentar-se à beira do rio? Era certamente uma manhã de outono adorável; as folhas flutuavam vermelhas até o chão; não era sofrimento nenhum fazer qualquer um dos dois. Mas o som de música chegou a meus ouvidos. Alguma cerimônia religiosa ou celebração estava acontecendo. O órgão se lamentava magnificamente quando passei pela porta da capela. Até o pesar do cristianismo parecia, naquele ar sereno, mais a lembrança do pesar do que o pesar em si; mesmo os gemidos do órgão antigo pareciam aninhados na paz. Mesmo que eu tivesse o direito de entrar, não tinha vontade de fazê-lo, e desta vez o sacristão poderia ter me impedido, exigindo talvez minha certidão de batismo ou uma carta de apresentação do reitor. Mas o exterior dessas construções magníficas é quase sempre tão bonito quanto o interior. Ademais, era divertido o suficiente observar a congregação se reunir, entrar e sair de novo, ocupando-se à porta da capela como abelhas na entrada da colmeia. Muitos usavam chapéu e túnica; alguns tinham estolas de pele sobre os ombros; outros eram conduzidos em cadeiras de rodas; outros, apesar de não terem passado da meia-idade, pareciam amassados e esmagados em formatos tão peculiares que lembravam aqueles caranguejos e lagostins gigantes que se erguem com dificuldade da areia de um aquário. Enquanto me apoiava na parede, a universidade realmente pareceu um santuário onde são preservados os tipos raros que em breve estariam obsoletos se deixados para lutar por sua existência na calçada da Strand. Histórias antigas de reitores antigos e professores antigos me vieram à mente, mas, antes que eu pudesse reunir coragem para assobiar — diziam que ao som de um assobio o velho professor começava a galopar —————— , a venerável congregação entrou. O exterior da capela permaneceu. Como vocês sabem, seus domos e seus pináculos altos podem ser vistos, como um veleiro sempre em viagem mas que nunca chega, iluminados à noite, e visíveis por muitos quilômetros através das colinas. Houve um tempo, presumo, em que esse quadrilátero, com seus gramados macios, seus edifícios maciços e a própria capela, foi também um pântano onde a grama ondulava e os porcos fuçavam. Manadas de cavalos e bois, pensei, devem ter transportado as pedras em vagões vindos de países longínquos, e então, com trabalho infinito, os blocos cinzentos, sob cuja sombra eu estava agora, foram equilibrados em ordem um em cima do outro, e depois os pintores trouxeram os vidros para as janelas, e os pedreiros ficaram ocupados por séculos naquele teto com betume e cimento, pá e colher. Todo sábado alguém deve ter despejado ouro e prata de uma bolsa de couro em suas mãos, pois eles provavelmente bebiam cerveja e jogavam boliche à noite. Um veio de ouro e prata sem fim, pensei, deve ter jorrado perpetuamente para este pátio de forma a manter as pedras a caminho e os pedreiros no trabalho; nivelar, descartar, desenterrar e drenar. Era a Idade da Fé, e o dinheiro fluía livremente para assentar essas pedras em uma fundação profunda, e quando as pedras estavam de pé ainda mais dinheiro era vertido diante dos cofres de reis e rainhas e grandes nobres para garantir que aqui se cantassem hinos e se ensinasse aos alunos. Concederam-se terras, pagaram-se dízimos. Quando a Idade da Fé terminou e a Idade da Razão começou, o mesmo veio de ouro e prata continuou; fundaram-se irmandades, concederam-se cargos de palestrantes; agora apenas o ouro e a prata fluíam, não dos tesouros do rei, mas dos baús de mercadores e industriais, das bolsas de homens que fizeram, digamos, uma fortuna nas fábricas e devolveram, em testamento, uma generosa parte dela para endossar mais cátedras, mais cargos de palestrantes, mais irmandades na universidade onde aprenderam o oficio. Em consequência, as bibliotecas e os laboratórios; os observatórios; o esplêndido conjunto de instrumentos caros e delicados que agora está em prateleiras de vidro, onde séculos atrás a grama ondulava e os porcos fuçavam. Certamente, enquanto eu passeava pelo pátio, a fundação de ouro e prata parecia profunda o suficiente; o pavimento assentava-se solidamente sobre a grama silvestre. Homens com bandejas sobre a cabeça passavam, ocupados, de uma escada a outra. Buquês pomposos floresciam em jardineiras. A melodia de um gramofone ecoava alta do interior. Era impossível não refletir — a reflexão, fosse ela qual fosse, foi interrompida. O relógio soou. Era hora de se pôr a caminho do almoço.
É curioso que os romancistas nos façam acreditar que os almoços são invariavelmente memoráveis por algum dito espirituoso ou algum feito muito sábio. Mas eles mal dizem uma palavra sobre o que se comeu. Faz parte de seu costume não mencionar sopa e salmão e pato, como se a sopa e o salmão e o pato não tivessem importância, como se ninguém fumasse um charuto ou tomasse uma taça de vinho. Aqui, contudo, tomarei a liberdade de desafiar esse costume e contar a vocês que o almoço naquela ocasião iniciou-se com linguado — afundado em uma travessa —, sobre o qual o cozinheiro da universidade espalhou uma camada de um creme muito branco, a não ser pelas manchas marrons que o maculavam aqui e ali como as pintas nos flancos de uma corça. Depois disso vieram as perdizes, mas, se vocês pensaram em uma ou duas aves amarronzadas e peladas, estão enganadas. As perdizes, muitas delas, vieram com uma comitiva de molhos e saladas, os picantes e os doces, cada um a seu tempo; as batatas, finas como moedas mas não duras demais; os brotos, folhosos como botões de rosa, porém mais suculentos. Nem bem terminamos com o assado e seu séquito, e o serviçal silencioso, talvez o próprio bedel em uma aparição mais discreta, colocou diante de nós, em meio a uma guirlanda de guardanapos, um doce do qual emergiam ondas de açúcar. Chamá-lo de pudim, e assim relacioná-lo com arroz ou tapioca, seria um insulto. Nesse meio-tempo as taças de vinho jorravam amarelo e jorravam carmim; foram esvaziadas; foram completadas. E assim, aos poucos, acendeu-se no meio da espinha, a base da alma, não aquela luz elétrica rígida que denominamos inteligência, que entra e sai dos lábios, mas o brilho mais profundo, sutil e subterrâneo que é a forte chama da comunicação racional. Sem que precisássemos correr. Sem que precisássemos brilhar. Sem que precisássemos ser alguém que não nós mesmos. Todos nós vamos para o céu, e Van Dyck é quem nos guia — em outras palavras, como a vida parecia boa, como eram doces suas recompensas, como pareciam triviais esta rixa ou aquela mágoa e admiráveis a amizade e as companhias enquanto, acendendo um bom cigarro, nós nos afundávamos entre as almofadas do sofá sob a janela.
Se, afortunadamente, tivesse havido um cinzeiro por perto, se as cinzas não tivessem sido jogadas janela afora, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes do que foram, é provável que ninguém tivesse visto um gato sem rabo. A visão daquele animal abrupto e truncado caminhando calmamente pelo pátio modificou, por mero acaso da inteligência subconsciente, a luz emocional para mim. Foi como se alguém tivesse deixado cair uma sombra. Talvez o hock estivesse afrouxando as amarras. Certamente, enquanto eu via o gato manx parar no meio do gramado, como se também ele questionasse o universo, algo parecia faltar, algo parecia diferente. Mas o que faltava, o que estava diferente?, perguntei-me, ouvindo as conversas. Para responder a essa pergunta era preciso me imaginar fora daquela sala, de volta ao passado, antes mesmo da guerra, e colocar diante dos meus olhos o modelo de outro almoço, oferecido em cômodos não muito distantes dali, mas diferentes. Tudo era diferente. Nesse ínterim, a conversa continuava entre os convidados, que eram em grande número e jovens, alguns deste sexo, alguns do outro; continuava sem dificuldades, continuava agradavelmente, livremente, divertidamente. E conforme continuava, coloquei-a ao fundo daquela outra conversa, e conforme comparei as duas não tive dúvidas de que uma era descendente, a legítima herdeira, da outra. Nada foi alterado; nada estava diferente, exceto que aqui eu ouvia com ouvidos atentos não inteiramente o que era dito, mas o murmúrio ou a corrente que permeava tudo. Sim, era isso — a mudança estava ali. Antes da guerra, em um almoço como aquele, as pessoas teriam dito exatamente as mesmas coisas, mas elas soariam de outro modo, porque naqueles dias seriam acompanhadas por uma espécie de zumbido, não articulado, mas musical, empolgante, que alteraria o próprio significado das palavras. Seria possível atribuir esse zumbido às palavras? Talvez com a ajuda dos poetas fosse possível… Havia um livro ao meu lado, e, ao abri-lo, recorri casualmente a Tennyson. E então descobri que Tennyson cantava:
“Esplêndida, essa lágrima que tomba
da flor mais passional junto ao portão!
Vem vindo a minha amada, a minha pomba!
Vem vindo do viver meu a razão!
O cravo diz ‘Demora..? e de mim zomba.
A rosa diz ‘Não tarda a chegar, não…’
Do cravo o choro ecoa como bomba.
Da rosa os brados ânimo me dão.”
Era isso que os homens cantarolavam nos almoços antes da guerra? E as mulheres?
“Qual pássaro canoro, não é mudo
meu vivo coração, que ninho tem.
Qual árvore que fruto dá, polpudo,
vigor meu coração não está sem.
Qual arco multicor de brilho agudo,
do mar meu coração se estende além
e bate, mais feliz que aquilo tudo,
pois vindo ao meu encontro meu bem vem.”
Era isso o que as mulheres cantarolavam nos almoços antes da guerra?
Era algo tão ridículo pensar nas pessoas cantarolando essas coisas, mesmo de boca fechada, nos almoços antes da guerra, que explodi em risadas e tive que explicar meu riso apontando para o gato manx, que realmente tinha uma aparência meio absurda, pobre animal, sem rabo, no meio do gramado. Teria ele nascido assim ou perdera o rabo em um acidente? O gato sem rabo, embora se afirme que habite a ilha de Man, é mais raro do que se imagina. É um animal ridículo, esquisito em vez de bonito. E. estranha a diferença que um rabo faz — vocês sabem o tipo de coisa que se diz à medida que o almoço termina e as pessoas pegam os casacos e os chapéus.
Este, graças à hospitalidade do anfitrião, estendeu-se por toda a tarde. O lindo dia de outubro estava terminando, e as folhas caíam das árvores sobre a avenida conforme eu caminhava. Portão após portão pareciam se fechar gentilmente atrás de mim. Incontáveis bedéis encaixavam incontáveis chaves em fechaduras bem lubrificadas; a caixa-forte estaria segura por mais uma noite. Depois da avenida, chega-se a uma estrada — esqueci o nome — que leva, ao pegar a saída à direita, a Fernham. Mas havia bastante tempo. O jantar começaria só às sete e meia. Era quase possível ficar sem o jantar depois de um almoço daqueles. É estranho como um fragmento de poesia influencia a mente e faz as pernas se moverem no mesmo ritmo pela estrada. Aquelas palavras:
“Esplêndida, essa lágrima que tomba
da flor mais passional junto ao portão!
Vem vindo a minha amada, a minha pomba!”
ecoavam nas minhas veias conforme eu caminhava rapidamente em direção a Headingley. E então. alternando para a outra parte. cantei. ali onde as águas são agitadas pelo dique:
“Qual pássaro canoro, não é mudo
meu vivo coração, que ninho tem.
Qual árvore que fruto dá, polpudo,”
Que poetas, exclamei em voz alta, como se faz ao crepúsculo, que poetas eles eram!
Com um pouco de ciúme, acho que, em razão da nossa própria era, embora comparações como estas sejam tolas e absurdas, continuei o caminho, imaginando se seria possível indicar dois poetas tão bons hoje quanto Tennyson e Christina Rossetti foram então. Obviamente é impossível, pensei, ao olhar para aquelas águas espumantes, compará-los. A principal razão pela qual aquela poesia emociona em um nível tão intenso de renúncia, de arrebatamento, é porque exalta sentimentos que costumávamos ter (nos almoços antes da guerra, talvez), e assim respondemos com facilidade, com familiaridade, sem nos dar ao trabalho de examinar o sentimento ou compará-lo com o que sentimos agora. Mas os poetas vivos expressam um sentimento que está sendo criado e ao mesmo tempo arrancado de nós neste momento. Não são reconhecidos de primeira; muitas vezes, por alguma razão, são temidos; são acompanhados com veemência e comparados com inveja e suspeita ao sentimento conhecido de outrora. Eis aí a dificuldade da poesia moderna; e é por causa dessa dificuldade que ninguém lembra mais que dois versos seguidos de qualquer bom poeta moderno. Por esta razão — a falha da minha memória —, a discussão esmorecia por falta de argumento. Mas, por que, continuei, indo na direção de Headingley, paramos de cantarolar baixinho nos almoços? Por que Alfred parou de declamar:
“Vem vindo a minha amada, a minha pomba!”?
E por que Christina parou de responder:
“e bate, mais feliz que aquilo tudo,
pois vindo ao meu encontro meu bem vem”?
Devemos colocar a culpa na guerra? Quando as armas foram disparadas, em agosto de 1914, o rosto de homens e mulheres se revelou tão simplório um ao outro que o romance foi destruído? Certamente foi um choque (em particular para as mulheres e suas ilusões sobre educação e assim por diante) ver o rosto de nossos governantes sob a luz dos bombardeios. Tão feios eles pareciam — alemães, ingleses, franceses —, tão estúpidos. Coloque-se a culpa no que se queira, em quem se queira; a ilusão que inspirou Tennyson e Christina Rossetti a cantar tão apaixonadamente sobre a vinda de seus amores é bem mais rara agora do que então. Basta ler, ver, ouvir, lembrar. Mas por que falar em “culpa”? Por que não, se era ilusão, louvar a catástrofe, seja ela qual for, que destruiu a ilusão e colocou a verdade em seu lugar? Porque a verdade… As reticências marcam o ponto onde, em busca da verdade, perdi a entrada para Fernham. Sim, de fato, o que era verdade e o que era ilusão?, perguntei a mim mesma. Qual era a verdade sobre aquelas casas, por exemplo, agora embaçadas e festivas com suas janelas vermelhas ao anoitecer, mas cruas, vermelhas e esquálidas, com seus doces e cadarços de sapatos, às nove horas da manhã? E os salgueiros, o rio e os jardins que seguiam para o rio, agora oscilantes sob a névoa furtiva, mas dourados e vermelhos sob a luz do sol — qual era a verdade, qual era a ilusão que os cercava? Vou poupá-los das idas e vindas das minhas considerações, já que nenhuma conclusão foi encontrada na estrada para Headingley, e peço a vocês que presumam que logo percebi meu erro na entrada e refiz meus passos até Fernham.
Como já mencionei que era um dia de outubro, não ouso arriscar seu apreço e pôr em perigo o bom nome da ficção ao alterar as estações e descrever lilases caindo sobre os muros dos jardins, crocos, tulipas e outras flores da primavera. A ficção precisa se ater aos fatos, e quanto mais verdadeiros os fatos, melhor a ficção — é o que dizem. Assim, ainda era outono, e as folhas ainda estavam amarelas e caíam, talvez um pouco mais rápido que antes, porque agora já era noite (sete e vinte e três, para ser precisa), e uma brisa (do sudoeste, para ser exata) começava a soprar. Mas, a despeito de tudo isso, havia algo esquisito no ar:
“Qual pássaro canoro, não é mudo
meu vivo coração, que ninho tem.
Qual árvore que fruto dá, polpudo,
vigor meu coração não está sem.”
Talvez as palavras de Christina Rossetti tenham sido em parte responsáveis pelos desatinos de imaginar — não era nada mais que imaginação, claro — que o lilás estava sacudindo suas flores sobre os muros dos jardins, e as borboletas se moviam rapidamente aqui e ali, e a poeira do pólen estava no ar. Um vento soprou, de que canto não sei, mas levantou as folhas quase crescidas e provocou um lampejo prateado no ar. Era a hora do lusco-fusco, na qual as cores passam por uma intensificação, e roxos e dourados ardem nos vidros das janelas como as batidas de um coração emocionado; quando por alguma razão a beleza do mundo revelada e prestes a perecer (aqui eu entro no jardim, pois, inadvertidamente, a porta foi deixada aberta, e não há bedéis por perto), a beleza do mundo prestes a perecer tem duas faces, uma de riso, outra de angústia, fazendo o coração em pedaços. Os jardins de Fernham se exibiam diante de mim sob o crepúsculo da primavera, selvagem e ampla, e na grama comprida, salpicada e espalhada sem cuidados, havia abróteas e jacintos, talvez desordenados na maioria das vezes, e agora esvoaçantes e ondeantes enquanto se agarravam a suas raízes. As janelas do prédio, arredondadas como escotilhas de navio entre ondas generosas de tijolos vermelhos, mudavam de amarelo para prateado com a passagem de rápidas nuvens de primavera. Alguém estava deitado em uma rede, alguém — mas sob essa luz eram apenas fantasmas, meio adivinhados, meio vislumbrados — corria pela grama — ninguém a impediria? — e então no terraço, como se viesse à tona para respirar, para olhar o jardim, veio uma figura curvada, formidável porém humilde, com uma testa grande e um vestido surrado — seria a famosa professora, seria a própria J___________ H___________, ela mesma? Tudo era sombrio, mas intenso também, como se o manto que o entardecer lançara sobre o jardim tivesse sido rasgado por uma estrela ou uma espada — a ferida profunda do choque de realidade terrível, como sempre o é, das entranhas da primavera. Porque a juventude…
Eis minha sopa. O jantar estava sendo servido no vasto salão. Longe de serprimavera, era, de faio, uma noite de outubro. Todos estavam acomodados no grande salão. O jantar estava pronto. Ali estava a sopa. Era um caldo simples. Não havia nada para tomá-lo mais elaborado. Teria sido possível ver os motivos desenhados no prato através do líquido transparente. Mas não havia desenhos. O prato era liso. Depois veio um bife com seu acompanhamento de legumes e batatas — uma trindade caseira, evocando as ancas do gado em um mercado lamacento, e brotos retorcidos e amarelados nas pontas, e pechinchas, barganhas e mulheres com sacolas numa manhã de segunda-feira. Não havia razão para queixar-se da alimentação diária da natureza humana, visto que o suprimento era suficiente, e mineradores certamente não aceitariam menos. Seguiram-se ameixas e creme inglês. E se alguém reclamar que as ameixas, mesmo quando suavizadas por creme inglês, são um vegetal sem coração (frutas elas não são), viscosas como o coração de um avarento e que exsudam líquidos como os que devem correr nas veias de um avarento que lhes negou vinho e conforto por oito anos e ainda assim não os doou aos pobres, deve-se considerar que há pessoas cuja caridade compreende até as ameixas. Em seguida vieram biscoitos e queijo, e nessa hora a jarra de água circulou livremente, porque é da natureza dos biscoitos serem secos, e aqueles eram biscoitos por excelência. Isso foi tudo. A refeição terminara. Todas empurraram a cadeira para trás; as portas de vaivém iam e vinham com violência; logo o salão estava livre de qualquer vestígio de comida e pronto para o café da manhã seguinte. Corredores afora e escadas acima, a juventude da Inglaterra ia fazendo barulho e cantando. E poderia uma convidada, uma estranha (pois eu tinha tantos direitos ali em Fernham quanto em Trinity, Somerville, Girton, Newnham ou Christchurch) dizer “O jantar não estava bom” ou dizer (estávamos agora, Mary Seton e eu, em sua sala de estar) “Será que não poderíamos ter jantado aqui sozinhas?”, pois, se eu tivesse dito algo assim, estaria me intrometendo e vasculhando as economias secretas de uma casa cujas aparências são, para o estranho, de plena alegria e coragem. Não, não se poderia dizer nada desse tipo. Realmente, por um momento a conversa esmoreceu. Com a constituição humana sendo como é, coração, corpo e cérebro todos misturados, e não restritos a compartimentos separados como sem dúvida serão daqui a um milhão de anos, um bom jantar é de suma importância para uma boa conversa. Não se pode pensar direito, amar direito, dormir direito quando não se jantou direito. O brilho no meio da espinha não se acende com bife e ameixas. Todos nós provavelmente vamos para o céu, e Van Dyck vai, assim esperamos, nos encontrar na próxima esquina — esse é o estado de espírito dúbio que, no fim do dia, bife e ameixas geram. Felizmente minha amiga, que dava aulas de ciências, tinha um aparador com uma garrafa bojuda e copinhos (mas deveria ter havido linguado e perdiz, para começar), e assim fomos capazes de avivar o fogo e reparar um pouco do prejuízo do dia. Em um minuto ou dois, estávamos circulando livremente entre os assuntos de curiosidade e de interesse que surgem na mente durante o período de afastamento de determinada pessoa e que naturalmente são discutidos quando há um reencontro — por que um se casou e o outro não; um pensa isso, o outro aquilo; uns progrediram com tamanho conhecimento, outros decaíram de forma impressionante, e todas as especulações sobre a natureza humana e o caráter do mundo impressionante em que vivemos que decorrem com naturalidade desse tipo de conversa. Enquanto essas coisas eram ditas, porém, tomei-me vergonhosamente consciente de uma corrente que ganhava força sozinha e levava as coisas adiante, destinadas a um término próprio. Alguém poderia estar falando da Espanha ou de Portugal, ou de livros ou de corrida de cavalos, mas o interesse verdadeiro do que quer que tivesse sido dito não era nenhuma dessas coisas, mas a cena dos pedreiros no alto do teto e se colocava ao lado de outra, com vacas magras e um mercado lamacento e verduras murchas e o coração viscoso dos velhos — essas duas cenas, por mais desconjuntadas, desconexas e carentes de sentido que fossem, voltavam sempre à minha mente e enfrentavam-se entre si, deixando-me por inteiro à sua mercê. O melhor caminho, a menos que a conversa inteira fosse deturpada, era deixar o que estava na minha cabeça sair e, com sorte, se enfraquecer e desmoronar como a cabeça do rei morto quando eles abriram o caixão em Windsor. Em poucas palavras, então, contei à senhorita Seton sobre os pedreiros que estiveram durante todos aqueles anos no teto da capela, e sobre os reis e as rainhas e os nobres que carregaram sacos de ouro e prata sobre os ombros e os enterraram; e como os grandes magnatas das finanças do nosso tempo vieram e depositaram cheques e títulos, suponho, enquanto outros assentaram lingotes e pepitas de ouro. Tudo isso jazia sob as faculdades, disse eu; mas e esta faculdade dentro da qual estávamos sentadas, o que jazia sob seus nobres tijolos vermelhos e os gramados selvagens e desleixados do jardim? Que força estaria por trás do conjunto de pratos lisos nos quais jantamos, e (escapou da minha boca antes que eu pudesse evitar) do bife, do creme inglês e das ameixas?
Bem, disse Mary Seton, no ano de 1860… oh, mas você conhece a história de cor, disse ela, entediada. E entoou: alugavam-se quartos. Reuniam-se comitês. Endereçavam-se envelopes. Distribuíam-se circulares. Ocorriam reuniões; liam-se cartas; fulano prometera um tanto; por outro lado, o senhor____________ não daria um tostão. O Saturday Review foi muito grosseiro. Como levantar fundos para pagar pelos gabinetes? Deveríamos organizar um bazar? Será que não encontraríamos uma garota bonita para se sentar na fileira da frente? Vamos ver o que John Stuart Mill disse sobre o assunto. Será que alguém consegue persuadir o editor de____________ a publicar a carta? Será que conseguimos convencer Lady____________ a assinar? Lady____________ está fora da cidade. Provavelmente era assim que se faziam as coisas sessenta anos atrás; era um esforço prodigioso, e gastava-se muito tempo nisso. E foi só depois de uma longa batalha e com a máxima dificuldade que conseguiram juntar trinta mil libras. Obviamente, não é possível ter vinho e perdizes e empregados carregando baixelas de alumínio na cabeça, ela disse. Não podemos ter sofás e quartos separados. “Os confortos”, afirmou ela, citando um livro ou outro, “terão que esperar.”
Com o pensamento em todas aquelas mulheres que trabalhavam ano após ano, lutando para juntar duas mil libras, e no tanto que precisariam fazer para juntar trinta mil libras, irrompemos em escárnio ante a pobreza repreensível do nosso sexo. O que nossas mães ficaram fazendo que não tiveram riqueza nenhuma para nos deixar? Retocando a maquiagem? Olhando vitrines? Tomando sol em Monte Carlo? Havia algumas fotografias sobre a lareira. A mãe de Mary — se é que era ela no retrato — pode ter sido preguiçosa e esbanjadora em seu tempo livre (ela teve treze filhos com um ministro da Igreja), mas, se isso for verdade, sua vida feliz e esbanjadora deixou pouquíssimos traços de deleite em seu rosto. Ela era uma figura sem ornatos, uma senhora com um xale xadrez preso por um grande camafeu, e estava sentada em uma poltrona de vime, encorajando um spaniel a olhar para a câmera, com a expressão divertida, ainda que preocupada, de alguém que tem certeza de que o cachorro vai se mexer no momento em que a lâmpada se acender. Agora, se ela tivesse montado um negócio próprio; se tivesse se tornado uma fabricante de seda artificial ou uma magnata na bolsa de valores; se tivesse deixado duzentas ou trezentas mil libras para Fernham, nós poderíamos estar sentadas à vontade nesta noite, e o assunto da conversa poderia ter sido arqueologia, botânica, antropologia, física, a natureza do átomo, matemática, astronomia, relatividade, geografia. Se ao menos a senhora Seton, sua mãe e sua avó tivessem aprendido a grande arte de ganhar dinheiro e tivessem destinado o seu dinheiro, como fizeram os pais e os avôs delas, a criar bolsas para pesquisas ou palestras e prêmios e bolsas de estudos específicas para o uso de seu próprio sexo, nós poderíamos ter jantado decentemente uma ave e uma garrafa de vinho aqui em cima; poderíamos esperar, com confiança desmedida, viver uma vida agradável e honrada sob a proteção de uma dessas profissões prodigamente rentáveis. Nós poderíamos estar explorando ou escrevendo; divagando sobre os lugares mais veneráveis da terra; em contemplação, sentadas nos degraus do Pártenon ou chegando a um escritório às dez e voltando à vontade para casa às quatro e meia para escrever um pouco de poesia. Mas, se a senhora Seton e seus pares tivessem ido trabalhar aos quinze anos, não haveria — esse era o centro da discussão — nenhuma Mary. O que Mary pensava sobre isso?, perguntei. Ali, entre as cortinas, estava a noite de outubro, calma e agradável, com uma ou duas estrelas em meio às árvores que amarelavam. Ela estaria pronta para renunciar ao seu quinhão e às suas memórias (eles tinham sido uma família feliz, apesar de numerosa) de brincadeiras e brigas na Escócia, lugar que ela não se cansa de elogiar pela pureza do ar e pela qualidade dos bolos, para que Fernham pudesse ter recebido mais ou menos cinquenta mil libras através do traço de uma caneta? Ora, ao apoio a uma faculdade é imprescindível a supressão completa das famílias. Fazer fortuna e criar treze filhos — ser humano algum seria capaz disso. Considerem-se os fatos, dissemos. Primeiro, há os nove meses antes de o bebê nascer. Então o bebê nasce. Depois há os três ou quatro meses usados para alimentar o bebê. Depois que o bebê é alimentado, há certamente mais cinco anos gastos em brincadeiras com ele. Não se pode, ao que parece, deixar as crianças correrem pelas ruas. Quem as viu correr sem rumo na Rússia disse que a visão não é agradável. As pessoas dizem também que a natureza humana se forma entre um e cinco anos de idade. Se a senhora Seton, disse eu, estivesse ganhando dinheiro, que tipo de lembranças de brincadeiras e brigas você teria? O que você saberia sobre a Escócia e seu ar puro, seus bolos e todo o resto? Mas é inútil se perguntar essas coisas porque, para começar, você nem existiria. Além disso, é igualmente inútil se perguntar o que teria acontecido se a senhora Seton, sua mãe e sua avó tivessem acumulado grande riqueza e a houvessem depositado nas fundações de uma faculdade e uma biblioteca, porque, em primeiro lugar, ganhar dinheiro era impossível para elas, e, em segundo, se isso tivesse sido possível, a lei lhes negaria o direito de possuir o dinheiro ganho. Foi só nos últimos quarenta e oito anos que a senhora Seton poderia ter tido um centavo seu. Durante os séculos anteriores, o dinheiro teria sido propriedade do marido dela — um pensamento que talvez tenha contribuído para manter a senhora Seton, sua mãe e sua avó afastadas da bolsa de valores. Todo centavo que eu ganhar, elas podem ter pensado, será tirado de mim e usado conforme a sabedoria do meu marido — talvez para fundar uma bolsa de estudos ou apoiar um programa de pesquisas em Balliol ou Kíngs —, por isso, ganhar dinheiro, ainda que eu o conseguisse, não é algo que me interesse muito. E melhor deixar isso para o meu marido.
De qualquer forma, se a culpa era ou não da senhora que olhava o spaniel, não havia dúvida de que, por uma ou outra razão, a mãe dela e a minha se descuidaram gravemente dos seus negócios. Nenhum centavo pôde ser gasto com “amenidades”; com perdizes e vinho, bedéis e gramados, livros e charutos, bibliotecas e lazer. Levantar paredes nuas a partir da terra nua era o máximo que poderiam ter feito.
Conversávamos em pé perto da janela, olhando, como outros milhares faziam toda noite, para os domos e as torres da famosa cidade a nossos pés. Era muito bonita, muito misteriosa sob o luar outonal. A velha pedra parecia muito branca e respeitável. Pensávamos em todos os livros que estavam reunidos lá embaixo; nas imagens de antigos prelados e outras personalidades penduradas nos aposentos revestidos de lambris; nos vitrais das janelas que estariam refletindo estranhos globos e meias-luas no chão; nas placas, nos memoriais e nas inscrições; nas fontes e nos gramados; nos cômodos silenciosos com vista para os pátios internos silenciosos. E (perdoem-me a reflexão) pensava também no fumo e na bebida admiráveis, nas poltronas confortáveis e nos tapetes agradáveis: na urbanização, na genialidade e na dignidade que são filhas do luxo, da privacidade e do espaço. Certamente a mãe dela e a minha não nos proveram de nada comparável a isso — nossas mães, que tinham dificuldade para juntar trinta mil libras, nossas mães, que pariam treze filhos de ministros religiosos em St. Andrews.
Então retornei à minha pousada, e enquanto caminhava pelas ruas escuras ponderei sobre uma coisa e outra, como se faz ao final de um dia de trabalho. Ponderei sobre a razão de a senhora Seton não ter tido dinheiro para nos legar; e sobre os efeitos que a pobreza tem na mente; e sobre os efeitos que a riqueza tem na mente; e pensei nos cavalheiros estranhos que vira naquela manhã, com estolas de pele sobre os ombros; e lembrei que se alguém soltasse um assovio, um deles corria; e pensei no órgão ribombando na capela e nas portas fechadas da biblioteca; e pensei em como é desagradável ficar presa do lado de fora; e pensei em como talvez seja pior ficar presa do lado de dentro; e, pensando na segurança e na prosperidade de um sexo, na pobreza e na desproteção do outro e nos efeitos da tradição e da falta de tradição sobre a mente de um escritor, pensei finalmente que era hora de dar o dia por encerrado, com suas discussões, suas impressões, sua raiva e seu riso. Milhares de estrelas brilhavam na vastidão azul do céu. Uma delas parecia solitária em uma sociedade inescrutável. Todos os seres humanos estavam deitados — de bruços, horizontais, mudos. Ninguém parecia se mexer nas ruas de Oxbridge. Mesmo a porta do hotel abriu-se por completo ao toque de uma mão invisível — nenhum empregado do hotel a postos para iluminar meu caminho para o quarto; era muito tarde.
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.