
Publicado em 1963, O jogo da amarelinha, de Julio Cortázar, é uma obra radical e inclassificável que revolucionou a literatura do século XX. Narrando a intensa e fragmentada relação entre Horacio Oliveira, um intelectual argentino no exílio, e a enigmática Maga, nas ruas de Paris, o livro rompe com a estrutura tradicional do romance. Em carta de 1959, Cortázar já previa que escrevia um “antirromance”, buscando libertar o gênero de seus moldes rígidos. A nova edição brasileira traz tradução de Eric Nepomuceno, projeto gráfico de Richard McGuire, textos críticos de Haroldo de Campos, Mario Vargas Llosa, Julio Ortega e Davi Arrigucci Jr., além de cartas do autor sobre a criação e o impacto da obra, reafirmando seu papel como marco inovador da literatura latino-americana.
Editora: Companhia das Letras; Edição: 1 (7 de junho de 2019); Páginas: 592 páginas; ISBN-10: 8535932186; ISBN-13: 978-8535932188; ASIN:
Clique na imagem para ler amostra
Leia trecho do livro
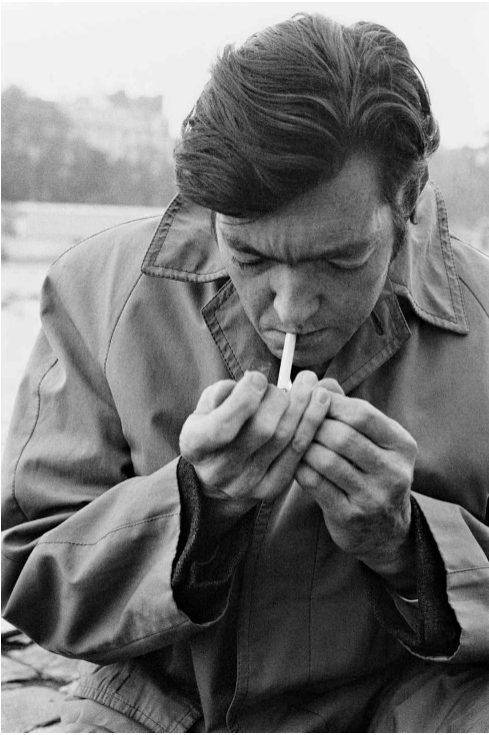
Tabuleiro de leitura
Este livro é, à sua maneira, muitos livros, mas é acima de tudo dois livros. O leitor está convidado a escolher uma das duas possibilidades seguintes:
O primeiro livro se deixa ler na forma comum e corrente, e termina no capítulo 56, ao pé do qual há três vistosas estrelinhas que equivalem à palavra “fim”. Com isso, o leitor dispensará, sem remorsos, o que vem depois.
O segundo livro se deixa ler começando pelo capítulo 73 e depois na ordem indicada ao pé de cada capítulo. Em caso de confusão ou esquecimento, basta consultar a seguinte lista:
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 — 75 — 76 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100 — 101 — 102 — 103 — 104 — 105 — 106 — 107 — 108 — 109 — 110 — 111 — 112 — 113 — 114 — 115 — 116 — 117 — 118 — 119 — 120 — 121 — 122 — 123 — 124 — 125 — 126 — 127 — 128 — 129 — 130 — 131 — 132 — 133 — 134 — 135 — 136 — 137 — 138 — 139 — 140 — 141 — 142 — 143 — 144 — 145 — 146 — 147 — 148 — 149 — 150 — 151 — 153 — 154 — 155
E animado pela esperança de ser particularmente útil à juventude e de contribuir para a reforma dos costumes em geral, formei a presente coleção de máximas, conselhos e preceitos, que são a base daquela moral universal que é tão adequada à felicidade espiritual e temporal de todos os homens de qualquer idade, estado e condição, e à prosperidade e à boa ordem, não apenas da república civil e cristã em que vivemos, mas de qualquer outra república ou governo sobre o qual os filósofos mais especulativos e profundos do orbe queiram discorrer.
Espírito da Bíblia e Moral Universal,
tirada do Velho e do Novo Testamento.
Escrita em toscano pelo abade Martini
com as citações ao pé da página;
Traduzida para o castelhano
por um Clérigo da Regra da Congregação
de São Caetano desta Corte.
Com licença.
Madri: Por Aznar, 1797.
Sempre que chega o tempo fresco, ou seja, no meio do outono, me dá a louca de pensar ideias de tipo essêntrico e ezótico, como por ezemplo que eu gostaria de virar andorinha para agarrar e voar aos paíz onde tem calor, ou de ser furmiga para me enfiar bem fundo num burcado e comer os produtos guardados no verão ou de ser uma víbura como as do zolójico, que estão bem guardadas numa gaiola de vidro com calefassão para que não fiquem duras de frio, que é o que acontece com os pobres seres umanos, que não têm com quê comprar roupa de tão cara que está, nem podem se aquecer por causa da falta de querosene, da falta de carvão, da falta de lenha, da falta de petróliu, e também da falta de dinheiro, porque quando a gente anda com bufunfa no bolso pode entrar em qualquer buteco e mandar ver uma boa cachassa que esquenta que só vendo, só que convem não abuzar, porque do abuzo sai o víciu e do víciu a dejenerassão tanto do corpo como das taras moral de cada um, e quando se despenca pela ladeira fatal da falta de boa conducta em todu sentido, ninguém nem ninguéns salva a gente de acabar na mais orrível lata de licho do desprestíjio umano, e nunca vão estender uma mão para tirar a gente do lodu imundu no meio do qual a gente xafurda, igualzinho como si a gente fosse uma águia que quando jovem sabia correr e voar pela ponta das altas montanha, mas que ao ser velha caiu prabaicho feito bombardeiru caindu de bicu quando falha o motor morau. E tomara que o que estou escrevendo sirva para alguem olhar bem seu comportamento e não searrepender depois qui é tarde e qui tudo já foi pro caralhu por culpa sua!
César Bruto, O que eu gostaria de ser se não fosse o que sou
(capítulo: “Cão de São Bernardu”)
DO LADO DE LÁ
Rien ne vous tue un homme comme d’être
obligé de représenter un pays.
Jacques Vaché, carta a André Breton
1.
Encontraria a Maga? Tantas vezes tinha bastado aparecer, vindo pela Rue de Seine, no arco que dá para o Quaí de Conti, e assim que a luz cinza e oliva que flutua sobre o rio me deixava distinguir as formas, sua silhueta delgada aparecia na Pont des Arts, às vezes andando de um lado para outro, às vezes debruçada na balaustrada de ferro, inclinada sobre a água. E era tão natural atravessar a rua, subir os degraus, entrar na cintura delgada da ponte e me aproximar da Maga, que sorria sem surpresa, convencida, como eu, de que um encontro casual era a coisa menos casual em nossas vidas, e que as pessoas que marcam encontros exatos são as mesmas que precisam de papel pautado para escrever ou que apertam de baixo para cima o tubo da pasta de dentes.
Mas agora ela não estaria na ponte. Seu fino rosto de pele translúcida surgiria em velhos portais no gueto do Marais, talvez estivesse conversando com uma vendedora de batatas fritas ou comendo salsicha no Boulevard de Sébastopol. Ainda assim, subi até a ponte, e a Maga não estava lá. Agora a Maga não estava em meu caminho, e embora um soubesse o endereço do outro, conhecesse cada recanto de nossos dois quartos de falsos estudantes em Paris, cada cartão-postal abrindo uma janelinha Braque ou Ghirlandaio ou Max Emst contra as molduras baratas e os papéis de parede extravagantes, ainda assim não nos procuraríamos em nossas casas. Preferíamos nos encontrar na ponte, na varanda de um café, num cineclube ou agachados ao lado de um gato num pátio qualquer do bairro latino. Andávamos sem nos procurar, mas sabendo que andávamos só para nos encontrar. Ó Maga, em cada mulher parecida com você se acumulava uma espécie de silêncio ensurdecedor, uma pausa cortante e cristalina que acabava por murchar tristemente, como um guarda-chuva molhado que se fecha. Isso mesmo: um guarda-chuva, Maga, você talvez se lembre daquele guarda-chuva velho que sacrificamos num barranco do Parc Montsouris, num entardecer gelado de março. Jogamos fora porque você o havia encontrado na Place de la Concorde, já meio mambembe, e usou muitíssimo esse guarda-chuva, principalmente para espetá-lo nas costelas das pessoas no metrô e nos ônibus, sempre avoada e distraída e pensando em pássaros coloridos ou no desenhinho que duas moscas faziam no teto do vagão, e aquela tarde caiu um aguaceiro e você quis abrir seu guarda-chuva toda orgulhosa quando entrávamos no parque, e em sua mão se armou uma catástrofe de relâmpagos frios e nuvens negras, tiras de tecido destroçado caindo entre lampejos de varetas desencaixadas, e ríamos feito loucos enquanto nos empapávamos, pensando que um guarda-chuva encontrado numa praça devia morrer dignamente num parque, não podia entrar no ciclo nada nobre da lata de lixo ou do meio-fio da sarjeta; então eu enrolei o guarda-chuva da melhor forma possível, e o levamos até o alto do parque, lá perto da pequena ponte sobre os trilhos do trem, e de lá atirei com todas as minhas forças o guarda-chuva até o fundo do barranco de capim molhado enquanto você soltava um grito em que tive a impressão de reconhecer vagamente uma maldição de valquíria. E no fundo do barranco ele afundou como um barco que sucumbe à água verde, à água verde e enfurecida, a la mer qui est plus félonesse en été qu’en hiver, à onda pérfida, Maga, segundo enumerações que detalhamos durante um tempão, apaixonados os dois por Joinville e pelo parque, abraçados e parecendo árvores molhadas ou atores de cinema de algum péssimo filme húngaro. E o guarda-chuva ficou lá no meio do capim, mínimo e negro, feito um inseto pisoteado. E não se movia, nenhuma de suas molas se esticava como antes. Finito. Acabou-se. Ó Maga, e não estávamos contentes.
O que eu tinha vindo fazer na Pont des Arts? Acho que naquela quinta-feira de dezembro eu havia pensado em atravessar para a margem direita do Sena e tomar vinho no pequeno café da Rue des Lombards onde madame Léonie examina a palma da minha mão e anuncia viagens e surpresas. Nunca levei você para madame Léonie ler a palma da sua mão, vai ver que tive medo que lesse na sua mão alguma verdade a meu respeito, porque você sempre foi um espelho terrível, uma tremenda máquina de repetições, e isso que chamamos nosso amor talvez tenha sido eu estar de pé na sua frente, com uma flor amarela na mão, e você segurando duas velas verdes, e o tempo soprava contra nossos rostos uma lenta chuva de renúncias e despedidas e bilhetes de metrô. Por isso nunca levei você até madame Léonie, Maga; e sei, porque você me disse, que você não gostava que eu visse você entrar na pequena livraria da Rue de Verneuil, onde um ancião angustiado escreve milhares de fichas e sabe tudo o que é possível saber sobre historiografia. Você ia até lá brincar com um gato, e o velho deixava você entrar e não fazia perguntas, contente porque de vez em quando você alcançava para ele algum livro nas estantes mais altas. E você se aquecia na estufa que tinha um grande cano negro e não gostava que eu soubesse que você ia se colocar ao lado daquela estufa. Mas tudo isso tinha de ser dito na hora certa, só que era dificil determinar o momento de uma coisa, e mesmo agora, debruçado na ponte, vendo passar uma barcaça cor de vinho, belíssima como uma grande barata reluzente de limpeza, com uma mulher de avental branco que pendura roupa num varal da proa, olhando as janelinhas pintadas de verde com cortinas Hansel e Gretel, mesmo agora, Maga, eu me perguntava se dar toda aquela volta fazia sentido, já que para chegar à Rue des Lombards teria sido melhor cruzar a Pont Saint Michel e a Pont au Change. Mas se você tivesse estado lá naquela noite, como em tantas outras vezes, eu teria sabido que dar aquela volta toda tinha um sentido, e agora, em vez disso, eu aviltava meu fracasso chamando-o de dar voltas. Era questão, depois de levantar a gola do meu blusão grosso, de ir em frente pelo cais até entrar naquela zona das grandes lojas que vai dar no Chatelet, passar debaixo da sombra violeta da Tour Saint Jacques e subir minha rua pensando que não tinha encontrado você e pensando em madame Léonie.
Sei que um dia cheguei a Paris, sei que passei um tempo morando de favor, fazendo o que os outros fazem e vendo o que os outros veem. Sei que você saía de um café da Rue du Cherche-Midi e que nos falamos. Naquela tarde tudo deu errado, porque meus hábitos argentinos me proibiam de atravessar continuamente de uma calçada para outra para olhar as coisas mais insignificantes nas vitrines mal iluminadas de umas ruas das quais já não me lembro. Então eu seguia você de má vontade, achando você petulante e malcriada, até que você se cansou de não estar cansada e nos enfiamos num café do Boul’Mich e de repente, entre dois croissants, você me contou um grande pedaço da sua vida.
Como eu poderia suspeitar que aquilo que parecia tão mentira fosse verdade, um Figari com violetas de anoitecer, com rostos lívidos, com fome e pancadas nos cantos? Mais tarde acreditei em você, mais tarde houve motivos, houve madame Léonie, que olhando minha mão que tinha adormecido em seus seios me repetiu quase as suas mesmas palavras. “Ela sofre em algum lugar. Sempre sofreu. É muito alegre, adora amarelo, seu pássaro é o melro, sua hora é a noite, sua ponte a Pont des Arts.” (Uma barcaça cor de vinho, Maga, e por que não fomos embora nela enquanto ainda havia tempo?)
E veja só, mal nos conhecíamos e a vida já urdia o necessário para desencontrar-nos minuciosamente. Como você não sabia disfarçar, percebi em seguida que para ver você como eu queria era necessário começar por fechar os olhos, e então primeiro apareciam coisas como estrelas amarelas (movendo-se numa geleia de veludo), depois saltos rubros de humor e das horas, ingresso paulatino no mundo-Maga, que era a falta de jeito e a confusão mas também samambaias com a assinatura da aranha Klee, o circo Miró, os espelhos cor de cinza Vieira da Silva, um mundo onde você se movia como um cavalo de xadrez que se movesse como uma torre que se movesse como um peão. E então naqueles dias íamos aos cineclubes ver filmes mudos, porque eu, com a minha cultura, não é mesmo?, e você, coitadinha, não entendia absolutamente nada daquela estridência amarela convulsa anterior ao seu nascimento, aquela emulsão estriada onde corriam os mortos; mas de repente Harold Lloyd passava por ali e então você sacudia a água do sono e no fim se convencia de que tudo tinha sido ótimo, e que Pabst, e que Fritz Lang. Você me exauria um pouco com sua mania de perfeição, com seus sapatos rotos, com sua recusa a aceitar o aceitável. Comíamos hambúrgueres no Carrefour de l’Odéon, e íamos de bicicleta até Montparnasse, até qualquer hotel, até qualquer travesseiro. Mas outras vezes íamos em frente até a Porte d’Orléans, conhecíamos cada vez melhor a zona de terrenos baldios que fica para lá do Boulevard Jourdan, onde às vezes à meia-noite o pessoal do Clube da Serpente se reunia para falar com um vidente cego, paradoxo estimulante. Deixávamos as bicicletas na rua e entrávamos pouco a pouco, parando para olhar o céu, porque essa é uma das poucas zonas de Paris onde o céu vale mais do que a terra. Sentados num monte de lixo fumávamos um tempinho, e a Maga acariciava meus cabelos ou cantarolava melodias que nem tinham sido inventadas, melopeias absurdas entrecortadas de suspiros ou recordações. Eu aproveitava para pensar em coisas inúteis, método que tinha começado a praticar anos antes num hospital e que cada vez me parecia mais fecundo e necessário. Com um esforço enorme, reunindo imagens auxiliares, pensando em cheiros e rostos, conseguia extrair do nada um par de sapatos marrons que tinha usado em Olavarría em 1940. Tinha saltos de borracha, solas muito finas, e quando chovia a água me entrava até a alma. Com esse par de sapatos nas mãos da memória, o resto vinha sozinho: o rosto de dona Manuela, por exemplo, ou o poeta Ernesto Morroni. Mas eu rejeitava isso, porque a brincadeira consistia em recuperar apenas o que fosse insignificante, o inostentoso, o perecido. Tremendo por não conseguir me lembrar, atacado pela traça que sugere a prorrogação, imbecil à força de beijar o tempo, eu terminava vendo ao lado dos sapatos uma latinha de Chá Sol que minha mãe tinha me dado em Buenos Aires. E a colherinha para o chá, a colher-ratoeira onde os ratinhos negros queimavam vivos na xícara de água lançando borbulhas gemedoras. Convencido de que as recordações guardam tudo e não apenas as Albertinas e as grandes efemérides do coração e dos rins, eu me obstinava em reconstruir o conteúdo da minha mesa de trabalho em Floresta, o rosto de uma moça irrecordável chamada Gekrepten, o número de canetas-tinteiro em meu estojo do quinto ano, e acabava tremendo tanto e me desesperando (porque nunca consegui me lembrar daquelas canetas, sei que estavam no estojo, num compartimento especial, mas não me lembro quantas eram nem posso dizer com precisão o momento exato em que devem ter sido duas ou seis), até que a Maga, me beijando e soprando a fumaça do cigarro e seu hálito quente na minha cara, me socorria e ríamos, e começávamos a andar de novo entre os montões de lixo à procura do pessoal do Clube. Àquela altura eu já tinha percebido que procurar era a minha sina, emblema dos que saem à noite sem propósito fixo, razão dos assassinos de bússolas. A Maga e eu falávamos de patafisica até cansar, porque com ela também acontecia (e nosso encontro era isso, e tantas coisas misteriosas como o fósforo) cair o tempo todo nas exceções, e ir parar em escaninhos que não eram os de todo mundo, e isso sem desprezar ninguém, sem achar que éramos Maldorores em liquidação nem Mehnoths privilegiadamente errantes. Não acho que o vaga-lume extraia maior orgulho do fato inegável de ser uma das maravilhas mais fenomenais deste circo, e no entanto basta supor que tenha alguma consciência para compreender que toda vez que relampagueia sua barriguinha o bicho de luz deve sentir uma espécie de cosquinha de privilégio. Da mesma maneira, a Maga se encantava com as confusões inverossímeis em que sempre andava metida por causa do fracasso das leis na sua vida. Era dessas pessoas que quebram pontes só de fazer a travessia, ou das que se lembram, chorando aos berros, de ter visto numa vitrine a fração da loteria que acaba de ganhar cinco milhões. Eu, de minha parte, já tinha me acostumado a que me acontecessem coisas modestamente excepcionais, e não achava assim tão horrível que, ao entrar num quarto escuro para pegar um disco, sentisse bulir na palma da mão o corpo vivo de uma centopeia gigante que escolhera o lombo da capa do disco para dormir. Isso, e encontrar grandes taturanas cinza ou verdes dentro de um maço de cigarros, ou ouvir o apito de uma locomotiva exatamente no momento e no tom necessários para se incorporar ex officio a uma passagem de uma sinfonia de Ludwig van, ou entrar numa pissotière da Rue de Médicis e ver um homem urinar aplicadamente até o momento em que, afastando-se de seu cubículo, se virava para mim e me mostrava, segurando na palma da mão, como se fosse um objeto litúrgico e precioso, um membro de dimensões e cores incríveis, e no mesmo instante perceber que esse homem era exatamente igual a outro (embora não fosse o outro) que vinte e quatro horas antes, na Sane de Géographie, havia dissertado sobre totens e tabus e havia mostrado ao público, segurando preciosamente na palma da mão, bastõezinhos de marfim, plumas de pássaro menura, essa ave de cauda infinita que é capaz de cantar imitando qualquer outro som, e moedas rituais, fósseis mágicos, estrelas-do-mar, peixes secos, fotografias de concubinas reais, oferendas de caçadores, enormes escaravelhos embalsamados que faziam tremer de assustada delícia as infalíveis senhoras da plateia.
Enfim, não é fácil falar da Maga, que a estas horas com certeza está andando por Belleville ou Pantin, olhando aplicadamente para o chão até encontrar um pedaço de alguma coisa vermelha. Se não encontrar, vai continuar assim a noite inteira, vai revirar as latas de lixo, os olhos vidrosos, convencida de que alguma coisa horrível vai acontecer se não encontrar essa prenda de resgate, o sinal do perdão ou do adiamento. Sei bem o que é isso porque também obedeço a esses sinais, há vezes em que também tenho de encontrar um pedaço de pano vermelho. Desde pequeno, assim que deixo alguma coisa cair no chão, tenho de apanhar, seja lá o que for, porque se não fizer isso vai acontecer alguma desgraça, não comigo mas com alguém que eu amo e cujo nome começa com a inicial do objeto que caiu. O pior é que nada é capaz de me deter quando deixo alguma coisa cair no chão, e não vale outra pessoa pegar o que deixei cair, porque o malefício aconteceria do mesmo jeito. Muitas vezes passei por louco por causa disso e na verdade eu talvez esteja louco quando faço isso, quando me precipito para apanhar um lápis ou um pedacinho de papel que resvalaram da minha mão, como na noite do torrão de açúcar no restaurante da Rue Scribe, um restaurante de bacanas com montões de executivos, putas com estolas de raposa prateada e casais bem organizados. Estávamos com Ronald e Etienne e deixei cair um torrão de açúcar que foi parar debaixo de uma mesa bem longe da nossa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a maneira como o torrão tinha se afastado, porque em geral os torrões de açúcar ficam plantados assim que tocam o chão, por razões paralelepípedas evidentes. Mas aquele se comportava como se fosse uma bola de naftalina, o que aumentou minha apreensão, e cheguei a achar que na verdade ele tinha sido arrancado da minha mão. Ronald, que me conhece, olhou para o lugar onde o torrão tinha ido parar e começou a rir. Isso me deu ainda mais medo, misturado com raiva. Um garçom se aproximou pensando que eu tinha deixado cair alguma coisa preciosa, uma Parker ou uma dentadura postiça, e na verdade a única coisa que ele conseguia fazer era me importunar, então sem pedir licença me joguei no chão e comecei a procurar o torrão entre os sapatos das pessoas que estavam cheias de curiosidade achando (e com razão) que se tratava de alguma coisa importante. Na mesa havia uma ruiva gorda, outra menos gorda mas igualmente putona, e dois executivos ou coisa parecida. A primeira coisa que fiz foi perceber que o torrão não estava à vista, apesar de eu ter visto como ele saltava até os sapatos (que se moviam inquietos como galinhas). Para piorar as coisas, o chão estava coberto por um tapete, e embora ele estivesse um nojo de tão usado, o torrão tinha se escondido entre os pelos e eu não conseguia encontrá-lo. O garçom se atirou no chão da outra ponta da mesa, e já éramos dois quadrúpedes nos movendo entre os sapatos-galinha que, lá em cima, começavam a cacarejar feito loucas. O garçom continuava convencido da Parker ou da moeda de ouro, e quando estávamos bem enfiados debaixo da mesa, numa espécie de grande intimidade e na penumbra, e ele me perguntou e eu respondi, fez uma cara que valia a pena aspergir com laquê, mas eu não estava com vontade de rir, o medo me dava uma chave dupla na boca do estômago e no fim me deu um verdadeiro desespero (o garçom tinha se levantado furioso) e comecei a agarrar os sapatos das mulheres para ver se o açúcar não estaria clandestino debaixo do arco da sola, e as galinhas cacarejavam, os galos executivos bicavam meu lombo, eu ouvia as gargalhadas de Ronald e de Etienne enquanto me movia de uma mesa para outra até encontrar o açúcar escondido atrás de um pé de cadeira ou de mesa segundo império. E todo mundo enfurecido, até eu, com o açúcar apertado na palma da mão e sentindo como ele se misturava ao suor da minha pele, como asquerosamente se desmanchava numa espécie de vingança pegajosa, esse tipo de episódio todos os dias.
2.
Aqui tinha sido primeiro como uma sangria, uma sova de uso interno, uma necessidade de sentir o estúpido passaporte de capa azul no bolso do paletó, a chave do hotel bem segura no prego do tabuleiro da portaria. O medo, a ignorância, o deslumbramento: isso se chama assim, isto se pede assim, agora aquela mulher vai sorrir, um pouquinho depois desta rua começa o Jardin des Plantes. Paris, um cartão-postal com um desenho de Klee ao lado de um espelho sujo. A Maga tinha aparecido uma tarde na Rue du Cherche-Midi, quando subia para o meu quarto da Rue de la Tombe Issoire levava sempre urna flor, um cartão de Klee ou de Miró, e quando não tinha dinheiro escolhia uma folha de carvalho no parque. Naquele tempo eu recolhia de madrugada arames e caixotes vazios pelas ruas e fabricava móbiles, perfis que giravam em cima das chaminés, máquinas inúteis que a Maga me ajudava a pintar. Não estávamos apaixonados, fazíamos amor com um virtuosismo desapegado e crítico, mas depois caíamos em silêncios terríveis e a espuma dos copos de cerveja ia ficando que nem estopa, ficava morna e se contraía enquanto nos olhávamos e sentíamos que aquilo era o tempo. A Maga acabava se levantando e dava voltas inúteis pelo quarto. Mais de uma vez vi como ela admirava seu corpo no espelho, pegava os seios com as mãos, como as estatuetas sírias, e passava os olhos pela pele numa carícia lenta. Não consegui nunca resistir ao desejo de chamá-la para meu lado, senti-la cair pouco a pouco em cima de mim, desdobrar-se outra vez depois de ter estado por um momento tão sozinha e tão apaixonada diante da eternidade do seu corpo.
Naquela época não falávamos muito de Rocamadour, o prazer era egoísta e nos encontrava gemendo e com sua fronte estreita, nos atava com suas mãos cheias de sal. Cheguei a aceitar a desordem da Maga como a condição natural de cada instante, passávamos da evocação de Rocamadour a um prato de macarrão requentado, misturando vinho e cerveja e limonada, descendo às carreiras para que a velha da esquina abrisse duas dúzias de ostras para nós, tocando no piano descascado de madame Noguet melodias de Schubert e prelúdios de Bach, ou tolerando Porgy and Bess com bifes na chapa e pepinos em conserva. A desordem em que vivíamos, ou seja, a ordem na qual um bidê vai se transformando por obra natural e paulatina em depósito de discos e arquivo da correspondência a ser respondida, me parecia uma disciplina necessária, embora eu não quisesse dizer isso para a Maga. Precisei de muito pouco tempo para compreender que com a Maga não se devia tratar da realidade em termos metódicos, o elogio da desordem a teria escandalizado tanto como a sua denúncia. Para ela não havia desordem, soube disso no mesmo momento em que descobri o conteúdo da sua bolsa (era num café da Rue Réaumur, chovia e começávamos a nos desejar), enquanto eu aceitava e até favorecia depois de ter identificado isso; dessas desvantagens estava feita minha relação com quase todo mundo, e quantas vezes, deitado numa cama que não era arrumada havia vários dias, ouvindo a Maga chorar porque no metrô um menino tinha feito com que ela se lembrasse de Rocamadour, ou vendo como ela se penteava depois de ter passado a tarde na frente do retrato de Leonor da Aquitânia e ter morrido de vontade de se parecer com ela, me ocorria, como uma espécie de arroto mental, que todo esse abecê da minha vida era uma penosa estupidez, porque não passava de simples movimento dialético, da escolha de uma inconduta em vez de uma conduta, de uma módica indecência em vez de uma decência gregária. A Maga se penteava, se despenteava, tomava a se pentear. Pensava em Rocamadour, cantava alguma coisa de Hugo Wolf (mal), me beijava, me perguntava pelo penteado, começava a desenhar num papelzinho amarelo, e tudo isso era indissoluvelmente ela, enquanto eu, ali, numa cama deliberadamente suja, bebendo uma cerveja deliberadamente morna, era sempre eu e minha vida, eu com minha vida diante da vida dos outros. Mas fosse como fosse, eu estava bastante orgulhoso de ser um vagabundo consciente e debaixo de luas e luas, e das incontáveis peripécias em que a Maga e Ronald e Rocamadour, e o Clube e as ruas e minhas enfermidades morais e outras piorreias, e Berthe Trépat e a fome às vezes e o velho Trouille que me tirava de apuros, debaixo de noites vomitadas de música e tabaco e vilezas miúdas e permutas de todo tipo, debaixo ou por cima de tudo isso não tinha querido fingir, como os boêmios da moda, que aquele caos portátil era uma ordem superior do espírito ou qualquer outra etiqueta igualmente podre, e tampouco tinha querido aceitar que bastava um mínimo de decência (decência, jovem!) para escapar de tanto algodão manchado. E assim eu tinha me encontrado com a Maga, que sem saber era minha testemunha e minha espiã, e a irritação por estar pensando em tudo isso e sabendo que como sempre me custava muito menos pensar do que ser, que no meu caso o ergo da frasezinha não era tão ergo nem coisa parecida, e com isso passeávamos pela margem esquerda, a Maga sem saber que era minha espiã e minha testemunha, admirando enormemente meus conhecimentos diversos e meu domínio da literatura e até do cool jazz, para ela mistérios enormíssimos. E por todas essas coisas eu me sentia antagonicamente próximo da Maga, gostávamos um do outro numa dialética de ímã e limalha, de ataque e defesa, de bola e parede. Suponho que a Maga tivesse ilusões a meu respeito, devia achar que eu estava curado de preconceitos ou que estava aderindo aos dela, sempre mais leves e poéticos. Em plena alegria precária, em plena falsa trégua, estendi a mão e toquei o novelo chamado Paris, sua matéria infinita enrolando-se em si mesma, o magma do ar e do que se desenhava na janela, nuvens e águas-furtadas; então não havia desordem, então o mundo continuava sendo uma coisa petrificada e estabelecida, um jogo de elementos girando em suas dobradiças, uma madeixa de ruas e árvores e nomes e meses. Não havia uma desordem que abrisse portas para o resgate, havia somente sujeira e miséria, copos com restos de cerveja, meias num canto, uma cama que cheirava a sexo e a cabelo, uma mulher que passava a mão fina e transparente pelas minhas coxas, retardando a carícia que me arrancaria por um instante daquela vigilância em pleno vazio. Tarde demais, sempre, porque embora fizéssemos amor tantas vezes, a felicidade tinha que ser outra coisa, talvez algo mais triste que aquela paz e aquele prazer, um ar de unicórnio ou ilha, uma queda interminável na imobilidade. A Maga não sabia que meus beijos eram como olhos que começavam a se abrir para além dela, e que eu andava meio alheio, debruçado sobre outra figura do mundo, piloto vertiginoso numa proa negra que cortava a água do tempo e a negava.
Naqueles dias de cinquenta e tantos comecei a me sentir encurralado entre a Maga e uma noção diferente do que deveria ter acontecido. Era idiotice se rebelar contra o mundo-Maga e o mundo-Rocamadour, quando tudo me dizia que assim que recobrasse a independência eu deixaria de me sentir livre. Hipócrita como poucos, me incomodava uma espionagem rente à minha pele, minhas pernas, minha maneira de gozar com a Maga, minhas tentativas de papagaio na gaiola lendo Kierkegaard através das grades, e creio que acima de tudo me incomodava que a Maga não tivesse consciência de ser minha testemunha e que, ao contrário, estivesse convencida da minha soberana autarquia; mas não, o que verdadeiramente me exasperava era saber que nunca tomaria a estar tão perto da minha liberdade como naqueles dias em que me sentia encurralado pelo mundo-Maga, e que a ansiedade por me libertar era uma admissão de derrota. Doía em mim reconhecer que a golpes sintéticos, fugacidades maniqueístas ou estúpidas dicotomias ressecadas eu não conseguia abrir caminho pelas escadarias da Gare de Montparnasse, aonde a Maga me arrastava para visitar Rocamadour. Por que não aceitar o que estava acontecendo sem pretender explicar o que estava acontecendo, sem determinar as noções de ordem e de desordem, de liberdade e Rocamadour, como quem distribui vasos de gerânios num quintal da Calle Cochabamba? Talvez fosse necessário cair no mais profundo da estupidez para encontrar o trinco da latrina ou a chave do Jardim das Oliveiras. No momento, me assombrava que a Maga tivesse sido capaz de assumir a fantasia a ponto de chamar o filho de Rocamadour. No Clube, tínhamos cansado de buscar motivos, e a Maga se limitava a dizer que o filho tinha o nome do pai, mas que, desaparecido o pai, tinha sido muito melhor chamá-lo Rocamadour e mandá-lo para o campo para que o criassem en nourrice. Às vezes a Maga passava semanas sem falar de Rocamadour, e isso coincidia sempre com suas esperanças de vir a ser cantora de lieder. Então Ronald vinha sentar-se ao piano com sua cabeçona vermelha de caubói, e a Maga vociferava Hugo Wolf com tal ferocidade que madame Noguet estremecia, enquanto, no quarto ao lado, enfieirava bolinhas de plástico para fazer colares que depois vendia numa banca do Boulevard de Sébastopol. Gostávamos bastante da Maga cantando Schumann, mas tudo dependia da lua e do que fôssemos fazer naquela noite, e também de Rocamadour, porque assim que a Maga se lembrava de Rocamadour o canto ia para o diabo, e Ronald, sozinho no piano, tinha todo o tempo do mundo para trabalhar suas ideias sobre o bebop ou matar-nos docemente à força do blues.
Não quero escrever sobre Rocamadour, pelo menos hoje não, eu precisaria tanto me aproximar melhor de mim mesmo, deixar de lado tudo o que me separa do centro. Acabo sempre aludindo ao centro sem a menor garantia de saber o que estou dizendo, acabo cedendo à armadilha fácil da geometria com a qual se pretende organizar nossa vida de ocidentais: Eixo, centro, razão de ser, Omphalos, nomes da nostalgia indo-europeia. Inclusive essa existência que às vezes procuro descrever, essa Paris onde me movo como uma folha seca, não seriam visíveis se por trás não latejasse a ansiedade axial, o reencontro com a raiz. Quantas palavras, quantas nomenclaturas para um mesmo desconcerto. Às vezes me convenço de que a estupidez se chama triângulo, e que oito vezes oito é a loucura ou um cachorro. Abraçado à Maga, essa concreção de nebulosa, penso que tem tanto sentido fazer um bonequinho de miolo de pão como escrever o romance que nunca escreverei ou defender com a vida as ideias que redimem os povos. O pêndulo cumpre seu vaivém instantâneo e mais uma vez me instalo nas categorias tranquilizadoras: bonequinho insignificante, romance transcendente, morte heroica. Coloco-os em fila, do menor para o maior: bonequinho, romance, heroísmo. Penso nas hierarquias de valores tão bem exploradas por Ortega, por Scheler: o estético, o ético, o religioso. O religioso, o estético, o ético. O ético, o religioso, o estético. O bonequinho, o romance. A morte, o bonequinho. A língua da Maga me faz cócegas. Rocamadour, a ética, o bonequinho, a Maga. A língua, as cócegas, a ética.
3.
O terceiro cigarro da insônia queimava na boca de Horácio Oliveira sentado na cama; uma ou duas vezes ele havia passado a mão de leve pelos cabelos da Maga, adormecida contra o corpo dele. Era a madrugada da segunda-feira, tinham deixado ir embora a tarde e a noite do domingo lendo, ouvindo discos, levantando-se ora um ora outro para esquentar café ou cevar o mate. No final de um quarteto de Haydn a Maga tinha adormecido e Oliveira, sem vontade de continuar escutando, arrancou o fio da tomada sem sair da cama; o disco continuou girando umas poucas vezes, já sem som algum a brotar do alto-falante. Não sabia por quê, mas aquela inércia estúpida o fizera pensar nos movimentos aparentemente inúteis de alguns insetos, de algumas crianças. Não conseguia dormir, fumava olhando a janela aberta, a água-furtada onde às vezes um violinista corcunda estudava até bem tarde. Não estava fazendo calor, mas o corpo da Maga esquentava sua perna e seu flanco direito; se afastou pouco a pouco, pensou que a noite ia ser longa.
Sentia-se muito bem, como acontecia sempre que a Maga e ele conseguiam chegar ao fim de um encontro sem brigar e sem se exasperar. Não dava a menor importância à carta do irmão, rotundo advogado de Rosário, que produzira quatro páginas de papel para correio aéreo sobre os deveres filiais e cidadãos malbaratados por Oliveira. A carta era uma verdadeira delícia e já tinha sido presa com durex na parede, para ser saboreada pelos amigos. A única coisa importante era a confirmação de uma remessa de dinheiro pelo câmbio negro, que seu irmão chamava delicadamente de “o intermediário”. Oliveira pensou que poderia comprar uns livros que andava querendo ler, e que daria três mil francos à Maga para que ela fizesse o que lhe desse na telha, provavelmente comprar um elefante de pelúcia de tamanho quase natural, para estupefação de Rocamadour. Pela manhã teria de ir encontrar o velho Trouille para pôr em dia a correspondência com a América Latina. Sair, fazer, pôr em dia, não eram coisas que ajudassem a dormir. Pôr em dia, que expressão. Fazer. Fazer alguma coisa, fazer o bem, fazer xixi, fazer tempo, a ação em todas as suas reviravoltas. Mas por trás de cada ação havia um protesto, porque todo fazer significava sair de para chegar a, ou mover alguma coisa para que estivesse aqui e não ali, ou entrar naquela casa em vez de entrar ou não entrar na casa ao lado, quer dizer que em todo ato havia a admissão de uma carência, de algo ainda não feito e que era possível fazer, o protesto tácito diante da continua evidência da falta, da perda, da pequeneza do presente. Acreditar que a ação podia preencher, ou que a soma das ações podia realmente ser o equivalente a uma vida digna desse nome, era uma ilusão de moralista. Melhor renunciar, porque a renúncia à ação era o protesto em si, e não sua máscara. Oliveira acendeu outro cigarro, e esse mínimo fazer obrigou-o a sorrir ironicamente e debochar de si mesmo no ato. Para ele, pouco importavam as análises superficiais, quase sempre viciadas pela distração e pelas armadilhas filológicas. De certo, só o peso na boca do estômago, a suspeita física de que alguma coisa ia mal, de que quase nunca tinha ido bem. Não chegava nem a ser um problema, a questão era ter se negado desde cedo às mentiras coletivas ou à solidão rancorosa de quem se dedica a estudar os isótopos radioativos ou a presidência de Bartolomé Mitre. Se havia alguma coisa que tinha escolhido desde jovem era não se defender por meio da rápida e ansiosa acumulação de uma “cultura”, truque por excelência da classe média argentina para tirar o corpo fora da realidade nacional e de qualquer outra, e achar-se a salvo do vazio que a rodeava. Talvez graças a essa espécie de preguiça sistemática, como a definia seu camarada Traveler, tinha se livrado de ingressar naquela ordem farisaica (na qual militavam muitos amigos seus, em geral de boa-fé, porque a coisa era possível, havia exemplos) que evitava chegar ao fundo dos problemas recorrendo a uma especialização de qualquer tipo, cujo exercício conferia ironicamente os mais altos desempenhos da argentinidade. Além disso achava enganoso e fácil misturar problemas históricos, como o fato de ser argentino ou esquimó, com problemas como o da ação ou da renúncia. Tinha vivido o suficiente para vislumbrar aquilo que, a um palmo do nariz das pessoas, quase sempre passa despercebido: o peso do sujeito na noção do objeto. A Maga era das poucas que não esqueciam jamais que a cara de um sujeito sempre influía no que ele achasse que era o comunismo ou a civilização creto-micênica, e que a forma de suas mãos estava presente naquilo que o dono delas pudesse sentir diante de Ghirlandaio ou Dostoiévski. Por isso Oliveira tendia a admitir que seu grupo sanguíneo, o fato de ter passado a infância cercado de tios majestosos, uns amores contrariados na adolescência e uma facilidade para a astenia podiam ser fatores de primeira ordem em sua cosmovisão. Era classe média, era portenho, era colégio nacional, e essas coisas não se ajeitam fácil, não. O problema era que, à força de temer a excessiva localização dos pontos de vista, havia acabado por pesar e até aceitar além da conta o sim e o não de tudo, a olhar para os pratos da balança a partir da posição do fiel. Em Paris tudo para ele era Buenos Aires, e vice-versa; no mais profundo do amor padecia e acatava a perda e o esquecimento. Atitude perniciosamente cômoda e até fácil, mais um pouco e virava um reflexo e uma técnica; a lucidez terrível do paralítico, a cegueira do atleta perfeitamente estúpido. Começa-se a andar pela vida com o passo pachorrento do filósofo e do clochard, resumindo cada vez mais os gestos vitais ao mero instinto de conservação, ao exercício de uma consciência mais atenta a não se deixar enganar que a apreender a verdade. Quietismo laico, ataraxia moderada, atenta desatenção. O importante, para Oliveira, era assistir sem esmorecer ao espetáculo dessa fragmentação Tupac-Amaru, não incorrer no pobre egocentrismo (criolicentrismo, suburcentrismo, cultucentrismo, folclocentrismo) que cotidianamente se proclamava a seu redor de todas as formas possíveis. Aos dez anos, numa tarde de tios e pontificantes homilias histórico-políticas à sombra de trepadeiras, manifestara timidamente sua primeira reação contra o tão hispano-ítalo-argentino “Estou te dizendo!”, acompanhado de um murro categórico que devia servir de ratificação iracunda. Glielo dico io! Eu estou te dizendo, caralho! Aquele eu, Oliveira tinha conseguido pensar, qual era o seu valor probatório? O eu dos adultos, que onisciência abrigava? Aos quinze anos tinha tomado conhecimento do “só sei que nada sei”; a cicuta concomitante havia parecido inevitável, não se desafia as pessoas dessa forma, é o que eu estou te dizendo. Mais tarde achou graça em comprovar como nas formas superiores de cultura o peso das autoridades e das influências, a confiança oferecida pelas boas leituras e pela inteligência, produziam também seu “estou te dizendo” finamente dissimulado, inclusive para quem o proferia: agora se sucediam os “eu sempre achei isso”, “se há uma coisa da qual eu tenho certeza”, “é evidente que”, quase nunca compensado por uma apreciação desapaixonada do ponto de vista oposto. Como se a espécie velasse no indivíduo para não deixá-lo avançar demais pelo caminho da tolerância, da dúvida inteligente, do vaivém sentimental. Num determinado ponto nascia o calo, a esclerose, a definição: negro ou branco, radical ou conservador, homossexual ou heterossexual, figurativo ou abstrato, San Lorenzo ou Boca Juniors, carne ou verdura, os negócios ou a poesia. E estava muito bem, porque a espécie não podia se fiar em tipos como Oliveira; a carta do irmão dele era exatamente a expressão desse repúdio.
“O ruim de tudo isso”, pensou, “é que desemboca inevitavelmente no animula vagula blandula. O que fazer? Com essa pergunta é que comecei a não dormir. Oblómov, cosa facciamo? As grandes vozes da história instam à ação: Hamlet, revenge! Nos vingamos, Hamlet, ou tranquilamente Chippendale e pantufas e um bom fogo? O sírio, afinal, no fim das contas elogiou Marta escandalosamente, como se sabe. Darás combate, Árjuna? Você não pode negar os valores, rei indeciso. A luta pela própria luta, viver perigosamente, pense em Mario o Epicurista, em Richard Hillary, em Kyo, em T. E. Lawrence… Felizes os que escolhem, os que aceitam ser escolhidos, os heróis formosos, os formosos santos, os escapistas perfeitos.”
Talvez. Por que não? Mas também podia ser que seu ponto de vista fosse o da raposa olhando as uvas. E também podia ser que tivesse razão, mas uma razão mesquinha e lamentável, uma razão de formiga contra cigarra. Se a lucidez desembocava na inação, com isso ela não se tornava suspeita, não encobria uma forma particularmente diabólica de cegueira? A estupidez do herói militar que vai pelos ares com o paiol, Cabral soldado heroico cobrindo-se de glória, talvez insinuassem uma supervisão, uma aproximação instantânea a algo absoluto, fora de toda consciência (não se pede isso a um sargento), diante do que a clarividência ordinária, a lucidez de gabinete, de três da manhã na cama e na metade de um cigarro, fossem menos eficazes que a de uma toupeira.
Falou disso tudo com a Maga, que tinha despertado e se enroscava contra ele, ronronando sonolenta. A Maga abriu os olhos, ficou pensando.
— Você não conseguiria — disse. — Você pensa demais antes de fazer qualquer coisa.
— Parto do princípio de que a reflexão deve preceder a ação, bobona.
— Você parte do princípio — disse a Maga. — Que complicado. Você é uma espécie de testemunha, é aquele que vai ao museu e olha os quadros. Quero dizer que os quadros estão lá e você no museu, perto e longe ao mesmo tempo. Eu sou um quadro. Rocamadour é um quadro. Etienne é um quadro, este quarto é um quadro. Você acha que está neste quarto mas não está. Você está olhando o quarto, mas não está no quarto.
— Essa moça deixaria são Tomás desnorteado — disse Oliveira.
— Por que são Tomás? — disse a Maga. — Aquele idiota que queria ver para crer?
— Sim, querida — disse Oliveira, pensando que no fundo a Maga tinha acertado o verdadeiro santo. Feliz dela, que podia crer sem ver, que estava fundida à duração, ao contínuo da vida. Feliz dela, que estava dentro do quarto, que tinha direito à cidade em tudo que tocava e convivia, peixe rio abaixo, folha na árvore, nuvem no céu, imagem no poema. Peixe, folha, nuvem, imagem: exatamente isso, a menos que…
