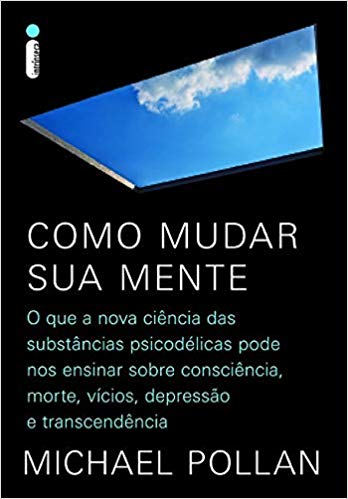
Michael Pollan relata como as drogas psicodélicas podem transformar vidas Nos anos 1940, quando o LSD foi descoberto, pesquisadores, cientistas e médicos acreditavam que a sociedade se preparava para uma iminente revolução no campo da psicologia. A substância alucinógena teria o potencial de revelar os mistérios do inconsciente, bem como oferecer avanços no tratamento de doenças mentais. Poucas décadas depois, o LSD se popularizou como droga recreativa, mas a intensa repressão ao movimento de contracultura fez com que as pesquisas com a substância fossem suspensas. Após se debruçar sobre a história social dos alimentos em suas obras anteriores, o jornalista Michael Pollan parte em busca de uma compreensão aprofundada da psique humana e de como as substâncias psicodélicas poderiam auxiliar tratamentos médicos. Como mudar sua mente conta a história do renascimento das pesquisas com esses compostos…
Editora: Intrínseca; 1ª edição (9 novembro 2018); Páginas: 480 páginas; ISBN-10: 8551004166; ISBN-13: 978-8551004166; ASIN: B07JJNQHBG
Clique na imagem para ler o livro
Leia trecho do livro
Para meu pai
A alma deveria ficar sempre entreaberta.
— EMILY DICKINSON
PRÓLOGO
Uma nova porta
EM MEADOS DO século XX, duas novas moléculas incomuns, compostos orgânicos com semelhança familiar impressionante, explodiam no Ocidente. Com o tempo, elas afetariam a historia social, política e cultura, bem como a história pessoal de milhões de indivíduos que as introduziram em seus cérebros. A chegada desses compostos químicos revolucionários coincidiu com outra explosão histórica — a da bomba atômica. Houve quem comparasse os dois eventos e desse grande importância cósmica. Novas extraordinárias energias teriam sido liberadas no mundo, as coisas jamais voltariam a ser as mesmas.
A primeira dessas moléculas foi uma invenção acidental da ciência. A dietilamida do acido lisérgico, conhecida como LSD, foi sintetizada pela primeira vez por Albert Hofmann em 1938, um pouco antes de os físicos conseguirem realizar a fissão de um átomo de urânio. Hofmann, que trabalhava para a farmacêutica suíça Sandoz, procurava uma droga que estimulasse a circulação, não um composto psicoativo. Somente cinco anos depois ao ingerir uma quantidade minúscula do novo composto, ele percebeu que havia criado algo potente, ao mesmo tempo terrível e maravilhoso.
A segunda molécula já estava em circulação há milhares de anos, embora ninguém no mundo desenvolvido a conhecesse. Produzida não por um químico, mas por um discreto cogumelo marrom, essa molécula, que viria a ser conhecida como psilocibina, já era usada há séculos por povos indígenas do México e da América Central em rituais religiosos. Chamado pelos astecas de teonanácatl, ou “carne dos deuses”, o cogumelo teve seu uso brutalmente reprimido pela Igreja Católica após a conquista espanhola e foi relegado à clandestinidade. Em 1955, passados doze anos da descoberta do LSD por Albert Hofmann, um banqueiro e micologista amador chamado R. Gordon Wasson experimentou o cogumelo na cidade de Huautla de Jyménez, no estado de Oaxaca, no sul do México. Dois anos depois, ele publicou um relato de quinze páginas sobre o “cogumelo que provoca estranhas visões”, na revista Life, marcando o momento em que a notícia de uma nova forma de consciência chegou ao grande público. (Em 1957 o LSD só era conhecido na comunidade de pesquisadores e profissionais de saúde mental.) As pessoas só iriam perceber a dimensão do que havia acontecido anos mais tarde, mas a história do Ocidente havia mudado.
É difícil superestimar o impacto dessas moléculas. O advento do LSD pode ser ligado à revolução na neurociência iniciada na década de 1950, quando os cientistas descobriram a função dos neurotransmissores no cérebro. O fato de quantidades de LSD medidas em microgramas serem capazes de produzir sintomas semelhantes a psicose inspirou os neurocientistas a procurar uma causa neuroquímica para transtornos mentais considerados inicialmente de origem psicológica. Ao mesmo tempo, as substâncias psicodélicas encontraram um lugar na psicoterapia e passaram a ser usadas no tratamento de diversas doenças, entre as quais o alcoolismo, a ansiedade e a depressão. Durante a maior parte da década de 1950 e o início da década 1960, muitas autoridades da psiquiatria consideravam o LSD e a psilocibina drogas milagrosas.
A chegada desses dois compostos também está ligada ao surgimento da contracultura na década de 1960 e, talvez em especial, a seu tom e estilo. Pela primeira vez na história, os jovens tinham um rito de passagem todo deles, a “viagem de ácido”. Em vez de servir como porta para que os jovens entrassem no mundo adulto, como os ritos de passagem sempre fizeram, esse os mandava para um local da mente que poucos adultos conheciam. O impacto, para dizer o mínimo, foi perturbador.
Contudo, fim dos anos 1960, as ondas de choque sociais e políticas liberadas por essas moléculas pareciam se dissipar. O lado negro das substâncias psicodélicas começou a receber enorme atenção pública –, bad trips, surtos psicóticos, flashbacks, suicídios –, e a partir de 1965 a exuberância em torno do uso dessas novas drogas foi substituída por pânico moral. Com a mesma velocidade com que havia aderido às substâncias psicodélicas, e establishment cultural e científico se voltava agora duramente contra elas. No fim da década, essas drogas — que eram legais na maioria dos lugares — foram banidas e relegadas à clandestinidade. Pelo menos uma das duas bombas do século XX parecia ter sido neutralizada.
Mas então algo inesperado e revelador aconteceu. No Início da década de 1990, bem longe da vista da maioria de nós, um pequeno grupo de cientistas, psicoterapeutas e os chamados psiconautas se convenceu de que algo precioso havi a sido abandonado pela ciência e pela cultura e resolveu recuperá-lo.
Hoje, depois de várias décadas de exclusão e negligência, as substâncias psicodélicas vivem um renascimento. Uma nova geração de cientistas, muitos deles inspirados por suas próprias experiências com compostos, estão testando seu potencial na cura de distúrbios mentais como depressão, ansiedade, trauma e vício. Outros cientistas usam essas substâncias em conjunto com novos exames de imagem para explorar a ligação entre o cérebro e mente e esperam desvendar alguns mistérios sobre a consciência.
Uma boa maneira de tentar entender um sistema complexo é perturbá-lo e ver o que acontece. Ao colidir átomos, o acelerador de partículas os força a revelar seus segredos. Ao administrar doses cuidadosamente controladas, os neurocientistas podem alterar profundamente a consciência desperta dos voluntários, diluindo as estruturas do “eu” e provocando o que pode ser descrito como uma experiência mística. Enquanto isso acontece, exames de imagem modernos registram as mudanças nas atividades do cérebro e nos padrões de conexão. Esse trabalho já está produzindo informações surpreendentes sobre os “correlatos neurais” da nossa autopercepção e da experiência espiritual. O velho clichê dos anos 1960 de que as substâncias psicodélicas eram a chave para compreensão — e expansão — da consciência não parece mais algo tão absurdo.
Como mudar sua mente é a história desse renascimento. Embora não tenha começado dessa forma, é uma história pública e ao mesmo tempo muito pessoal. Talvez isso fosse inevitável. Tudo que eu estava aprendendo sobre a experiência de outras pessoas com a pesquisa acerca de substâncias psicodélicas me fez querer explorar esse panorama da mente também em primeira mão — para ver qual a sensação causada pelas mudanças na consciência que essas moléculas provocam e se elas tinham algo a me ensinar sobre a minha mente e se poderiam contribuir para minha vida.
* * *
ESSA FOI, PARA mim, uma mudança inesperada no rumo dos acontecimentos. A história das substâncias psicodélicas que resumi aqui não é a história que vivi. Nasci em 1955, bem no meio da década em que essas drogas explodiram pela primeira vez nos Estados Unidos, mas a ideia de experimentar LSD só se apresentou a sério pela primeira vez quando comecei a me aproximar dos 60 anos. Isso pode parecer improvável para alguém nascido no pós-guerra, um descuido no cumprimento de um dever da minha geração. Mas eu tinha apenas 12 anos em 1967, portanto era jovem demais pata ter algo além de uma ligeira consciência do Verão do Amor ou dos Testes de Ácido de São Francisco. Aos 14 anos, a única forma que eu tinha de ir para Woodstock era se meus pais me levassem. Vivenciei a maior parte dos anos 1960 através das páginas da revista Time. Quando me deparei conscientemente com o dilema sobre experimentar ou não LSD, o composto já tinha percorrido seu ciclo midiático, passando de droga psicoativa milagrosa a sacramento da contracultura e finalmente a destruidora da mente dos jovens.
Eu devia estar no primeiro ano do ensino médio quando um cientista divulgou (erroneamente, no fim das contas) que o LSD causava alterações cromossômicas; toda a mídia, bem como meu professor de educação em saúde, fez questão de nos informar a respeito. Alguns anos depois, Art Linkletter, uma celebridade da TV, começou uma campanha contra o LSD, que ele acreditava ter feito sua filha pular da janela do apartamento e se matar. o LSD supostamente também tinha alguma ligação com assassinatos de Charles Manson. Quando, no início dos anos 1970, fui para universidade, tudo que ouvíamos sobre o LSD parecia ter a intenção de nos assustar. Para mim funcionou: sou mais filho do pânico moral que essas drogas causaram do que da cultura psicodélica dos anos 1960.
Também tive um motivo pessoal para me manter longe das substâncias psicodélicas: uma adolescente dolorosamente ansiosa que fez com que eu (pelo menos um psiquiatra) duvidasse da minha sanidade. Quando cheguei à universidade, estava me sentindo mais forte, nas arriscar minha saúde mental usando substâncias psicodélicas ainda parecia uma má ideia.
Tempos depois, já mais perto dos 30 anos e me sentindo mais estável, experimentei cogumelos mágicos duas ou três vezes. Um amigo tinha me dado um pote de vidro cheio de Psilocybe secos e retorcidos e em algumas ocasiões memoráveis minha parceira (hoje esposa), Judith, e eu engolimos dois ou três, suportamos uma breve sensação de náusea e então partimos para o quatro ou cinco horas interessantes juntos no que parecia uma versão levemente distorcida da realidade que conhecíamos.
Entusiastas das substâncias psicodélicas provavelmente classificaram o que vivenciamos como uma “experiência estética” de baixa dosagem, não como uma viagem plena de dissolução do ego. Certamente não deixamos o universo conhecido que nem vivenciamos o que chamam experiencia mística. Mas foi realmente interessante. O que lembro em especial foi o tom sobrenatural e intenso do verde do bosque e a sensação especial de maciez aveludada das samambaias. Fui tomado por uma vontade irresistível de estar ao ar livre, nu e mais longe possível de qualquer coisa feita de metal ou plástico. Como estávamos sós no campo, isso tudo foi possível. Não me lembro da viagem seguinte, no Riverside Park, em Manhattan, exceto que foi menos agradável e inconsciente que a primeira e que gastamos boa parte do tempo nos perguntando se as pessoas podiam perceber que estávamos drogados.
Na época eu não sabia, mas a diferença entre essas experiências com a mesma droga demostrava algo importante e especial a respeito dos compostos psicodélicos: o papel crítico do “cenário” e do “ambiente”. “Cenário” é a mentalidade ou a expectativa do usuário em relação à experiência e “ambiente” é o local onde acontece. Comparadas a outras drogas, as psicodélicas raramente afetam as pessoas da mesma forma duas vezes, porque tendem a amplificar o que está dentro e fora da mente do usuário.
Depois dessas duas viagens curtas, o pote de cogumelos ficou esquecidos no fundo da dispensa por anos, intocado. A ideia de gastar um dia inteiro com uma experiência psicodélica se tornara inconcebível. Estávamos trabalhando muito, construindo nossas carreiras, e a vasta quantidade de tempo livre propiciada pela rotina da universidade (ou do desemprego) era apenas uma lembrança distante. Agora havia uma nova droga, uma droga diferente e muito mais fácil de conciliar com a natureza da vida profissional de Manhattan: a cocaína. O pó branco fazia os cogumelos marrons e enrugados perecerem ridículos, imprevisíveis e trabalhosos demais. Um dia, ao limpar os armários da cozinha encontramos o pote e o jogamos fora junto com pacotes de comida e temperos estragados.
Hoje, passadas três décadas, eu queria não ter feito isso. Daria muita coisa para ter um pote inteiros de cogumelos mágicos agora. Comecei a me perguntar se talvez essas moléculas extraordinárias não seriam desperdiçadas com os jovens, se não teriam a nos oferecer posteriormente, depois que nossos hábitos mentais e rotineiros tivessem se sedimentado. Carl Jung escreveu certa vez que não são os jovens, mas pessoas de meia-idade, que precisam de uma “experiência com o sagrado” para ajudá-las a negociar a segunda metade de suas vidas.
Quando cheguei são e salvo aos 50 anos, a vida parecia transcorrer em transcorrer em trilhos confortáveis: um casamento feliz e duradouro junto com uma carreira igualmente longeva e gratificante. Como acontece com frequência, eu tinha desenvolvido uma série de algoritmos mentais confiáveis para enfrentar o que quer que a vida me apresentasse, fosse em casa ou no trabalho. O que faltava na minha vida? Nada que eu conseguisse identificar — isto é, até que eu tomei conhecimento de novas pesquisas relacionadas a compostos psicodélicos e comecei a me perguntar se havia negligenciado o potencial dessas moléculas não só para compreender, mas para quem sabe mudar a mente.
* * *
EIS OS TRÊS pontos que me fizeram ver que esse era o caso.
Na primavera de 2010, uma matéria de capa do New York Times anunciava que ” Alucinógenos voltam a atrair a atenção dos médicos”. O texto informava que pesquisadores estavam fornecendo grandes doses de psilocibina — o princípio ativo dos cogumelos mágicos — para pacientes terminais de câncer como forma de ajudá-los a lidar com a “angustia existencial” da proximidade da morte.
Esses experimentos, que estavam sendo conduzidos simultaneamente na Johns Hopkins, na Universidade da Califórnia e na Universidade de Nova York, pareciam não só improváveis como loucos. Se eu recebesse um diagnostico terminal, a última coisa que ia querer seria tomar uma droga psicodélica, abrir mão do controle da mente e nesse estado psicologicamente vulnerável olhar de frente para o abismo. Mas muitos dos voluntários relataram que em uma única experiencia guiada com substâncias psicodélicas foram capazes de reinterpretar o câncer e a perspectiva de morrer. Muitos afirmaram ter perdido totalmente o medo da morte. E a explicação para essa transformação era particularmente intrigante, mas também vaga. “Os indivíduos transcendem sua identificação primária com seus corpos e experimentam estados livres de ego”, declarou um dos pesquisadores conforme a reportagem. Eles “voltam com uma nova perspectiva e uma profunda aceitação”.
Mantive essa reportagem arquivada por um ano ou dois, até que um dia eu e Judith nos vimos em um jantar numa mansão em Berkeley Hills, sentados numa grande mesa com umas doze pessoas, quando uma mulher na outra ponta começou a falar sobre viagens com ácido. Ela parecia ter a minha idade e, como vim a saber, era psicóloga renomada. Eu estava no meio de outra conversa, mas assim que o som das letras L, S, D chegou a minha ponta da mesa não resisti, passei a ouvir e tentei entrar no assunto.
De início achei que ela estava desenterrando alguma velha história da época da faculdade. Mas não era isso. Logo ficou claro que a tal viagem de ácido tinha acontecido dias antes e fora, na realidade, uma das primeiras experiências dela. Todos na mesa arquearam as sobrancelhas. Ela e o marido um engenheiro de software aposentado, haviam descoberto que o uso ocasional de LSD era intelectualmente estimulante e valioso para o trabalho. Mas especificamente, a psicóloga sentiu que o LSD lhe propiciara uma compreensão melhor de como crianças pequenas veem o mundo. A percepção das crianças não é medida pelas expectativas e convenções baseadas em experiências passadas, como a dos adultos. Como adultos, explicou ela, o que fazemos não é simplesmente adsorver o mundo como ele é, mas criar suposições baseadas no bom senso. Confiar nessas suposições, que se baseiam no que já vivemos, pouca energia e tempo quando, por exemplo, tentamos adivinhar o que é um padrão de pontos verdes no campo de visão. (As folhas de uma arvore, provavelmente.) O LSD parece desabilitar esse modo de percepção convencional, que usa certos atalhos, e, ao fazer isso, restaura uma abordagem infantil e imediata e um senso de espanto na nossa experiência com a realidade, como se estivéssemos vendo tudo pela primeira vez. (Folhas!)
Interrompi para perguntar se ela tinha planos de escrever sobre essas ideias, o que deixou todos na mesa interessados. Ela riu e me olhou mo quem diz: santa ingenuidade! O LSD é uma substancia ilícita nível 1, o que significa que o governo a vê como substância controlada com risco de abuso e sem uso terapêutico autorizado. Seria imprudente para alguém como ela sugerir publicamente que os compostos psicodélicos podem contribuir com a filosofia e a psicologia — que podem ser uma ferramenta valiosa para explorar os mistérios da consciência humana. Pesquisas sérias com substâncias psicodélicas foram banidas das universidades há cinquenta anos, logo após o espetacular naufrágio do projeto Psilocibina de Timothy em Havard, em 1963. Nem mesmo Berkeley estava disposta a investir nisso novamente, pelo menos ainda não.
Terceiro ponto: a conversa no jantar reavivou uma vaga lembrança de que anos antes alguém me enviara um artigo científico sobre pesquisa com psilocibina. Como estava ocupado com outras coisas na época, nem abri, mas ao procurar por psilocibina encontrei o artigo na mesma hora, n apilha virtual de e-mails descartados no meu computador. O documento fora enviado a mim por um dos autores, um sujeito que eu não conhecia chamado Bob Jesse; talvez ele tivesse lido algo que escrevi sobre plantas psicoativas e achado que eu podia me interessar. O artigo, escrito pela mesma equipe da Hopkins que estava dando psilocibina para pacientes com câncer, fora publicado pouco tempo antes no período Psychopharmacology. Para uma pesquisa científica submetida ao crivo da comunidade científica, o texto tinha um título curioso: “Psilocibina pode ocasionar experiências místicas com significado pessoal permanente e valor espiritual”.
Esqueça o termo psilocibina; o que saltava aos olhos em uma publicação de farmacologia eram as palavras “místicas”, “espiritual” e “significado”. O título indicava uma transposição interessante das fronteiras das fronteiras das pesquisas, capaz de juntar duas palavras que nos acostumamos a ver como irreconciliáveis: ciência e espiritualidade.
Mergulhei no artigo de Hopkins, fascinado. Trinta voluntários que nunca haviam usado compostos psicodélicos receberam cápsulas que poderiam conter uma versão sintética da psilocibina ou um “placebo ativo” — metilfenidato, ou Ritalina — para fazer o paciente pensar que estava consumindo droga. Os voluntários deitavam num sofá com olhos cobertos e ouvindo música por meio de fones de ouvido acompanhados o tempo todo por dois terapeutas (a venda nos olhos e os fones de ouvido visavam incentivar uma viagem mais introspectiva). Depois de trinta minutos, coisas extraordinárias começaram a acontecer com a mente das pessoas que haviam recebido a pílula de psilocibina.
O estudo demonstrou que uma dose alta de psilocibina pode ser usada para “ocasionar” uma experiencia mística com segurança e de forma confiável — que é descrita como a dissolução do ego seguida pela sensação de se fundir a natureza pu ao universo. Isso talvez não seja surpresa para quem já experimentou compostos psicodélicos ou para os pesquisadores que os estudaram em 1950 e 1960. Mas não era óbvio para a ciência moderna, nem para mim em 2006, quando o artigo foi publicado.
O que é mais notável a respeito dos resultados descritos no texto é que os participantes do estudo indicaram a experiência com psilocibina como uma das mais significativas de suas vidas, comparável “ao nascimento do primeiro filho ou à morte de um dos pais”. Dois terços dos participantes classificaram a sessão como uma das cinco “experiências espirituais mais significativas” de suas vidas; um terço classificou-a como a experiência mais importante do gênero que haviam que haviam tido. Quatorze meses depois, essa classificação havia mudado apenas ligeiramente. Os voluntários relataram melhoras no “bem-estar, satisfação com a vida e mudanças de comportamento para melhor”, mudanças que foram confirmadas por membros da família e amigos.
Embora ninguém soubesse na época, o renascimento da pesquisa com substâncias psicodélicas começou a sério com a publicação daquele artigo. O texto levou à realização de uma série de experimentos — na Hopkins e em várias outras universidades — em que se utilizou a psilocibina para tratar diversos problemas, como câncer, vício em nicotina e álcool, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão e distúrbios alimentares. O que chama a atenção na linha de trabalho dessas pesquisas clínicas é a premissa de que não é no efeito da droga, mas no tipo de experiência mental que ela provoca — ao promover a dissolução temporária do ego –, que pode estar a chave para mudar a mente de alguém.
* * *
SEM MUITA CERTEZA de ter tido uma única experiência “espiritual significativa” sequer, que dirá em número suficiente para poder classificá-las em um ranking, descobri que o artigo de 20016 despertava a minha curiosidade, mas também reforçava meu ceticismo. Muitos voluntários diziam ter tido acesso a uma realidade alternativa, a uma outra dimensão onde as leis do mundo físico não se aplicavam e as diversas manifestações de consciência cósmica ou divindades lhe pareciam inegavelmente reais.
Isso me pareceu meio difícil de engolir (não seria apenas uma alucinação provocada pela droga?), mas ao mesmo tempo intrigante; parte de mim queria que aquilo fosse verdade, ainda que eu não soubesse dizer o que era “aquilo”. Fiquei um pouco surpreso, porque nunca me vi como uma pessoa espiritualizada, muito menos mística. Isso se deve, em parte, à minha visão de mundo, mas também à negligência: nunca dediquei muito tempo a explorar caminhos espirituais e não tive uma criação religiosa. Minha perspectiva padrão sempre foi a da filosofia materialista, que acredita que a matéria é a substancia fundamental do mundo e que as leis da física devem ser capazes de explicar todas as coisas. Parto do princípio de que a natureza é tudo que há e gravito em torno das explicações científicas para os fenômenos. Dito isso, também sou sensível às limitações da perspectiva científico-materialista e acredito que a natureza (inclusive a mente humana) ainda detém grandes mistérios que, às vezes, a ciência desdenha de forma arrogante e injustificável.
Seria possível que uma única experiência psicodélica — algo que se resume a tomar uma pílula ou ingerir um pedaço de papel — pudesse provocar um rompimento tão significativo numa visão de mundo desse tipo? Alterar a percepção de alguém a respeito da própria mortalidade? Mudar a mente de uma pessoa de forma duradoura?
A ideia tomou conta de mim. Era como se dar conta de uma porta para um lugar conhecido — a sua própria mente –, mas que você nunca havia percebido; e ouvir de pessoas em quem confia (cientistas!) que existe uma maneira totalmente diferente de pensar — de ser! — esperando do outro lado. Você só precisa girar a maçaneta e entrar. Quem não ficaria curioso? Eu podia nem estar procurando mudar a minha vida, mas a ideia de aprender algo sobre ela, de lançar um pouco de luz neste velho mundo, começou a tomar conta dos meus pensamentos. Talvez faltasse algo na minha vida, algo a que eu simplesmente não dera um nome.
Eu já sabia alguma coisa sobre essas portas, tendo escrito sobre plantas psicoativas no início da minha carreira. Em The Botany of Desire [A botânica do desejo], explorei o que descobri ser um desejo humano universal de mudar a consciência. Não existe nenhuma cultura no mundo (bem, na verdade há uma) que não faça uso de certas plantas para mudar o conteúdo da mente, seja como forma de cura, hábito ou prática espiritual. O fato de um desejo curioso e aparentemente inapropriado existir ao lado de nossos desejos por alimento, beleza e sexo — coisas que obviamente fazem muito mais sentido do ponto de vista evolutivo — exige uma explicação. A resposta mais simples é que essas substâncias ajudam a aliviar o tédio e a dor. No entanto, os fortes sentimentos e os tabus e rituais complexos que envolvem muitas dessas espécies psicoativas sugerem que deve haver algo mais.
No caso da nossa espécie, conforme aprendi, plantas e fungos com o poder de alterar de maneira radical a consciência foram por muito tempo amplamente usados como ferramentas para curar a mente, para facilitar ritos de passagem e para servir como meio de comunicação com esferas superiores ou com mundos espirituais. Essas práticas são antigas e respeitadas em muitas culturas, mas arrisco uma outra função delas: enriquecer a imaginação coletiva — a cultura — com novas ideias e visões que alguns poucos trazem ao voltar seja lá de onde for.
* * *
DEPOIS DE TER desenvolvido um apreço intelectual pelo potencial dessas substâncias psicoativas, seria de imaginar que eu estivesse ansioso por experimentá-las. Não sei o que eu estava esperando: coragem, talvez, ou a oportunidade certa, o que, com a atribulada rotina de alguém que vive a maior parte do tempo do lado certo da lei, nunca parece se apresentar. Mas, quando comecei a comparar os benefícios de que ouvia falar com os riscos, me surpreendi ao saber que os compostos psicodélicos parecem mais assustadores do que na verdade são. A maior parte dos perigos mais conhecidos são exagerados ou equivocados. É praticamente impossível morrer de uma overdose de LSD ou psilocibina, por exemplo, e nenhuma das duas drogas causa dependência. Animais de laboratório não procuram por uma segunda dose depois de experimentá-la uma vez, e o uso recorrente tende a reduzir seu efeito. É verdade que as experiências apavorantes vividas por algumas pessoas ao usar essas substâncias podem levar à psicose, e ninguém com histórico familiar ou predisposição a transtornos mentais deve experimentá-las. Mas é extremamente rara a ocorrência de atendimentos de emergência por uso de compostos psicodélicos, e em muitos casos o que os médicos diagnosticam como crise psicótica acaba sendo, na realidade, um breve ataque de pânico.
Também acontece de pessoas sob influência de substâncias psicodélicas ficarem suscetíveis a fazer coisas perigosas e estúpidas: andar nomeio dos carros, cair de lugares altos e, em raras ocasiões, se matar. “Bad trips” realmente acontecem e podem ser “uma das experiências mais difíceis da vida de alguém”, de acordo com uma grande pesquisa feita com usuários de compostos psicodélicos. Mas é importante distinguir o que pode acontecer quando o uso se dá em situações não controladas, sem atenção ao “”cenário” e ao “ambiente”, daquilo que acontece com supervisão clinica, apos seleção e análise cuidadosa do usuário. Desde que se retomou a pesquisa autorizada com substâncias psicodélicas no início dos anos 1990, quase mil voluntários receberam doses delas, e nenhum caso adverso sério foi registrado.
* * *
FOI NESSE MOMENTO que a ideia de “sacudir o globo de neve”, como um neurologista descreveu a experiência psicodélica, se tornou mais atraente que assustadora, apesar de o lado assustador continuar lá.
Após quase meio século de companheirismo mais ou menos constante, o “eu” da pessoa — essa voz no nosso ouvido que incessantemente comenta, interpreta, rotula e protege — se torna familiar demais. Não estou falando aqui de algo tão profundo quanto autoconhecimento. Não, estou falando como, com o passar do tempo, tendemos a otimizar e convencionar nossas reações àquilo que a vida nos apresenta. Cada um de nós cria atalhos para acomodar as experiências do cotidiano, processá-las e resolver problemas, e, embora isso sem dúvida seja uma vantagem adaptativa — nos ajuda a concluir tarefas como o mínimo de alarde –, no fim das contas se torna um hábito. É logo que nos entorpece. Nossos músculos da atenção se atrofiam.
Hábitos sem dúvida são ferramentas úteis, que nos permitem lidar com tarefas e situações novas sem a necessidade de passar toda vez por uma operação mental complexa. Contudo, também nos impedem de permanecer despertos para o mundo: para observar, sentir, pensar e então agir de forma deliberada. (Ou seja, com a liberdade, em vez de compulsão.) A melhor maneira de perceber como hábitos mentais nos cegam completamente é viajar para um pais desconhecido. De repente você está desperto! E é obrigado a refazer os algoritmos da rotina, como se tudo recomeçasse do zero. É por isso que o uso da metáfora da viagem para a experiência psicodélica é tão adequado.
A eficiência da mente adulta, por mais útil que seja, nos deixa cegos para o momento presente. Em grande medida, abordamos situações como um programa de inteligência artificial (IA), traduzindo os dados do presente com base em experiencias passadas, coltando no tempo para localizar situações relevantes e usando essas informações para prever e planejar o futuro.
Um dos motivos que tornam as viagens, a arte, a natureza, o trabalho e algumas drogas recomendáveis é a forma como essas experiências, em seus melhores momentos, bloqueiam cada caminho que nossa mente usa para avançar e recuar, nos forçando a uma imersão no presente que é literalmente cheia de maravilhas — e esse maravilhamento é uma consequência do tipo de visão livre e nova, ou olhar virgem, para o qual o cérebro adulto se fechou. (É tão ineficiente!) Para minha infelicidade, na maioria das vezes eu vivo em um futuro próximo; meu termostato psíquico está ajustado para uma temperatura morna de expectativa e, muitas vezes, preocupação. O lado bom disso é que quase nunca sou surpreendido. O lado ruim é que quase nunca sou surpreendido.
O que estou me esforçando para descrever aqui é o que acredito ser o meu modo padrão de consciência. Ele funciona bem e sem dúvida dá conta do recado, mas e se ele não for a única, nem necessariamente a melhor, forma de viver a vida? A premissa da pesquisa com compostos psicodélicos é que esse grupo especial de moléculas pode nos dar acesso a outras formas de consciência capazes de nos oferecer benefícios específicos, sejam terapêuticos, espirituais ou criativos. É certo que as substâncias psicodélicas não são a única porta para essas outras formas de consciência — exploro algumas alternativas farmacológicas nestas paginas –, mas elas de fato parecem ser uma das maçanetas mais fáceis de se segurar e girar.
A ideia de expandir nosso repertório de estados da consciência não é totalmente nova: o hinduísmo e o budismo estão impregnados dela, e há alguns precedentes intrigantes mesmo na ciência ocidental. William James, pioneiro da psicologia americana e autor de As variedades da experiência religiosa, explorou esses domínios há mais de um século. E retornou convicto de que a nossa consciência desperta cotidiana “é apenas um dos tipos de consciência, enquanto a seu redor, separadas dela pela a mais fina barreira, existem formas potenciais de consciência completamente diferentes”.
James está falando das portas ainda fechadas nas nossas mentes. Para ele, o “toque” que poderia escancarar a porta e revelar as esferas do outro era o óxido nitroso. (A mescalina, o composto psicodélico derivado do peiote, estava disponível para pesquisadores na época, mas James, ao que me parece, era medroso demais para testá-las.)
“Nenhum relato do universo em sua totalidade pode ser definitivo se deixar de considerar essas outras formas de consciência. De qualquer maneira”, conclui James, esses outros estados de consciência, cuja existência ele acreditava ser tão real quanto a tinta dessas destas páginas, “impedem a conclusão prematura de nossas descrições da realidade”.
Quando li essas frase pela primeira vez, percebi que James entendia o modo como eu pensava: sendo um materialista convicto, e um adulto de certa idade, eu já havia praticamente encerrado minhas tentativas de entender a realidade. Talvez isso tenha sido prematuro.
Bem, ali estava um convite para retomá-las.
* * *
SE A CONSCIÊNCIA DESPERTA cotidiana é apenas uma das várias possibilidades de edificar um mundo, então talvez exista valor em cultivar em maior grau o que passei a chamar de diversidade neural. Assim, Como mudar sua mente aborda um tema de uma sério de perspectivas diferentes, usando diversas formas narrativas: história social e científica, história natural, memória, jornalismo científico e estudos de caso de voluntários e pacientes. No meio desta viagem também apresento um relato da minha pesquisa pessoal (ou talvez seja melhor dizer busca), na forma de um registro mental de viagem.
Ao reconstruir a história da pesquisa com compostos psicodélicos no passado e no presente, não tento ser abrangente. A questão dessas substâncias, em termos tanto de ciência social, é um tema vasto demais para ser tratado em um único volume. Em vez de tentar apresentar aos leitores todo o elenco responsável pelo renascimento dos compostos psicodélicos, minha narrativa segue alguns poucos pioneiros que contribuem um uma linhagem cientifica particular, o que inevitavelmente fez com que a contribuição de outros recebesse pouca atenção. Além disso, a fim de manter coerência narrativa, concentrei meu trabalho em certas drogas em detrimento de outras. Assim por exemplo, há pouca coisa no livro sobre o MDMA (também conhecido como ecstasy), que aparentemente vem apresentando resultados promissores no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns pesquisadores incluem o MDMA entre os compostos psicodélicos, mas não a maioria, e segui a linha de trabalho destes últimos. O MDMA atua sobre caminhos diferentes no cerebro e tem uma história social diferente das substâncias chamadas psicodélicas clássicas. Dentre estas, me concentrei sobretudo nas que vem chamando maior atenção dos cientistas — psilocibina e LSD –, o que significa que outros compostos igualmente interessantes e poderosos, porém mais complicados de usar em laboratório — como a ayuhasca –, recebam menos atenção.
Um último alerta sobre a nomenclatura. A classe de moléculas à qual pertencem a psilocibina e o LSD (e a mescalina, o DMT e alguns outros) já recebeu diversos nomes desde que chamou nossa atenção. Inicialmente, esses compostos foram chamados de alucinógenos. Mas outras coisas (na realidade, alucinações plenas são bastante incomuns) que logo os pesquisadores passaram procurar termos mais precisos e descritivos, uma busca que conto em detalhes no Capítulo 3. O termo “psicodélicos”, que utilizo com frequência aqui, tem seu lado ruim. Adotado na década de 1960, ele carrega uma bagagem contracultural. Na esperança de fugir dessa associação e destacar a dimensão espiritual dessas drogas, alguns cientistas propuseram o uso de “enteógeno” — do grego– “manifestação do divino interior”. Isso me parece excessivamente empático. Não obstante o peso da década de 1960, o termo “psicodelia”, criado em 1965, é preciso do ponto de vista etimológico. Derivado do grego, ele significa apenas “manifestar a mente”, que é o que essas moléculas extraordinárias têm o poder de fazer.
* * *
CAPITULO UM
O renascimento
SE FOR POSSÍVEL determinar com precisão o início do renascimento moderno da pesquisa com substâncias psicodélicas, um bom candidato seria o ano de 2006. Não que isso fosse óbvio para muitas pessoas na época. Nenhuma aprovação de lei, regulamentação ou anúncio de descoberta marca essa mudança histórica. Mas três eventos sem nenhuma conexão entre si aconteceram nesse ano: o primeiro na Basileia, Suíça, o segundo em Washington, e o terceiro em Baltimore, Maryland — ouvidos mais sensíveis poderiam ter percebido o som do gelo começando a rachar.
O primeiro evento, que conecta passado e futuro, como urna espécie de articulação histórica, foi o centenário de nascimento de Albert Hofmann, o químico suíço que, em 1943, acidentalmente descobriu ter isolado (cinco anos antes) a molécula psicoativa que veio a ser conhecida como LSD. Foi uma comemoração de centenário pouco usual, uma vez que o homenageado estava presente na festa. Hofinann começou seu segundo século de vida em ótima forma física e mentalmente afiado, e foi capaz de participar de maneira ativa das celebrações, que incluíram uma festa de aniversário seguida por três dias de simpósio. A cerimônia de abertura enquanto Hofmann mergulha no que ele tem certeza de ser um estado irremediável de loucura.[5 ]Ele avisa a seu assistente de laboratório que precisa voltar para casa e, como o uso de veículos estava restrito por causa da guerra, consegue de alguma forma pedalar até sua residência e deitar enquanto o assistente chama o médico. (Hoje, entusiastas do ISD celebram o “Dia da Bicicleta” todos os anos no dia 19 de abril.) Hofmann conta que “objetos familiares e móveis pareciam ter assumido formas grotescas e assustadoras. Pareciam estar em movimento contínuo, como se movidos por uma inquietação interior”. Ele experimentou a desintegração do inundo externo e a dissolução do próprio ego. “Um demônio me invadiu, tomou posse de meu corpo, mente e alma. Pulei e gritei, tentando me libertar, até que me joguei no sofá e fiquei largado e imóvel.” Hofmann se convenceu de que iria ficar permanentemente insano ou então morrer. “Meu ego ficou suspenso em algum lugar do espaço e vi meu corpo inerte no sofá.[6] No entanto, quando o médico chegou e o examinou, descobriu que todos os sinais vitais — batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração estavam perfeitamente normais. A única indicação de que algo estranho estava acontecendo eram as pupilas, totalmente dilatadas.
Quando o efeito agudo passou, Hofmann sentiu o “brilho” que com frequência se segue a uma experiência psicodélica, o exato oposto de unia ressaca. Quando ele saiu no jardim de casa logo após urna chuva de primavera, “tudo brilhava e resplandecia sob uma nova luz. O mundo parecia ter acabado chamado ayahuasca, importasse a bebida para os Estados Unidos, embora esta contivesse uma substância controlada nível 1, a dimetiltriptamina, ou DmT.[10] A decisão foi baseada na Lei de Liberdade Religiosa de 1993, que ratificou o direito (protegido pela Primeira Emenda, na cláusula de liberdade religiosa) dos nativos americanos de usar o peiote em suas cerimônias, como vinham fazendo há gerações. A lei de 1993 estipula que o governo só pode interferir na prática religiosa de urna pessoa se tiver um “interesse convincente”. No caso da UDV, o governo Bush defendeu que apenas americanos nativos, por conta de seu “relacionamento único” com o Estado, tinham o direito de utilizar substâncias psicodélicas como parte do culto, e que mesmo no caso deles esse direito poderia ser limitado pelo Estado.
A Corte rejeitou enfaticamente o argumento do governo, afirmando que a lei de 1993 estipula que, a menos que haja um interesse convincente por parte do Estado, o governo federal não pode proibir um grupo religioso reconhecido de usar substâncias psicodélicas em seus rituais. E isso inclui, é claro, grupos novos e pequenos organizados especificamente em torno do sacramento psicodélico, ou “planta medicinal”, como os usuários da ayahuasca denominam o seu chá. A UDV é uma seita religiosa espírita e cristã fundada em 1961 no Brasil por José Gabriel da Costa, um seringueiro que decidiu criar a igreja após receber a ayahuasca de um xamã amazônico dois anos antes. A igreja diz ter 17 mil membros em seis países, mas na época da decisão contava com apenas 130 adeptos entre os americanos. (As iniciais UDV significam potencial de dependência. O establishment da pesquisa com drogas nos Estados Unidos indicara nas páginas de uma de suas mais importantes publicações que essas substâncias mereciam ser tratadas de forma bastante diferente e demonstrara, nas palavras de um comentarista, “que, quando usados de forma apropriada, esses compostos podem produzir efeitos notáveis e possivelmente benéficos que certamente merecem ser mais estudados”.[13]
A história de como esse artigo veio a existir lança uma luz interessante sobre o intenso relacionamento entre a ciência e aquele outro domínio da investigação humana de que a ciência historicamente desdenhou e com o qual não costuma querer se envolver: a espiritualidade. Isso porque, ao planejar o primeiro estudo moderno da psilocibina, Griffiths decidiu se concentrar não no potencial uso terapêutico da droga o caminho tomado por outros pesquisadores que esperavam reabilitar outras drogas banidas, como o MDMA -, mas nos efeitos espirituais da experiência nos chamados normais saudáveis. O que há de bom nisso?
Em um editorial que acompanhou o artigo de Griffiths, a psiquiatra da Universidade de Chicago e especialista em abuso de drogas Harriet de Wit tentou abordar essa tensão apontando que a busca por experiências que “nos libertem dos limites da percepção e do pensamento cotidianos em busca de verdades universais e iluminação” é um elemento permanente da nossa humanidade que “recebe pouca credibilidade no mundo científico”.[14] Chegou o momento, sugeria ela, de a ciência “reconhecer essas extraordinárias mistério da consciência e da existência” por meio da meditação se tornou mais atraente do que a ciência. Ele passou a se sentir isolado: “Ninguém próximo a mim tinha qualquer interesse em se fazer essas perguntas, que recaíam na categoria geral das coisas espirituais, e eu simplesmente não entendia as pessoas religiosas. Eis-me aqui, um professor titular, publicando sem parar, correndo para reuniões importantes e achando que eu era uma fraude.”
Ele começou a perder o interesse no trabalho de pesquisa que tinha dado forma a toda a sua vida adulta.
Eu poderia estudar um novo sedativo hipnótico, aprender algo novo sobre os receptores do cérebro, estar em outro comitê da FDA [Food and Drug Administration], ir a mais uma conferência, mas e daí? Eu estava mais curioso, em termos emocionais e intelectuais, quanto aos lugares a que esse novo caminho poderia levar. Minha pesquisa com drogas começou a parecer vazia. Eu estava trabalhando apenas mecanicamente, muito mais interessado em ir para casa no fim do dia para meditar.
A única forma que ele encontrou para se motivar a continuar escrevendo pedidos de subsídios era pensar nisso como um “projeto de serviço” para seus alunos da pós-graduação e pós-doutorado.
No caso da pesquisa com a cafeína, Griffiths conseguira usar a curiosidade sobre uma dimensão de sua própria experiência por que ele se sentia compelido a tomar café todo dia? e transformá-la numa linha de questionamento científico produtiva. Mas ele não conseguia ver nenhuma correios para líderes espirituais do mundo todo, sendo a droga reconhecida por sua capacidade de romper barreiras entre pessoas e promover a empatia. Por volta da mesma época, ele conseguiu organizar o envio de mil doses para membros do exército soviético responsáveis pelas negociações de controle de armas com o presidente Reagan.
Para Doblin, obter a aprovação da FDA para o uso medicinal dos compostos psicodélicos — o que ele acredita estar próximo de acontecer tanto para a psilocibina quanto para o MDMA – é uni meio para um fim ambicioso e bastante controverso: a incorporação dos psicodélicos na sociedade e na cultura americanas, não só na medicina. Essa, claro, é a mesma estratégia vitoriosa utilizada pela campanha a favor da descriminalização da maconha, na qual a promoção do uso medicinal acabou mudando a imagem da droga, levando a uma maior aceitação pública.
Não é surpresa que esse tipo de conversa incomode as mentes mais cautelosas na comunidade (entre elas Bob esse), mas Rick Doblin não é o tipo de pessoa capaz de tirar o pé do acelerador quando se trata de promover sua agenda nem de sequer pensar em conceder uma entrevista em off. Isso faz com que ele receba muita cobertura na imprensa, mas o quanto isso ajuda a causa é discutível. De todo modo, não há dúvida de que, sobretudo nos últimos anos, ele conseguiu fazer com que pesquisas importantes fossem aprovadas e financiadas, especialmente no caso do MDMA, que sempre foi o principal foco da Amep. A Amep patrocinou inúmeros testes clínicos de pequena escala que demonstraram o valor fazer alarde e sem reivindicar crédito.
Jesse foi trabalhar na Oracle e se mudou para a baía de São Francisco em 1990, tornando-se o funcionário número 8.766 — não um dos primeiros, mas cedo o bastante para adquirir uma quantia significativa de ações da empresa. Não demorou muito para que a Oracle mandasse seu próprio grupo para a Parada do Orgulho Gay de São Francisco, e, depois de uma suave pressão de Jesse junto à direção da empresa, a Oracle se tornou uma das primeiras companhias da Fortune 500 a oferecer benefícios para parceiros de mesmo sexo de seus funcionários.
A curiosidade de Jesse a respeito dos compostos psicodélicos foi despertada pela primeira vez durante uma aula sobre drogas ainda no ensino médio. Na aula, ele foi (corretamente) informado de que essa classe de drogas em particular não é nem física nem psicologicamente viciante; o professor prosseguiu descrevendo o efeito das drogas, inclusive as mudanças na consciência e percepção visual que Jesse achou intrigantes. “Eu podia perceber que havia mais coisas que eles não estavam nos contando”, lembra ele. “Então, fiz uma anotação mental.” Mas só muito mais tarde se sentiria pronto para verificar por conta própria o que os compostos psicodélicos causavam. Por quê? Ele respondeu na terceira pessoa: “Um jovem que não contou aos outros que é gay talvez tivesse medo do que poderia acontecer caso baixasse a guarda.”
Ainda na casa dos 20 anos, quando trabalhava na Bell Labs, Jesse passou a andar com um grupo de amigos em Baltimore que passam por experiências do tipo acabam se tornando religiosas, mudam o curso da história ou, na maior parte das vezes, suas próprias vidas. “Sem dúvida” é a chave.
Posso pensar em algumas explicações para esse fenômeno, nenhuma totalmente satisfatória. A mais simples e, no entanto, mais difícil de aceitar é que a experiência é simplesmente verdadeira: um estado alterado de consciência abriu a pessoa para uma verdade inacessível que o restante de nós, presos na nossa consciência rotineira e ordinária, não consegue ver. A ciência, porém, tem um problema com essa explicação, pois, qualquer que seja a percepção, não há como verificá-la da forma tradicional. Trata-se de um relato informal, na prática, e dessa forma não tem valor científico algum. A ciência tem pouco interesse em relatos individuais, chegando inclusive a ter pouca tolerância com eles; e nisso, curiosamente, é bastante semelhante a religiões organizadas, que também têm problemas em aceitar revelações feitas diretamente a indivíduos. Mas é importante destacar que há situações nas quais a ciência não tem escolha a não ser depender de relatos individuais — como no estudo da consciência subjetiva, que é inacessível a nossas ferramentas científicas e só pode ser descrita pela pessoa que a experimenta. Aqui a fenomenologia é o dado mais importante. No entanto, esse não é o caso quando estamos analisando verdades sobre o mundo fora das nossas cabeças.
O problema de se acreditar em experiências místicas é precisamente o fato de elas com frequência apagarem a distinção entre interno e externo, de maneira que a estudioso da religião comparada cuja mente se abriu para o potencial espiritual dos compostos psicodélicos quando, como palestrante no MIT em 1962, ele participou como voluntário do Experimento da Sexta-feira Santa, do qual saiu convencido de que uma experiência mística provocada pela droga em nada diferia das que eram originadas de outras maneiras.
Por meio desses “anciões” e de suas próprias leituras, Jesse começou a desenterrar o rico acervo de pesquisas da primeira onda de estudos com substâncias psicodélicas, em grande parte perdido para a ciência. Assim, descobriu que mais de mil artigos científicos sobre terapia com psicodélicos haviam sido publicados antes de 1965, e que essas pesquisas envolveram mais de 40 mil voluntários.[17] Desde a década de 1950 até o início dos anos 1970, os compostos psicodélicos tinham sido usados para tratar uma grande variedade de condições — incluindo alcoolismo, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade no fim da vida —, muitas vezes com resultados impressionantes. Mas poucos desses estudos tinham metodologia adequada aos padrões modernos, e alguns estavam comprometidos pelo entusiasmo dos pesquisadores.
Bob Jesse tinha um interesse ainda mais aguçado pelas primeiras pesquisas que se propuseram a explorar o potencial dos compostos psicodélicos para contribuir com o que ele chama, numa frase de efeito, “o melhoramento das pessoas saudáveis”. Estudos relacionados à criatividade artística e científica e espiritualidade haviam sido realizados com mas já havia ministrado oficinas no local anteriormente. Grof, que guiou milhares de sessões de LSD, certa vez previu que as substâncias psicodélicas “seriam para a psiquiatria o que o microscópio é para a biologia ou o telescópio para a astronomia. Essas ferramentas possibilitam o estudo de processos importantes que sob circunstâncias normais não estão disponíveis para observação”.[22] Centenas de pessoas foram a Esalen para olhar por esse microscópio, muitas vezes em oficinas ministradas por Grof para terapeutas que queriam incorporar compostos psicodélicos a suas práticas. Muitos, se não a maioria dos terapeutas e guias que hoje realizam esse trabalho clandestinamente, aprenderam as técnicas aos pés de Stan Grof no casarão de Esalen.
Ninguém sabe ao certo se esse trabalho continuou em Esalen depois que o LSD se tornou ilegal, mas isso não seria surpresa: o lugar fica no limite do continente, tão longe que parece fora do alcance das autoridades federais. Mas, pelo menos oficialmente, essas oficinas acabaram quando o I,SD se tornou ilegal. Grof começou a ensinar então algo chamado respiração holotrópica, uma técnica usada para induzir estados de consciência psicodélicos sem o uso de drogas, através de respirações profundas, rápidas e ritmadas, normalmente acompanhadas pelo som alto de tambores. O papel de Esalen na história dos compostos psicodélicos, no entanto, não acabou com a sua proibição. O instituto virou o lugar onde as pessoas que esperavam trazer essas moléculas de volta para a cultura, fosse como complemento na terapia ou corno meio de desenvolvimento espiritual, se encontravam também urna pesquisadora de drogas, descreveu o marido como uma pessoa com interesses particularmente amplos e profunda curiosidade.
“A mente aberta de Bob era quase urna falha”, contou ela, rindo. “Ele conversava com qualquer um.” Corno muitos na comunidade do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, Schuster tinha um bom entendimento de que os compostos psicodélicos não se ajustavam perfeitamente ao perfil de drogas com potencial de abuso; animais que tivessem escolha não administravam doses de substâncias psicodélicos em si mesmos mais de uma vez, e os psicodélicos clássicos apresentam pouca toxicidade. Perguntei a Johanson se Schuster alguma vez provou essas substâncias; Roland Griffiths havia me dito que achava isso possível. (“Bob era um músico de jazz”, contou ele, “então eu não ficaria surpreso de forma alguma”.) Mas Johanson me disse que não. “Ele era definitivamente curioso a respeito dessas substâncias”, explicou, “mas acho que também tinha muito medo. Éramos pessoas acostumadas a tomar martíni”. Perguntei se ele era um homem espiritual. “Não exatamente, embora eu acredite que teria gostado de ser.”
Jesse, sem saber o que Schuster iria achar da reunião, providenciou para que Jim Fadiman ficasse junto dele, orientando Fadiman, que era psicólogo, a analisá-lo. “Logo cedo no dia seguinte Jim veio até mim e disse: `Bob, missão cumprida. Você achou uma pessoa incrível.”
Schuster gostou muito do tempo que passou em Esalen, segundo Johanson. Ele participou de um círculo de tambores de Harvard. Embora tenha deixado o Centro-Oeste há mais de cinquenta anos, Richards mantém o jeito de falar do interior do Michigan, onde nasceu em 1940. Hoje, ostenta um cavanhaque grisalho, urna risada contagiante, e termina muitas de suas frases com um animado “né?”.
Richards, que tem formação em psicologia e teologia, teve sua primeira experiência psicodélica como estudante de teologia em Yale, em 1963. Ele estava fazendo um intercâmbio na Alemanha, na Universidade de Gittingen, e se viu atraído pelo Departamento de Psicologia, onde soube de um projeto de pesquisa com uma droga chamada psilocibina.
“Eu não tinha a menor ideia do que era esse projeto, mas dois amigos participaram e tiveram experiências interessantes.” Um deles, que perdera o pai na guerra, voltara à infância e se vira sentado no colo do pai. O outro teve alucinações com homens da SS marchando na rua. “Eu nunca havia tido uma alucinação decente”, contou ele, rindo, “e estava tentando aprofundar minha compreensão da infância. Naquela época, via a minha própria mente como um laboratório de psicologia, então decidi me voluntariar”.
“Isso foi antes de termos entendido a importância do ambiente e do cenário. Fui levado para urna sala no porão, recebi uma injeção e me deixaram sozinho.” Parecia a receita perfeita para uma bad trip, sem dúvida, mas Richards teve precisamente a experiência oposta.
Eu me senti imerso nessa imagem incrivelmente detalhada que parecia arquitetura islâmica, com escritos em árabe que fora dele. Richards explica usando a seguinte analogia: “Se você quisesse achar a loura do noticiário de ontem à noite, você não procuraria por ela no aparelho de televisão.” A televisão é, como a mente humana, necessária, mas não suficiente.
Depois de concluir seus estudos de pós-graduação no fim dos anos 1960, Richards foi trabalhar como assistente de pesquisa no Hospital Estadual de Spring Grove, na região de Baltimore, onde a mais improvável história contrafactual da pesquisa com compostos psicodélicos acontecia discretamente, longe do barulho e dos holofotes em torno de Timothy Leary. De fato, esse é um caso em que a força de Leary acabou alterando a percepção da história, levando muitos de nós a crer que não havia pesquisa séria com essas substâncias antes de Leary chegar a Harvard, e que as pesquisas sérias deixaram de acontecer depois que ele foi demitido. Mas até Bill Richards administrar psilocibina ao Último voluntário, em 1977, Spring Grove conduziu ativamente (e sem muita controvérsia) um programa ambicioso de pesquisa sobre compostos psicodélicos — em grande parte sob o patrocínio do Instituto Nacional de Saúde Mental — com esquizofrênicos, alcoólatras e outros viciados, pacientes com câncer e transtornos de ansiedade, religiosos e profissionais da saúde mental, além de pessoas com transtornos de personalidade severos. Centenas de pacientes e voluntários receberam terapia psicodélica em Spring Grove entre o início dos anos 1960 e meados dos 1970. Em muitos casos, os pesquisadores obtiveram resultados excelentes, em ameaçada pelos psicodélicos: a razão pela qual R. Gordon Wasson teve de redescobrir os cogumelos mágicos no México é que os espanhóis os haviam reprimido de forma bastante efetiva, por considerá-los instrumentos perigosos do paganismo.
“Isso revela algo importante sobre quanto as culturas relutam em se expor aos tipos de mudanças que esses compostos podem provocar”, ele me falou na primeira vez em que nos encontramos. “O grau de autoridade que resulta da experiência mística primária pode ser ameaçador para a estrutura hierárquica existente.”
* * *
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.
