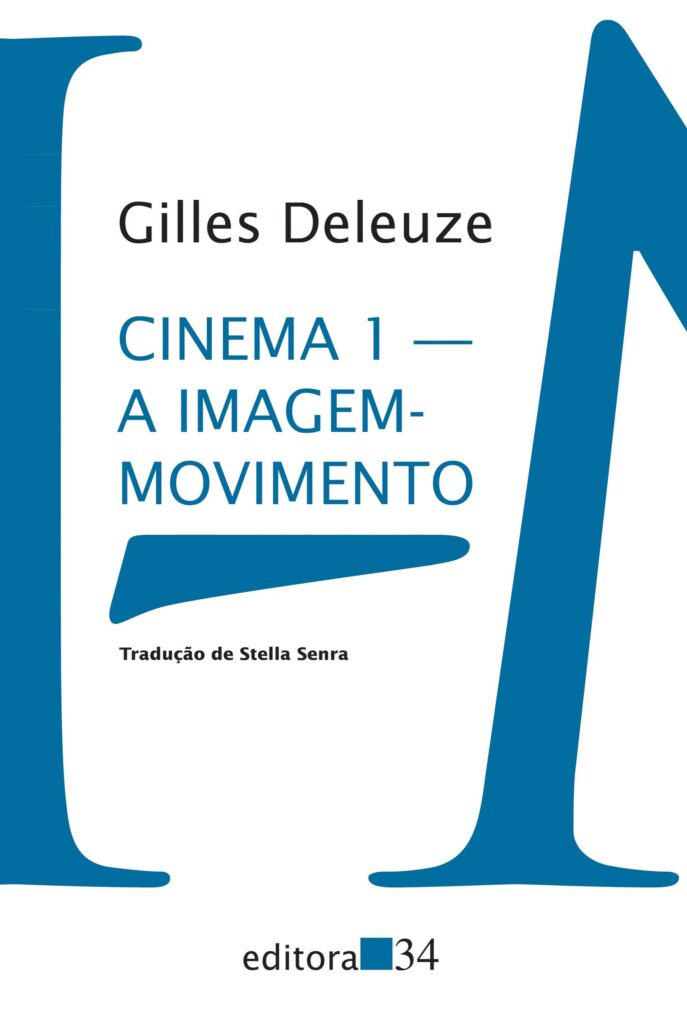
A filosofia francesa sempre deu contribuições notáveis para a reflexão estética. Se Merleau-Ponty modificou nossa visão da pintura de Cézanne, e Sartre nosso entendimento da literatura de Flaubert, Gilles Deleuze realiza nos dois volumes que dedicou ao cinema o mais impressionante esforço filosófico para a compreensão da arte por excelência do século XX. Em Cinema 1 ― A imagem-movimento, Deleuze cria novos conceitos a partir das ideias pioneiras de Bergson e da semiótica de Pierce. A argumentação, porém, nunca perde de vista o específico das escolas e dos estilos cinematográficos e, sobretudo, os filmes eles próprios. O arco de diretores é amplo e reúne gigantes como Chaplin, Eisenstein, Ford, Bergman e Hitchcock, passando por expoentes da vanguarda como Viértov e Michael Snow. Neste panorama, a erudição apaixonada de cinéfilo é potencializada por análises que…
Editora: Editora 34; 1ª edição (13 julho 2018); Páginas: 344 páginas; ISBN-10: 8573267100; ISBN-13: 978-8573267105
Leia trecho do livro
Agradeço a gentileza com que atenderam minhas consultas no decorrer deste trabalho: Ana Maria Mariano, Andreas Hauser, Arlindo Machado, Elisa Kossovitch, Elza Mine, Evando M. de Paula e Silva, Franklin Leopoldo e Silva, Inácio Araújo (que traduziu os títulos dos filmes citados ao longo do livro), Laymert Garcia dos Santos, Lígia Zogbe, Maria Lúcia Santaella Braga, Roberto Romano da Silva, Rodrigo Naves, Rubens Rodrigues Torres Filho, Vinícius Dantas.
ED. Helena e Tiago,
pelo carinho com que me ajudaram a revisar as provas.
Stella Senra
Prólogo
Este estudo não é uma história do cinema. É uma taxionomia, uma tentativa de classificação das imagens e dos signos. Mas este primeiro volume deve contentar-se em determinar os elementos, e apenas os elementos, de uma única parte da classificação.
Referimo-nos amiúde ao lógico americano Peirce (1839-1914), porque ele estabeleceu sem dúvida a mais completa e a mais variada classificação geral das imagens e dos signos. Trata-se de uma classificação como a de Lineu em história natural, ou, melhor ainda, como uma tabela de Mendeleiev em química. O cinema impõe novos pontos de vista sobre este problema.
Uma outra confrontação faz-se necessária. Em 1896 Bergson escrevia Matière et Mémoire: era o diagnóstico de uma crise da psicologia. Não se podia mais opor o movimento, como realidade física no mundo exterior, à imagem, como realidade física no mundo exterior, à imagem, como realidade psíquica na consciência. A descoberta bergsoniana de uma imagem-movimento, e, mais profundamente, de uma imagem-tempo, conserva ainda hoje tal riqueza que talvez dela não se tenham extraído todas as conseqüências. Apesar da crítica muito sumária que Bergson um pouco mais tarde fará do cinema, nada pode impedir a conjunção da imagemmovimento, tal como ele a concebe, com a imagem cinematográfica.
Nesta primeira parte tratamos da imagem-movimento e de suas variedades. A imagem-tempo será objeto de uma segunda parte. Os grandes autores de cinema nos pareceram confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Eles pensam com imagens-movimento e com imagenstempo, em vez de conceitos. A enorme proporção de nulidade na produção cinematográfica não constitui uma objeção: ela não é pior que em outros setores, embora tenha conseqüências econômicas e industriais incomparáveis. Os grandes autores de cinema são, assim, apenas mais vulneráveis; é infinitamente mais fácil impedi-los de realizar sua obra. A história do cinema é um vasto martirológio. O cinema não deixa, por isso, de fazer parte da história da arte e do pensamento, sob as formas autônomas insubstituíveis que esses autores foram capazes de inventar e, apesar de tudo, de fazer passar.
Não apresentamos nenhuma reprodução que viria ilustrar nosso texto, pois é nosso texto, ao contrário, que gostaria de ser apenas uma ilustração de grandes filmes de que cada um de nós guarda, em maior ou menor grau, a lembrança, a emoção ou a percepção.
Teses sobre o movimento Primeiro comentário de Bergson
1
Bergson não apresenta uma única tese sobre o movimento mas três. A primeira é a mais célebre, e corre o risco de nos esconder as outras duas. Ela não passa, no entanto, de uma introdução as outras. De acordo com esta primeira tese, o movimento não se confunde com o espaço percorrido. O espaço percorrido é passado, o movimento é presente, é o ato de percorrer. O espaço percorrido é divisível, e até infinitamente divisível, enquanto o movimento é indivisível, ou não se divide sem mudar de natureza a cada divisão. O que já supõe uma idéia mais complexa: os espaços percorridos pertencem todos a um único e mesmo espaço homogêneo, enquanto os movimentos são heterogêneos, irredutíveis entre si.
Mas, antes de se desenvolver, a primeira tese tem um outro enunciado: não se pode reconstituir o movimento através de posições no espaço ou de instantes no tempo, isto é, através de “cortes” imóveis… Essa reconstituição só pode ser feita acrescentando-se as posições ou aos instantes a idéia abstrata de uma sucessão, de um tempo mecânico, homogêneo, universal e decalcado do espaço, o mesmo para todos os movimentos. E então, de ambas as maneiras, perde-se o movimento. De um lado, por mais infinitamente que se tente aproximar dois instantes ou duas posições, o movimento se fará sempre no intervalo entre os dois, logo, às nossas costas. De outro, por mais que se tente dividir e subdividir o tempo, o movimento se fará sempre numa duração concreta; cada movimento terá, portanto, sua própria duração qualitativa. Opomos, por conseguinte, duas fórmulas irredutíveis: “movimento real duração concreta” e “cortes imóveis + tempo abstrato”.
Em 1907, em A Evolução Criadora, Bergson batiza a fórmula injusta: a ilusão cinematográfica. Com efeito, o cinema opera com dois dados complementares: cortes instantâneos, que chamamos imagens; um movimento ou um tempo impessoal, uniforme, abstrato, invisível ou imperceptível, que existe “no” aparelho e “com” o qual fazemos desfilarem as imagens.1 O cinema nos oferece então um movimento falso, ele é o exemplo típico do movimento falso. Mas é curioso que Bergson dê um título tão moderno e tão recente (“cinematográfico”) a mais antiga ilusão. Com efeito, diz Bergson, quando o cinema reconstitui o movimento por meio de cortes imóveis, ele não faz nada além do que já fazia o mais antigo pensamento (os paradoxos de Zenão), ou do que faz a percepção natural. A esse respeito Bergson se distingue da fenomenologia, para a qual o cinema antes romperia com as condições da percepção natural. “Temos visões quase instantâneas da realidade que passa, e como elas são características desta realidade, basta-nos alinhá-las ao longo de um devir abstrato, uniforme, invisível, situado no fundo do aparelho do conhecimento… Percepção, intelecção, linguagem procedem em geral assim. Quer se trata de pensar o devir, ou de o exprimir ou até de o percepcionar, o que fazemos é apenas acionar uma espécie de cinematógrafo interior.”(EC, pp. 298-299 (305).(N.T.)) Deve-se depreender daí que, segundo Bergson, o cinema seria somente a projeção, a reprodução de uma ilusão constante, universal? Como se tivéssemos sempre feito cinema sem saber? Mas então, muitos problemas se colocam.
E, de início, a reprodução da ilusão não é também, de certo modo, sua correção? A partir da artificialidade dos meios pode-se concluir a artificialidade do resultado? O cinema opera por meio de fotogramas, isto é, de cortes imóveis, vinte e quatro imagens/segundo (ou dezoito no início). Mas o que ele nos oferece, como foi muitas vezes constatado, não é o fotograma, mas uma imagem media a qual o movimento não se acrescenta, não se adiciona: ao contrário, o movimento pertence a imagem-média enquanto dado imediato. Objetar-se-á que o mesmo acontece no caso da percepção natural. Mas aí a ilusão é corrigida antes da percepção pelas condições que a tornam possível no sujeito. Enquanto no cinema ela é corrigida ao mesmo tempo que a imagem aparece, para um espectador fora de condições (a esse respeito, como veremos, a fenomenologia tem razão em supor uma diferença de natureza entre a percepção natural e a percepção cinematográfica). Em suma, o cinema oferece uma imagem a qual acrescentaria movimento, ele nos oferece imediatamente uma imagem-movimento. Oferece-nos um corte, mas um corte móvel e não um corte imóvel + movimento abstrato.
1 L’Évolution Créatrice, p. 753 (305). Citamos os textos de Bergson segundo a edição do Centenário; e entre parênteses indicamos a paginação da edição corrente de cada livro (PUF). (N. T.: quando se tratar de A Evolução Criadora, indicaremos, ao final da nota do autor, a página correspondente da edição brasileira. A Evolução Criadora, trad. Adolfo Casais Monteiro, estudo introdutório de Jean Guitton, Rio de Janeiro, Ed. Opera Mundi, 1971, p. 292. 0 cap. 2 do mesmo volume foi também traduzido por Nathanael Caxeiro, in Bergson, Col. “Os Pensadores”, Ed. Abril, 1984.)
Ora, o que é novamente curioso, é que Bergson tinha descoberto perfeitamente a existência dos cortes móveis ou das imagens-movimento. Isto se deu antes de A Evolução Criadora e antes do nascimento oficial do cinema, em Matière et Mémoire, em 1896. A descoberta da imagem-movimento, para além das condições da percepção natural, constituía a prodigiosa invenção do primeiro capítulo de Matière et Mémoire. Devemos acreditar que Bergson a havia esquecido dez anos depois?
Ou antes se deixava enredar por uma outra ilusão que atinge toda coisa em seus primórdios? Sabemos que as coisas e as pessoas são sempre forçadas, obrigadas a se esconder quando começam. E não poderia deixar de ser diferente. Elas surgem num conjunto que ainda não as comportava, e devem pôr em evidência os caracteres comuns que conservam com esse conjunto para não serem rejeitadas. A essência de uma coisa nunca aparece no princípio, mas no meio, no curso de seu desenvolvimento, quando suas forças se consolidaram. Isso Bergson sabia mais que qualquer outro, ele que havia transformado a filosofia ao colocar a questão do “novo” em vez da questão da eternidade (como a produção e a aparição de algo novo são possíveis?). Ele dizia, por exemplo, que a novidade da vida não podia aparecer em seus primórdios, porque no início a vida era forçada a imitar a matéria… Não é a mesma coisa para o cinema? Em seus primórdios o cinema não é forçado a imitar a percepção natural? E, melhor ainda, qual era a situação do cinema no princípio? De um lado, a câmera era fixa, o plano era, portanto, espacial e formalmente imóvel; de outro, o aparelho de filmagem era confundido com o aparelho de projeção, dotado de um tempo uniforme abstrato. A evolução do cinema, a conquista de sua própria essência ou novidade se fará pela montagem, pela câmera móvel e pela emancipação da filmagem, que se separa da projeção. O plano deixará então de ser uma categoria espacial, para tornar-se temporal; e o corte será um corte móvel e não mais imóvel. O cinema reencontrará exatamente a imagem-movimento do primeiro capítulo de Matière et Mémoire.
Devemos concluir que a primeira tese de Bergson sobre o movimento é mais complexa do que parecia inicialmente. Por um lado, há uma crítica contra todas as tentativas de reconstituir o movimento com o espaço percorrido, isto é, somando cortes imóveis instantâneos e tempo abstrato. Por outro lado, há a crítica do cinema, denunciado como uma dessas tentativas ilusórias, como a tentativa que faz culminar a ilusão. Mas há também a tese de Matière et Mémoire, os cortes móveis, os planos temporais, e que pressentia de modo profético o futuro ou a essência do cinema.
2
Ora, A Evolução Criadora apresenta justamente uma segunda tese que, em vez de reduzir tudo a uma mesma ilusão sobre o movimento, distingue pelo menos duas ilusões muito diferentes. O erro consiste sempre em reconstituir o movimento através de instantes ou posições, mas há duas maneiras de fazê-lo: a antiga e a moderna. Para a antiguidade, o movimento remete a elementos inteligíveis, Formas ou Idéias que são, elas próprias, eternas e imóveis. Evidentemente, para reconstituir o movimento, apreenderemos essas formas o mais próximo possível de sua atualização numa matéria fluente. São potencialidades que só se realizam ao se encarnarem na matéria. Mas, inversamente, o movimento limita-se a exprimir uma “dialética” das formas, uma síntese ideal que lhe confere ordem e medida. O movimento assim concebido será, portanto, a passagem regulada de uma forma a uma outra, isto é, uma ordem de poses ou de instantes privilegiados, como uma dança. “Supõe-se” que as formas ou idéias “caracterizam um período cuja quintessência exprimiriam, sendo todo o resto desse periodo preenchido pela passagem, em si mesma desprovida de interesse, de uma forma a uma outra forma… Isola-se o termo final, ou o ponto culminante (télos, acmé) que é considerado como momento essencial, e este momento, que a linguagem fixou para exprimir o conjunto do fato, basta também para a ciência o caracterizar” . 2
A revolução científica moderna consistiu em referir o movimento não mais a instantes privilegiados, mas ao instante qualquer. Mesmo que o movimento fosse recomposto, ele não era mais recomposto a partir de elementos formais transcendentes (poses), mas a partir de elementos materiais imanentes (cortes). Em vez de fazer uma síntese inteligível do movimento, empreendia-se uma análise sensível. Assim se constituíram a astronomia moderna, ao determinar uma relação entre uma órbita e o tempo de seu percurso (Kepler); a física moderna, ao vincular o espaço percorrido ao tempo da queda de um corpo (Galileu); a geometria moderna, ao destacar a equação de uma curva plana, isto é, a posição de um ponto numa reta móvel em um momento qualquer do seu trajeto (Descartes); enfim, o cálculo infinitesimal, a partir do momento em que se experimentou levar em conta cortes infinitamente aproximáveis (Newton e Leibniz).
2 EC, p. 774 (330); 320.
Em toda parte, a sucessão mecânica de instantes quaisquer substituía a ordem dialética das poses: “A ciência moderna deve se definir sobretudo pela sua aspiração de considerar o tempo uma variável independente”.3
O cinema parece realmente o último rebento desta linhagem destacada por Bergson. Poderíamos conceber uma série de meios de translação (trem, carro, avião…) e, paralelamente, uma série de meios de expressão (gráfico, foto, cinema): a câmera surgiria então como um transdutor, (* ) ou melhor, como um equivalente generalizado dos movimentos de translação. É assim que ela aparece nos filmes de Wenders. Quando nos indagamos sobre a pré-história do cinema somos as vezes levados a considerações confusas, porque não sabemos até onde remonta, nem como definir a linhagem tecnológica que o caracteriza. É sempre possível, então, invocar as sombras chinesas ou os mais arcaicos sistemas de projeção. Mas na verdade as condições determinantes do cinema são as seguintes: não apenas a foto, mas a foto instantânea (a fotografia posada pertence a uma outra linhagem); a eqüidistância dos instantâneos; a transferência dessa eqüidistância para um suporte que constitui o “filme” (Edison e Dickson perfuram a película); um mecanismo que puxa as imagens (as garras de Lumière). É neste sentido que o cinema é o sistema que reproduz o movimento em função do instante qualquer, isto é, em função de momentos eqüidistantes, escolhidos de modo a dar a impressão de continuidade. É estranho ao cinema qualquer outro sistema que porventura reproduza o movimento através de uma ordem de poses projetadas de modo a passarem umas através de outras, ou a “se transformarem”. É o que fica claro quando se tenta definir o desenho animado: se ele pertence inteiramente ao cinema é porque aqui o desenho não constitui mais uma pose ou uma figura acabada, mas a descrição de uma figura que está sempre sendo feita ou desfeita, através do movimento de linhas e de pontos tomados em momentos quaisquer do seu trajeto. O desenho animado remete a uma geometria cartesiana e não a uma geometria euclidiana. Ele não nos apresenta uma figura descrita num momento único, mas a continuidade do movimento que descreve a figura.
No entanto, o cinema parece se nutrir de instantes privilegiados. Costuma-se dizer que Eisenstein extrai dos movimentos ou das evoluções certos momentos de crise dos quais ele faz o objeto por excelência do cinema. É inclusive isto o que ele chamava de “patético”: ele seleciona ápices e gritos, leva as cenas ao seu paroxismo e as faz colidir uma com a outra. Mas não se
3 EC, p. 779 (335); 325.
* Transdutor: dispositivo que efetua a conversão de energia de urna forma à outra.(N.T.)
trata em absoluto de uma objeção. Voltemos à préhistória do cinema, e ao célebre exemplo do galope de cavalo: este só pode ser decomposto exatamente através dos registros gráficos de Marey e dos instantâneos equidistantes de Muybridge, que remetem o conjunto organizado da andadura a um ponto qualquer. Se escolhermos bem os equidistantes, cairemos forçosamente nos tempos marcantes, isto é, nos momentos em que o cavalo tem um pé no chão, depois, três, dois, três, um. Podemos chamá-los instantes privilegiados: mas não é, absolutamente, no sentido das poses ou das posturas gerais que caracterizavam o galope nas formas antigas. Tais instantes não têm mais nada a ver com as poses, e seriam até formalmente impossíveis como poses. Se são instantes privilegiados, é a título de pontos marcantes ou singulares que pertencem ao movimento, e não a título de momentos de atualização de uma forma transcendente. A noção mudou completamente de sentido. Os instantes privilegiados de Eisenstein ou de qualquer outro autor são ainda instantes quaisquer; simplesmente, o instante qualquer pode ser regular ou singular, ordinário ou marcante. O fato de Eisenstein selecionar instantes marcantes não impede que ele os extraia de uma análise imanente do movimento, de forma alguma de uma síntese transcendente. O instante marcante ou singular permanece um instante qualquer entre os outros. É inclusive esta a diferença entre a dialética moderna, que Eisenstein reivindica, e a dialética antiga. Esta é a ordem das formas transcendentes que se atualizam em um movimento, enquanto aquela é a produção e a confrontação dos pontos singulares imanentes ao movimento. Ora, esta produção de singularidades (o salto qualitativo) se dá por acumulação de ordinários (processo quantitativo), de modo tal que o singular é extraído do qualquer, é ele próprio um qualquer simplesmente não ordinário ou não-regular. O próprio Eisenstein precisava que o “patético” supunha “o orgânico” enquanto conjunto organizado dos instantes quaisquer por onde os cortes devem passar.4
O instante qualquer é o instante equidistante de um outro. Definimos assim o cinema como o sistema que reproduz o movimento reportando-o ao instante qualquer. Mas é aí que a dificuldade avulta. Qual o interesse de um tal sistema? Do ponto de vista da ciência, muito superficial. Pois a revolução científica era de análise. E se era necessário reportar o movimento ao instante qualquer para poder analisá-lo, não se percebia o interesse de uma síntese ou de uma reconstituição fundada no mesmo princípio, a não ser um vago interesse de confirmação. Esta é a razão pela qual nem
4 A propósito do orgânico e do patético, cf. Eisentein, La Non-Indifférente Nature, I, Coll. 10-18.
Marey nem Lumière confiavam muito na invenção do cinema. Teria ele pelo menos um interesse artístico? Aparentemente nem isso, pois a arte parecia preservar os direitos de uma síntese mais elevada do movimento, e continuar ligada as poses e formas que a ciência repudiara. Encontramo-nos no próprio coração da situação ambígua do cinema enquanto “arte industrial”: não era nem uma arte nem uma ciência.
Entretanto, os contemporâneos podiam ser sensíveis a uma evolução que carregava consigo as artes e mudava o estatuto do movimento, até na pintura. Com mais razão ainda, a dança, o balé, a mímica abandonavam as figuras e as poses para liberar valores não-posados, não pulsados, que reportavam o movimento ao instante qualquer. Por isso a dança, o balé e a mímica tornavam-se ações capazes de responder aos acidentes do meio, isto é, a repartição dos pontos de um espaço ou dos momentos de um acontecimento. Tudo isso conspirava com o cinema. A partir do sonoro, o cinema será capaz de fazer da comédia musical um de seus grandes gêneros, com a “dança-ação” de Fred Astaire, que evolui em um lugar qualquer, na rua, entre os carros, ao longo de uma calçada.5 Mas já no mudo, Chaplin arrancara a mímica da arte das poses, para transformá-la numa mímicaação. Aos que acusavam Carlitos de se servir do cinema e não de o servir, Mitry respondia que ele conferia a mímica um novo modelo, função do espaço e do tempo, continuidade construída a cada instante, que se deixava decompor apenas em seus elementos imanentes marcantes, em vez de se reportar a formas prévias a serem encarnadas.6
O cinema pertence inteiramente a essa concepção moderna do movimento — eis o que Bergson demonstra com eloqüência. Mas, a partir daí, ele parece hesitar entre dois caminhos, dos quais um o conduz a sua primeira tese e o outro abre, em contrapartida, uma nova questão. De acordo com o primeiro, as duas concepções podem ser muito diferentes do ponto de vista da ciência, sem deixarem de ser quase idênticas quanto a seu resultado. Na verdade, dá no mesmo recompor o movimento através de poses eternas ou de cortes imóveis: em ambos os casos perdese o movimento porque nos atribuímos um Todo, supomos que “o todo é dado”, enquanto o movimento só se faz se o todo não é dado nem pode vir a sê-lo. A partir do momento em que nos atribuímos o todo na ordem eterna das formas e das poses, ou no conjunto dos instantes quaisquer, ou o tempo é apenas a imagem da eternidade, ou é a conseqüência do conjunto; não há mais lugar para o movimento real.7 No entanto, um outro caminho parecia abrir-se para
5 Arthur Knight, Revue du Cinéma, n° 10.
6 Jean Mitry, Histoire du Cinéma Muet, III, Ed. Universitaires, pp. 49-51.
7 EC, p. 794 (353); 339.
Bergson. Pois se a concepção antiga corresponde efetivamente a filosofia antiga que se propõe a pensar o eterno, a concepção moderna, a ciência moderna, invocam uma outra filosofia. Quando reportamos o movimento a momentos quaisquer, devemos nos tornar capazes de pensar a produção do novo, isto é, do notável e do singular em qualquer um desses momentos: trata-se de uma conversão total da filosofia; e é o que Bergson se propõe finalmente fazer: dar a ciência moderna a metafísica que lhe corresponde e que lhe está faltando como uma metade falta à outra metade.8 Mas é possível se deter nesse caminho? É possível negar que as artes também tenham de fazer tal conversão? E que o cinema seja um fator essencial a esse respeito, e que ele tenha inclusive um papel no nascimento e na formação deste novo pensamento, deste novo modo de pensar? Eis que Bergson não se contenta mais em confirmar sua primeira tese sobre o movimento. Apesar de se deter em pleno curso, a segunda tese de Berson possibilita um outro ponto de vista sobre o cinema, que não seria mais o aparelho aperfeiçoado da mais velha ilusão, mas, ao contrário, o órgão da nova realidade a ser aperfeiçoado.
3
E chegamos à terceira tese de Bergson, sempre em A Evolução Criadora. Se tentássemos oferecer dela uma fórmula brutal diríamos: não só o instante é um corte imóvel do movimento, mas o movimento é um corte móvel da duração, isto é, do Todo ou de um todo. O que implica que o movimento exprime algo mais profundo que é a mudança na duração ou no todo. Que a duração seja mudança, faz parte da sua própria definição: ela muda e não pára de mudar. Por exemplo, a matéria se move mas não muda. Ora, o movimento exprime uma mudança na duração ou no todo. O que é problemático é, por um lado, esta expressão e, por outro, esta identificação todo-duração.
O movimento é uma translação no espaço. Ora, cada vez que há translação de partes no espaço há também mudança qualitativa num todo. Bergson fornecia múltiplos exemplos em Matière et Mémoire. Um animal se move mas não é a toa, é para comer, para migrar, etc. Dir-se-ia que o movimento supõe uma diferença de potencial e se propõe a preenchê-la. Se considero partes ou lugares abstratamente, A e B, não compreendo o movimento que vai de um a outro. Mas estou em A, faminto, e em B existe alimento. Quando atingi B e comi, o que mudou não foi apenas o meu estado,
8 EC, p. 786 (343); 331.
mas o estado do todo que compreendia B, A e tudo o que havia entre os dois. Quando Aquiles ultrapassa a tartaruga, o que muda é o estado do todo que compreendia a tartaruga, Aquiles e a distância entre os dois. O movimento remete sempre a uma mudança, migração, a uma variação sazonal. É a mesma coisa para os corpos: a queda de um corpo supõe um outro que o atrai e exprime uma mudança no todo que os compreende a ambos. Se pensarmos em átomos puros, seus movimentos que testemunham uma ação recíproca de todas as partes da matéria exprimem necessariamente modificações, perturbações, mudanças de energia no todo. Nosso erro está em acreditar que o que se move são elementos quaisquer exteriores as qualidades. Mas as próprias qualidades são puras vibrações que mudam ao mesmo tempo que os pretensos elementos se movem.9
Em A Evolução Criadora, Bergson dá um exemplo tão célebre que não conseguimos mais ver o que tem de surpreendente. Ele diz que, ao colocar açúcar num copo com água, “devo esperar que o açúcar se dissolva”.10 É curioso, apesar de tudo, pois Bergson parece esquecer que o movimento de uma colher pode apressar a dissolução. Mas o que pretende ele dizer em primeiro lugar? É que o próprio movimento de translação que desprende as partículas de açúcar e as coloca em suspensão na água exprime uma mudança no todo, isto é, no conteúdo do copo, uma passagem qualitativa da água onde há açúcar ao estado de água açucarada. Se eu agito com a colher, acelero o movimento, mas modifico também o todo que compreende agora a colher, e o movimento acelerado continua a exprimir a mudança no todo. “As deslocações meramente superficiais de massas e de moléculas e que a física e a química estudam” tornam-se, “em relação a este movimento vital que se produz em profundidade, que já não é translação mas transformação, aquilo que a imobilidade dum móvel é ao movimento deste móvel no espaço”.11 Em sua terceira tese, Bergson apresenta, portanto, a seguinte analogia:
cortes imóveis movimento como corte móvel
movimento mudança qualitativa
Com a única diferença que a relação da esquerda exprime uma ilusão, e a da direita uma realidade.
9 A propósito de todos esses pontos, cf. Matière et Mémoire, cap. 4, pp. 332-340 (220230).
10 EC, p. 502 (9-10); 48-49.
11 EC, p. 521 (32); 67.
O que Bergson pretende dizer, sobretudo com o copo de água açucarada, é que minha espera, seja ela qual for, exprime uma duração enquanto realidade mental, espiritual. Mas por que esta dura-cão espiritual testemunha não apenas para mim, que espero, mas para um todo que muda? Bergson dizia: o todo não é dado nem pode vir a sê-lo (e o erro da ciência moderna, como da ciência antiga, era de se atribuir o todo, de duas maneiras diferentes). Muitos filósofos já haviam dito que o todo não era dado nem passível de ser dado; a única conclusão que tiravam disto era que o todo era uma noção desprovida de sentido. A conclusão de Bergson é muito diferente: se o todo não é passível de ser dado é porque ele é o Aberto e porque lhe cabe mudar incessantemente ou fazer surgir algo de novo; em suma: durar. “A duração do universo deve constituir uma unidade com a latitude de criação que nele pode haver.” 12 De tal modo que toda vez que nos encontramos diante de uma duração, ou numa duração, poderemos concluir pela existência de um todo que muda, e que é aberto em alguma parte. Sabemos muito bem que Bergson descobriu inicialmente a duração como idêntica a consciência. Mas um estudo mais aprofundado da consciência levou-o a mostrar que ela só existia abrindo-se para um todo, coincidindo com a abertura de um todo. Assim também para o vivente: quando Bergson compara o vivente a um todo, ou ao todo do universo, ele parece retomar a mais antiga comparação.13 E, no entanto, inverte completamente os termos. Pois se o vivente é um todo, portanto assimilável ao todo do universo, não é tanto porque seria um microcosmo tão fechado quanto o todo supostamente o é, mas, ao contrário, é enquanto ele é aberto para um mundo, e que o mundo, o próprio universo, é o Aberto. “Em todo lugar onde alguma coisa vive, existe, aberto em alguma parte, um registro onde o tempo se inscreve.” 14
Se fosse preciso definir o todo, nós o definíaramos pela Relação. É que a relação não é uma propriedade dos objetos, ela é sempre exterior a seus termos. Do mesmo modo, é inseparável do aberto e apresenta uma existência espiritual ou mental. As relaçaões não pertencem aos objetos mas ao todo, desde que não o confundamos com um conjunto fechado de objetos.15 Através do movimento no espaço, os objetos de um grupo mudam suas respectivas posições. Mas, através das relações, o todo se transforma ou muda de qualidade. Da própria duração, ou do tempo, podemos afirmar que é o todo das relações.
12 EC, p. 782 (339); 327.
13 EC, p. 507(15); 53.
14 EC, p. 508 (16); 54. A única semelhança, mas considerável, entre Bergson e Heidegger é justamente esta: ambos fundam a especificidade do tempo sobre uma concepção do aberto.
15 Fazemos intervir aqui o problema das relações, ainda que ele não seja explicitamente colocado por Bergson. Sabemos que a relaçào entre duas coisas nào pode ser reduzida a um atributo de uma coisa ou da outra, e muito menos ainda a um atributo do conjunto. Em compensação, a possibilidade de reportar as relações a um todo permanece indene se concebemos esse todo como um “contínuo” e não como um conjunto dado.
Não se deve confundir o todo, os “todos”, com os conjuntos. Os conjuntos são fechados, e tudo o que é fechado é artificialmente fechado. Os conjuntos são sempre conjuntos de partes. Mas um todo não é fechado, é aberto; e não tem partes, exceto num sentido muito especial, pois ele não se divide sem mudar de natureza a cada etapa da divisão. “O todo real poderia muito bem ser uma continuidade indivisível.”16 O todo não é um conjunto fechado, mas, ao contrário, aquilo pelo que o conjunto nunca é absolutamente fechado, nunca está completamente isolado, aquilo que o mantém aberto em algum ponto, como se um fio tênue o ligasse ao resto do universo. O copo de água é exatamente um conjunto fechado que compreende partes, a água, o açúcar, talvez a colher; mas isso não é o todo. O todo se cria e não pára de se criar numa outra dimensão sem partes, como aquilo que leva o conjunto de um estado qualitativo a outro, como o puro devir incessante que passa por esses estados. É nesse sentido que ele é espiritual ou mental. “O copo de água, o açúcar e o processo de dissolução do açúcar na água são, sem dúvida, abstrações, e o Todo do qual eles foram recortados pelos meus sentidos talvez progrida a maneira de uma consciência.”17 Mesmo assim este recorte artificial de um conjunto ou de um sistema fechado não é uma pura ilusão. Ele tem fundamento e, se o elo de cada coisa com o todo (este elo paradoxal que a liga ao aberto) é impossível de ser rompido, ele pode ao menos ser alongado, estirado ao infinito, tornar-se cada vez mais tênue. Pois a organização da matéria torna possíveis os sistemas fechados ou os conjuntos determinados de partes; e o desdobramento do espaço os torna necessários. Porém, se os conjuntos estão no espaço, o todo, os todos estão precisamente na duração, são a própria duração na medida que ela não pára de mudar. De tal modo que as duas fórmulas que correspondiam a primeira tese de Bergson adquirem agora um estatuto muito mais rigoroso: “cortes imóveis + tempo abstrato” remete aos conjuntos fechados, cujas partes são na verdade cortes imóveis, e cujos estados sucessivos são calculados sobre um tempo abstrato; enquanto “movimento real —maduração concreta” remete a abertura de um todo que dura, cujos movimentos são os tantos cortes móveis que atravessam o sistema fechado.
Ao fim desta terceira tese encontramo-nos na verdade em três níveis: 1) os conjuntos ou sistemas fechados, que se definem através dos objetos discerníveis ou das partes distintas; 2) o movimento de translação, que se estabelece entre esses objetos e modifica suas posições respectivas; 3) a duração ou o todo, realidade espiritual que não pára de mudar segundo
16 EC, p. 520(31); 66.
17 EC, pp. 502-503 (10-11); 49-50.
suas próprias relações.
O movimento tem assim, de certo modo, duas faces. Por um lado, ele é o que se passa entre objetos ou partes; por outro, o que exprime a duração ou o todo. Ele faz com que a duração, ao mudar de natureza, se divida nos objetos, e que os objetos, ao se aprofundarem, perdendo seus contornos, reúnam-se na duração. Dir-se-á então que o movimento reporta os objetos de um sistema fechado a duração aberta e a duração aos objetos do sistema que ela força a se abrirem. O movimento reporta os objetos, entre os quais se estabelece, ao todo cambiante que ele exprime, e vice-versa. Pelo movimento, o todo se divide nos objetos, e os objetos se reúnem no todo: e, justamente entre os dois, “tudo” muda. Podemos considerar os objetos ou partes de um conjunto como cortes imóveis; mas o movimento se estabelece entre esses cortes e reporta os objetos ou partes a duração de um todo que muda, ele exprime portanto a mudança do todo com relação aos objetos e é, ele mesmo, um corte móvel da duração. Somos agora capazes de compreender a tese tão profunda do primeiro capítulo de Matière et Mémoire: 1) não há apenas imagens instantâneas, isto é, cortes imóveis do movimento; 2) há imagens-movimento que são cortes móveis da duração, imagensmudança, imagens-relação, imagens-volume, para além do próprio movimento…
Quadro e plano,
enquadramento e decupagem
1
Partamos de definições muito simples, sob pena de corrigi-las mais tarde. Chamamos enquadramento a determinação de um sistema fechado, relativamente fechado, que compreende tudo o que está presente na imagem, cenários, personagens, acessórios. O quadro constitui, portanto, um conjunto que tem um grande número de partes, isto é, de elementos que entram, eles próprios, em subconjuntos. Podemos operar nele uma redução. Evidentemente, as próprias partes são também imagem. O que leva Jakobson a dizer que são objetos-signos, enquanto para Pasolini são “cinememas”. Entretanto, tal terminologia sugere aproximações com a linguagem (os cinememas seriam como fonemas e o plano como um monema) que não parecem necessárias.1 Pois se o quadro tem um análogo, é mais do lado de um sistema informático do que lingüístico. Os elementos constituem dados, ora muito numerosos, ora em número reduzido. O quadro é, portanto, inseparável de duas tendências — a saturação ou a rarefação. Particularmente a tela larga e a profundidade de campo permitiram a tal ponto a multiplicação dos dados independentes, que uma cena secundária aparece na frente enquanto o principal se passa ao fundo (Wyler), ou que nem se pode mais fazer diferença entre o principal e o secundário (Altman). Em contrapartida, imagens rarefeitas são produzidas ou quando a tônica é colocada sobre um único objeto (em Hitchcock, o copo de leite iluminado do interior, em Suspeita; a brasa do cigarro no retângulo negro da janela em Janela Indiscreta), ou quando o conjunto
*Para distinguir da palavra “cinema”, traduzi por “cinemema” o termo que Pasolini utiliza, por analogia com os fonemas, para designar, na relaçào criativa entre o plano e seus objetos, as unidades lingüísticas mínimas no cinema; os “cinememas” seriam “os objetos (objetivamente em número infinito) que pertencem à realidade e que estão compreendidos no plano”. Note-se ainda que, para Pasolini, a dupla articulação no cinema não consistiria nessa relação entre o plano e seus objetos, mas na relação criativa entre toda a ordem dos planos e toda a ordem dos objetos dos quais eles são compostos. Ver a esse respeito o cap. “Théorie des raccords”, in Pasolini, P. P., L’Expérience Hérétique — Langue et Cinéma, Prefácio de Maria Antonietta Macciochi, Paris, Payot, 1976. (N. T.)
1 Cf. Pasolini, L’Expérience Hérétique, Paris, Payot, pp. 263-265.
é esvaziado de certos subconjuntos (as paisagens desertas de Antonioni, os interiores evacuados de Ozu). O máximo de rarefação pode ser atingido com o conjunto vazio, quando a tela fica inteiramente negra ou branca. Hitchcock dá um exemplo disso em Quando Fala o Coração, quando um copo de leite invade a tela, deixando apenas uma imagem branca vazia. Mas em ambos os extremos, rarefação ou saturação, o quadro nos ensina desse modo que a imagem não se dá apenas a ver. Ela é tão legível quanto visível. O quadro tem essa função implícita de registrar informações não apenas sonoras, mas visuais. Se vemos muito poucas coisas numa imagem é porque não sabemos lê-la bem, avaliamos mal tanto a sua rarefação quanto a sua saturação. Haverá uma pedagogia da imagem, especialmente com Godard, quando esta função for levada a se explicitar, quando o quadro passar a valer enquanto superfície opaca de informação, ora perturbada pela saturação, bra reduzida ao conjunto vazio, a tela branca ou negra.2
Em segundo lugar, o quadro sempre foi geométrico ou físico, se constitui o sistema fechado em relação a coordenadas escolhidas ou em relação a variáveis selecionadas. Assim, ora o quadro é concebido como uma composição de espaço em paralelas e diagonais, constituindo um receptáculo de modo tal que as massas e linhas da imagem que vêm ocupá-lo encontrarão um equilíbrio, e seus movimentos, uma invariante. É o que freqüentemente acontece com Dreyer; Antonioni parece chegar ao limite dessa concepção geométrica do quadro, que preexiste ao que nele vem se inscrever (O Eclipse3 ). Ora o quadro é concebido como uma construção dinâmica em ação, que depende estreitamente da cena, da imagem, dos personagens e dos objetos que o preenchem. O procedimento da íris em Griffith, que primeiro isola um rosto, depois abrese e mostra as suas imediações; as pesquisas de Eisenstein, inspiradas no desenho japonês, que adaptam o quadro ao tema; a tela variável de Gance, que se abre e fecha “segundo as necessidades dramatúrgicas”, como um “acordeom visual”: desde o início houve essa tentativa de variações dinâmicas do quadro. De qualquer modo, o enquadramento é limitação.4 Mas, de acordo com, o próprlo conceito, os limites podem ser concebidos de dois modos,
2 Noel Burch, Praxis du Cinema, p. 86: a propósito da tela negra ou branca, quando ela nào serve mais simplesmente de “pontuação”, mas assume um “valor estrutural”.
3 Claude Oilier, Souvenirs Écran, Cahiers du Cinéma-Gallimard, p. 88. É o que Pasolini analisava como “enquadramento obsedante” em Antonioni (L’Expérience Hérétique, p. 148). (Os filmes são citados pelo seu título brasileiro. Quando não foram exibidos entre nós, procurou-se, sempre que possível, citar o seu título original. Alguns filmes russos e japoneses não exibidos no Brasil ficaram com seus títulos franceses. N. T.)
4 Num trabalho inédito que compreende entrevistas com camera-men, Dominique Villain analisa estas duas concepções do enquadramento: Le cadrage cinématographique. (O termo cadreur, que
concebidos de dois modos, matemático ou dinâmico: ou como condições para a existência dos corpos cuja essência os limites vão fixar, ou como algo que se estende precisamente até onde vai a potência do corpo existente. Desde a filosofia antiga, este era um dos principais aspectos da oposição entre platônicos e estóicos.
De uma outra maneira, o quadro é ainda geométrico ou físico em relação as partes do sistema que ele ao mesmo tempo separa e reúne. No primeiro caso, o quadro é inseparável de acentuadas distinções geométricas. Uma belissima imagem de Intolerância, de Griffith, corta a tela segundo uma vertical que corresponde a muralha de Babilônia, enquanto vê-se, à direita, o rei avançar numa horizontal superior, adarve no alto da muralha, e a esquerda, os carros entrando e saindo numa horizontal inferior, as portas da cidade. Eisenstein estuda os efeitos da secção áurea na imagem cinematográfica; Dreyer explora as horizontais e as verticais, as simetrias, o alto e o baixo, as alternâncias de preto e branco; os expressionistas desenvolvem diagonais e contradiagonais, figuras piramidais ou triangulares, o choque dessas massas, toda uma pavimentação do quadro “onde se desenham como que quadrados negros e brancos de um tabuleiro de xadrez” (Os Nibelungos e Metrópolis, de Lang5 ). Até a luz é objeto de uma ótica geométrica, quando se organiza com as trevas em duas metades, ou em riscas alternantes, segundo uma tendência do expressionismo (Wiene, Lang). As linhas de separação dos grandes elementos da Natureza desempenham, evidentemente, um papel fundamental — como nos céus de Ford: a separação entre o céu e a terra, a terra reconduzida para a parte inferior da tela. Mas há também a água e a terra, ou a linha fina e alongada que separa o ar da água, quando a água esconde um fugitivo no fundo, ou quando asfixia uma vítima no limite da superfície (O Fugitivo, de Roy, e Uma Lição para não Esquecer, de Newman). Em geral as potências da Natureza não são enquadradas da mesma maneira que as pessoas ou as coisas, nem os indivíduos do mesmo modo que as multidões, nem os subelementos do mesmo modo que os termos. Tanto assim que há no quadro muitos quadros diferentes. As portas, as janelas, os guichês, as lucarnas, as janelas dos carros, os espelhos são outros tantos quadros dentro do quadro. Os grandes autores têm afinidades particulares com um ou outro desses quadros segundos, terceiros, etc. E é através desses encaixes de quadros que as partes do conjunto ou do sistema fechado se separam, mas também conspiram e se reúnem.
traduzi por camera-man, define aquele que enquadra a imagem. Essa função é exercida pelo diretor ou pelo camera-man. N. T.)
5 Lotte Eisner, L’Ecran Démoniaque, Encyclopédie du Cinéma, p. 124.
Por outro lado, a concepção física ou dinâmica do quadro induz a conjuntos vagos que passam a se dividir somente em zonas ou discos.O quadro não é mais o objeto de divisões geométricas, mas de graduações físicas. Então, as partes do conjunto valem como partes intensivas e o próprio conjunto é uma mistura que passa por todas as partes, por todos os graus de sombra e luz, por toda a escala do claro-escuro (Wegener, Murnau). Trata-se da outra tendência da ótica expressionista, embora certos autores participem das duas, dentro ou fora do expressionismo. É a hora em que não se pode mais distinguir a aurora do crepúsculo, nem o ar da terra ou a água da terra, no grande misto de um pântano ou de uma tempestade6 . Aqui, é através dos graus da mistura que as partes se distinguem ou se confundem, numa transformação contínua dos valores. O conjunto não se divide em partes sem mudar a cada vez de natureza: não se trata nem do divisível nem do indivisível, mas do “dividual”. É verdade que já era esse o caso da concepção geométrica: era o encaixe dos quadros que indicava então as mudanças de natureza. A imagem cinematográfica é sempre dividual. A razão última disso é que a tela, enquanto quadro dos quadros, confere uma medida comum aquilo que não a tem, plano distante de paisagem e primeiro plano de rosto, sistema astronômico e gota de água, partes que não apresentam um mesmo denominador de distância, de relevo, de luz. Em todos esses sentidos, o quadro assegura uma desterritorialização da imagem.
Em quarto lugar, o quadro se reporta a um ângulo de enquadramento. É que o próprio conjunto fechado é um sistema ótico que remete a um ponto de vista sobre o conjunto das partes. Evidentemente, o ponto de vista pode ser ou parecer insólito, paradoxal: o cinema mostra pontos de vista extraordinários, rente ao chão, de cima para baixo, de baixo para cima, etc. Mas eles parecem submetidos a uma regra pragmática que não vale apenas no cinema de narração: para não caírem num esteticismo vazio, eles devem se explicar, devem se revelar normais ou regulares, seja do ponto de vista de um conjunto mais amplo que compreende o primeiro, seja do ponto de vista de um elemento inicialmente despercebido, não dado, do primeiro conjunto. Em Jean Mitry encontramos a descrição de uma seqüência exemplar a esse respeito (Não Matarás, de Lubitsch):
* Disco luminoso: termo de ótica. Zonas de Fresnel são regiões imaginárias em que se divide uma abertura num anteparo para analisar a difração de uma onda eletromagnética. A difração é o desvio sofrido pela luz ao passar por um obstáculo tal como as bordas de uma fenda em um anteparo. Ao passar pela fenda, a luz sofre uma difração; o feixe luminoso vai aparecer sobre o anteparo como decomposto em um disco luminoso central rodeado por anéis concêntricos cada vez menos luminosos. Entre o disco central e o primeiro anel, e depois entre os anéis sucessivamente, há regiões de sombra chamadas zonas. (N. T.)
6 Cf. Bouvier e Leutrat, Nosferatu, Cahiers du Cinéma-Gallimard, pp. 75-76.
num travelling lateral a meia altura, a câmera mostra um muro de espectadores vistos de costas e tenta se insinuar até a primeira fila; e então se detém sobre um perneta cuja perna ausente propicia uma mirada no espetáculo, o desfile militar que passa. Ela enquadra, portanto, a perna válida, a muleta, e, sob o coto, o desfile. Eis um ângulo de enquadramento eminentemente insólito. Mas um novo plano mostra um outro inválido atrás do primeiro, um homem-tronco que vê precisamente deste modo o desfile, e que atualiza ou efetua o ponto de vista precedente.7 Dir-se-á então que o ângulo de enquadramento era justificado. Entretanto esta regra pragmática não vale sempre, ou, pelo menos, quando vale, não esgota o caso. Bonitzer elaborou o conceito muito interessante de “desenquadra-mento” para designar estes pontos de vista anormais que não se confundem com uma perspectiva oblíqua ou um ângulo paradoxal, e remetem a uma outra dimensão da imagem8 . Deles encontraríamos exemplos nos quadros cortantes de Dreyer, os rostos cortados pela borda da tela em A Paixão de Joana d’Arc. Mas, mais ainda, como veremos, os espaços vazios a maneira de Ozu, que enquadram uma zona morta, ou então os espaços desconectados a maneira de Bresson, cujas partes não se juntam, excedem qualquer justificação narrativa ou, mais geralmente, pragmática, e vêm talvez confirmar que a imagem visual tem uma função legível, para além de sua função visível. Resta o extracampo. Não se trata de uma negação; também não basta defini-lo pela não-coincidência entre dois quadros, dos quais um seria visual e o outro, sonoro (em Bresson, por exemplo, quando o som testemunha pelo que não se vê e “reveza” com o visual em vez de reiterálo9 ). O extracampo remete ao que, embora perfeitamente presente,
* O uso tem consagrado entre nós o termo inglês travelling, em vez da sua tradução “carrinho”.(NT)
7 Jean Mitry, Esthétique et Psychologie du Cinéma, II, Ed. Universitaires, pp. 78-79.
8 Pascal Bonitzer, “Décadrages”, Cahiers du Cinema, nº 284, jan. 1978. Esse termo tem sido traduzido entre nós por espaço fora do campo, espaço em off ou ainda, menos correntemente, por extracampo. Optamos pelo último termo, tendo em vista justamente a particularidade da análise do autor, que vai distinguir nesta noção dois aspectos, um dos quais — como se verá — não se refere à presença virtual do espaço. Há para Deleuze, de um lado, um aspecto relativo no extracampo, através do qual um sistema fechado remete no espaço a um conjunto que não se vê, e que pode por sua vez vir a ser visto, sob pena de suscitar um novo conjunto não visto; há, de outro lado, um aspecto absoluto, através do qual o sistema fechado se abre para uma duração imanente ao todo do universo, que não é mais um conjunto e não pertence à ordem do visual. Aqui sua junção seria introduzir o trans-espacial e o espiritual no sistema constituído pelo quadro. Em razào da distinção desse segundo aspecto, que para Deleuze sempre acompanha o primeiro, e cuja análise confere a nosso ver uma nova dimensão à própria noção de extracampo, preferimos adotar um termos que não se limitasse à referência ao espaço. (N. T.)
9 Bresson, Notes sur le Cinématographe, Gallimard, pp. 61-62: “Um som nunca deve vir em socorro de uma imagem, nem uma imagem em socorro de um som (…). Som e imagem não devem se ajudar mutuamente, mas trabalhar cada um por sua vez numa espécie de revezamento”.
não se ouve nem se vê. É verdade que esta presença é problemática, e remete por sua vez a duas novas concepções do enquadramento. Se retomarmos a alternativa de Bazin, máscara ou quadro, ora o quadro opera um recorte móvel, segundo o qual todo conjunto se prolonga num conjunto homogêneo mais vasto com o qual ele comunica, ora como um quadro pictural que isola um sistema e neutraliza seu contexto. Esta dualidade se exprime de modo exemplar entre Renoir e Hitchcock; para o primeiro, o espaço e a ação sempre excedem os limites do quadro, que opera apenas uma extração em uma área; no segundo, o quadro opera um “aprisionamento de todos os componentes”, e age muito mais como uma armação de tapeçaria do que como quadro pictural ou teatral.
Mas, se um conjunto parcial só se comunica formalmente com o seu extracampo através das características positivas do quadro e do reenquadramento, por sua vez um sistema fechado, mesmo muito fechado, só aparentemente suprime o extracampo, e também lhe atribui, a seu modo, uma importância decisiva, mais decisiva ainda.10 Todo enquadramento determinará um extracampo. Não há dois tipos de quadro, dos quais apenas um remeteria ao extracampo, mas sim dois aspectos muito diferentes do extracampo, remetendo cada um a um modo de enquadrar.
A divisibilidade da matéria significa que as partes entram em conjuntos variados, que não param de se subdividir em subconjuntos ou são, eles próprios, o subconjunto de um conjunto mais vasto, ao infinito. É por isto que a matéria se define ao mesmo tempo pela tendência em constituir sistemas fechados e pelo inacabamento dessa tendência. Todo sistema
** A conhecida oposição de Bazin — quadro ou máscara — extraída da comparação que o crítico faz entre a tela de cinema e o quadro pictural perde, na tradução, o realce que o idioma francês lhe confere. Pata Bazin, o quadro pictural abre o espaço contemplativo apenas para o interior, enquanto a tela de cinema, ao contrário, sugere o prolongamento para o exterior daquilo que é mostrado. Para sustentar a sua comparação, Bazin recorre ao termo mascara (cache; de cachei, esconder), usado em fotografia e em cinema para designar o papel negro ou o filtro que esconde parte da película a ser impressionada. Esta técnica tem por efeito, ao esconder parte da cena ou objeto fotografado ou filmado, mostrar apenas “uma parte da realidade”. Ao invocar a técnica da máscara em relação ao quadro cinematográfico, a tela constituiria para Bazin justamente esta superfície que a máscara teria deixado visível, e que seria, ela própria parte de uma superfície ainda maior. Por isto a tela cinematográfica teria para Bazin esse poder de sugerir a existência de um prolongamento daquilo que se vê: ela seria “centrífuga’, ao contrário do quadro, que seria “centrípeto”. Qu est-ce que le Cinéma, Ed. du Cerf, 1958. (N. T.)
10 O estudo mais sistemático do extracampo foi realizado por Noel Burch, justamente a propósito de Nana, de Renoir (Praxis du Cinéma, pp. 30-51). E é desse ponto de vista que Jean Narboni opõe Hitchcock a Renoir (Hitchcock, Cahiers du Cinéma, “Visages d’Hitchcock”, p. 37). Mas, como lembra Narboni, o quadro cinematográfico é sempre uma máscara, como o entendia Bazin: é por isto que o enquadramento fechado de Hitchcock também tem seu extra-campo, ainda que de um modo completamente diferente do que em Renoir (não mais “um espaço contínuo e homogêneo ao espaço da tela”, mas um “espaço em off descontínuo e heterogêneo ao da tela”, que define virtualidades).
fechado é também comunicante. Há sempre um fio para ligar o copo de água açucarada ao sistema solar, e qualquer conjunto a um conjunto mais vasto. Este é o primeiro sentido do que chamamos extracampo: se um conjunto é enquadrado, logo visto, há sempre um conjunto maior ou um outro com o qual o primeiro forma um maior, que por sua vez, pode ser visto desde que suscite um novo extracampo, etc. O conjunto de todos esses conjuntos forma uma continuidade homogênea, um universo ou um plano de matéria propriamente ilimitado. Mas certamente não se trata de um “todo”, apesar de este plano ou estes conjuntos cada vez maiores guardarem necessariamente uma relação indireta com o todo. São bem conhecidas as contradições insolúveis em que caímos quando tratamos o conjunto de todos os conjuntos como um todo. Não é que a noção de todo seja desprovida de sentido; mas ela não é um conjunto e não tem partes. A noção de todo é antes o que impede cada conjunto, por maior que seja, de se fechar sobre si próprio, e o que o força a se prolongar num conjunto maior. O todo é, pois, como o fio que atravessa os conjuntos e confere a cada um a possibilidade necessariamente realizada de comunicar um com o outro, ao infinito. O todo é também o Aberto, e remete mais ao tempo ou até ao espírito do que à matéria e ao espaço. Qualquer que seja a relação entre os dois, não confundiremos, portanto, o prolongamento dos conjuntos uns através dos outros, e a abertura do todo que passa em cada um. Um sistema fechado nunca é absolutamente fechado; mas, por um lado, ele é ligado no espaço a outros sistemas por um fio mais ou menos “tênue”, e por outro é integrado ou reintegrado a um todo que lhe transmite uma duração ao longo desse fio.11 Por conseguinte, talvez não baste distinguir, com Burch, um espaço concreto e um espaço imaginário do extracampo, o imaginário tornando-se concreto quando entra por sua vez num campo — portanto, quando deixa de ser extracampo. Pois é em si mesmo, ou enquanto tal, que o extracampo já contém dois aspectos que diferem por natureza: um aspecto relativo, através do qual um sistema fechado remete no espaço a um conjunto que não se vê e que pode, por sua vez, ser visto, com o risco de suscitar um novo conjunto não visto, ao infinito; um aspecto absoluto, através do qual o sistema fechado se abre para uma duração imanente ao todo do universo, que não é mais um conjunto e não pertence à ordem do visível.12 Os desenquadramentos que não se justificam `pragmaticamente”
11 Bergson desenvolveu todos esses pontos em L’Évolution Créatrice, cap. I. Sobre o “fio tênue”, cf. p. 503 (10); 49.
12 Bonitzer objetava a Burch que não existe “devir-campo do extracampo” e que o extracampo continua imaginário, mesmo quando se atualizou sob efeito de um raccord: alguma coisa sempre fica fora do campo, e, segundo Bonitzer, é a própria câmera, que pode aparecer a seu modo, mas introduzindo uma nova dualidade na imagem. (Le Regard et la Voix, 10-18, p.17.) Estas observações de Bonitzer nos parecem inteiramente fundadas. Mas acreditamos que existe no próprio extracampo uma dualidade interna, que nào remete apenas ao instrumento de trabalho.
remetem precisamente a este segundo aspecto como à sua razão de ser. Num caso, o extracampo designa o que existe alhures, ao lado ou em volta; noutro caso, atesta uma presença mais inquietante, da qual nem se pode mais dizer que existe mas antes que “insiste” ou “subsiste”, um Alhures mais radical, fora do espaço e do tempo homogêneos. Sem dúvida, esses dois aspectos do extracampo se misturam constantemente. Mas quando consideramos uma imagem enquadrada como um sistema fechado, podemos dizer que um aspecto se sobrepõe ao outro segundo a natureza do “fio”. Quanto mais grosso for o fio que liga o conjunto visto a outros conjuntos não vistos, melhor o extracampo cumpre sua primeira função, que é de acrescentar espaço ao espaço. Mas, quando o fio é muito tênue, ele não se contenta em reforçar o fechamento do quadro, ou em eliminar a relação com o exterior. Ele não garante, evidentemente, uma isolação completa do sistema relativamente fechado, o que seria impossível. Mas quanto mais tênue for, mais a duração desce no sistema como uma aranha, melhor o extracampo realiza sua outra função, que é a de introduzir o transespacial e o espiritual no sistema que nunca é perfeitamente fechado. Dreyer havia feito disto um método ascético: quanto mais a imagem é espacialmente fechada, reduzida até a duas dimensões, mais ela está apta a se abrir para uma quarta dimensão, que é o tempo, e para uma quinta, que é o, Espírito, a decisão espiritual de Joana ou de Gertrud.13 Quando Claude Ollier define o quadro geométrico de Antonioni, não diz apenas que o personagem esperado ainda não está visível (primeira função do extra-campo), mas também que ele se encontra momentaneamente numa zona de vazio, “branco sobre o branco impossível de filmar”, propriamente invisível (segunda função). E, de uma outra maneira, os quadros de Hitchcock não se contentam em neutralizar as imediações, em levar tão longe quanto possível o sistema fechado e em aprisionar na imagem o máximo de componentes; ao mesmo tempo farão da imagem uma imagem mental, aberta (como veremos) para um jogo de relações puramente pensadas, que tecem um todo. É por isso que dizíamos: há sempre um extracampo, mesmo na imagem mais fechada. E há sempre, simultaneamente, dois aspectos do extracampo: a relação atualizável com outros conjuntos, a relação virtual com o todo. Mas num caso a segunda relação, a mais misteriosa, será atingida indiretamente, no infinito, por intermédio e extensão da primeira, na sucessão das imagens; no outro caso ela será atingida mais diretamente, na própria imagem, através da limitação e neutralização da primeira.
13 Dreyer, citado por Maurice Drouzy, Carl Th. Dreyer né Nilsson, Ed. du Cerf, p. 353
Resumamos os resultados desta análise do quadro. O enquadramento é a arte de escolher as partes de todos os tipos que entram num conjunto. Tal conjunto é um sistema fechado, relativa e artificialmente fechado. O sistema fechado determinado pelo quadro pode ser considerado em relação aos dados que ele comunica aos espectadores: ele é informático, e saturado ou rarefeito. Considerado em si mesmo e como limitação, é geométrico ou físico-dinâmico. Considerado na natureza de suas partes, ainda é geométrico ou, então, físico e dinâmico. É um sistema ótico, quando o consideramos em relação ao ponto de vista, ao ângulo de enquadramento: então ele é pragmaticamente justificado, ou exige uma justificação mais elevada. Enfim, determina um extracampo, seja sob a forma de um conjunto mais vasto que o prolonga, seja sob a forma de um todo que o integra.
2
A decupagem é a determinação do plano, e o plano a determinação do movimento que se estabelece no sistema fechado, entre elementos ou partes do conjunto. Mas, como já observamos, o movimento diz respeito também a um todo, que difere em natureza do conjunto. O todo é o que muda, é o aberto ou a duração. O movimento exprime, portanto, uma mudança do todo, ou uma etapa, um aspecto dessa mudança, uma duração ou uma articulação de duração. Assim, o movimento tem duas faces, tão inseparáveis quanto o direito e o avesso, o recto e o verso: ele é relação entre partes, e é afecção do todo. Por um lado, modifica as posições respectivas das partes de um conjunto, que são como seus cortes, cada uma imóvel em si mesma; por outro lado, ele próprio é o corte móvel de um todo, cuja mudança exprime. Sob um aspecto é dito relativo; sob o outro, é dito absoluto. Consideremos um plano fixo onde personagens se movimentam: eles modificam suas posições respectivas num conjunto enquadrado; mas esta modificação seria totalmente arbitrária se não exprimisse também algo que está mudando, uma alteração qualitativa mesmo ínfima no todo que passa por este conjunto. Consideremos um plano onde a câmera se movimenta: ela pode ir de um conjunto a outro, modificar a posição respectiva dos conjuntos — tudo isso só é necessário se a modificação relativa exprime uma mudança absoluta do todo que passa por estes conjuntos. Por exemplo: a câmera segue um homem e uma mulher que sobem uma escada e chegam a uma porta, que o homem abre; em seguida a câmera os deixa e retrocede num único plano, contorna a parede exterior do apartamento, atinge a escada descendo-a de costas, desemboca na calçada e se ergue pelo exterior até a janela opaca do apartamento visto de fora. Tal movimento, que modifica a posição relativa de conjuntos imóveis, só é necessário se exprime algo que está acontecendo, uma mudança num todo que passa, ele mesmo, por estas modificações: a mulher está sendo assassinada, ela entrara livre e não pode mais esperar socorro algum, o assassinato é inexorável.
Argumentar-se-á que este exemplo (Frenesi, de Hitchcock) é um caso de elipse na narração. Mas, que haja elipse ou não, ou mesmo que haja narração ou não, não importa por enquanto. O que conta nesses exemplos é que o plano, seja ele qual for, tem como que dois pólos: em relação aos conjuntos no espaço, onde ele introduz modificações relativas entre elementos ou subconjuntos; em relação a um todo, do qual exprime uma mudança absoluta na duração. Este todo nunca se contenta em ser elíptico, nem narrativo, embora possa sê-lo. Mas qualquer que seja, o plano tem sempre dois aspectos: por um lado, apresenta modificações de posição relativa num conjunto ou conjuntos, por outro, exprime mudanças absolutas num todo ou no todo. Em geral, o plano tem uma face voltada para o conjunto, do qual traduz as modificações entre as partes, e uma outra voltada para o todo, do qual exprime a mudança ou, pelo menos, uma mudança. Disto decorre a situação do plano, que pode ser definido abstratamente como intermediário entre o enquadramento do conjunto e a montagem do todo. Ora voltado para o pólo do enquadramento, ora para o pólo da montagem. O plano é o movimento considerado em seu duplo aspecto: translação das partes de um conjunto que se estende no espaço, mudança de um todo que se transforma na duração.
Não se trata apenas de uma determinação abstrata do plano. Pois o plano encontra sua determinação concreta na medida que está sempre garantindo a passagem de um aspecto ao outro, a ventilação ou a distribuição dos dois aspectos, sua perpétua conversão. Retomemos os três níveis bergsonianos: os conjuntos e suas partes; o todo que se confunde com o Aberto ou a mudança na duração; o movimento que se instaura entre as partes ou os conjuntos, mas que também exprime a duração, isto é, a mudança do todo. O plano é como o movimento que está sempre assegurando a conversão, a circulação. Ele divide e subdivide a duração segundo os objetos que compõem o conjunto, ele reúne os objetos e os conjuntos em uma única e mesma duração. Está sempre dividindo a duração em sub-durações, elas próprias heterogêneas, e reunindo-as numa duração imanente ao todo do universo. Posto que é uma consciência que opera tais divisões e reuniões, dir-se-á do plano que ele age como uma consciência. Mas a única consciência cinematográfica — não somos nós, o espectador, nem o herói — é a câmera, ora humana, ora inumana ou sobre-humana. Que se considere o movimento da água, o de um pássaro ao longe e o de um personagem num barco: eles se confundem em uma percepção única, um todo tranqüilo da natureza humanizada. Mas eis que o pássaro, uma gaivota comum, avança e vem ferir a pessoa: os três fluxos se dividem e tornam-se exteriores uns aos outros. O todo se formará de novo, mas terá mudado: terá se tornado a consciência única ou a percepção de um todo dos pássaros, afirmando uma natureza inteiramente passarificada, voltada contra o homem, numa espera infinita. E se redividirá novamente quando os pássaros atacarem, de acordo com os modos, os lugares, as vítimas de seu ataque. E se constituirá de novo graças a uma trégua, quando o humano e o inumano entrarem numa relação indecisa (Os Pássaros, de Hitchcock). Tanto poderemos dizer que a divisão está entre dois todos, quanto que o todo está entre duas divisões.14 O plano, isto é, a consciência, traça um movimento que faz com que as coisas entre as quais se estabelece não parem de se reunir em um todo, e o todo de se dividir entre as coisas (o Dividual).
É o próprio movimento que se decompõe e se recompõe. Decompõe-se segundo os elementos entre os quais joga num conjunto: os que permanecem fixos, aqueles aos quais o movimento é atribuído, os que fazem ou sofrem tal movimento simples ou divisível… Mas também se recompõe em um grande movimento complexo indivisível segundo o todo cuja mudança exprime. Podemos considerar certos grandes movimentos como a assinatura própria de um autor, a caracterizar o todo de um filme ou até o todo de uma obra, mas que ressoam com o movimento relativo de tal imagem assinada, ou de tal detalhe na imagem. Num estudo exemplar sobre o Fausto, de Murnau, Eric Rohmer mostrava como os movimentos de expansão e de contração se distribuíam entre as pessoas e os objetos num “espaço pictural”, mas também exprimiam verdadeiras Idéias no “espaço fílmico”, o Bem e o Mal, Deus e Satã.15 Orson Welles descreve muitas vezes dois movimentos que se compõem, dos quais um é como uma fuga horizontal linear numa espécie de jaula alongada e estriada, com abertura, e o outro como um traçado circular cujo eixo vertical opera, no sentido da altura, uma plongée ou contraplongée:* se esses movimentos já são aqueles que animam a obra literária de Kafka,
14 Sobre a separação e a reunião dos fluxos, cf. Bergson, Durée et Simultanéité, cap. 3 (Bergson toma por modelo os três fluxos: de uma consciência, de uma água que escoa e de um pássaro que voa).
15 Eric Rohmer, L’Organisation de !’Espace dam le Faust de Murnau, Col. 10-18. (*) Usa-se mais comumente a forma francesa do que a sua tradução “câmera alta” e “câmera baîxa”. (N. T.)
concluiremos que existe uma afinidade entre Welles e Kafka que não se reduz ao filme O Processo, mas antes explica por que Welles precisou confrontar-se diretamente com Kafka; se tais movimentos aparecem de novo e se combinam profundamente em O Terceiro Homem de Reed, concluiremos que Welles foi mais que um ator nesse filme, e participou intimamente da sua construção, ou que Reed foi um discípulo inspirado de Welles. Em muitos de seus filmes, Kurosawa tem uma assinatura que parece um ideograma japonês fictício: um grosso traço vertical desce de alto a baixo da tela, enquanto dois movimentos laterais mais finos a atravessam da direita para a esquerda e da esquerda para a direita; um movimento complexo desse tipo, como veremos, tem relação com o todo do filme, com uma maneira de conceber o todo de um filme. Ao analisar certos filmes de Hitchcock, François Regnault distinguia para cada um deles um movimento global ou uma “forma principal, geométrica ou dinâmica”, que poderiam aparecer em estado puro nos créditos: “as espirais de Um Corpo que Cai, as linhas quebradas e a estrutura contrastada por alternância em preto e branco de Psicose, as coordenadas cartesianas em flecha de Intriga Internacional. E talvez os grandes movimentos desse filme sejam, por sua vez, componentes de um movimento ainda maior, que exprimiria o todo da obra de Hitchcock, e a maneira segundo a qual esta obra evoluiu, se transformou. Mas não menos interessante é a outra direção, segundo a qual um grande movimento, voltado para um todo que muda, se decompõe em movimentos relativos, em formas locais voltadas para as posições respectivas das partes de um conjunto, para as atribuições as pessoas e objetos, para as repartições entre elementos. É o que Regnault estuda em Hitchcock (assim, em Um Corpo que Cai, a grande espiral pode tornar-se a vertigem do herói, mas também o circuito que ele traça com seu carro, ou então o anel nos cabelos da heroína16). Esse tipo de análise é desejável para todo autor, é o programa de pesquisa necessário para toda análise de autor, o que se poderia chamar de estilística: o movimento que se instaura entre as partes de um conjunto num quadro, ou de um conjunto a outro num reenquadramento; o movimento que exprime um todo num filme ou numa obra; a correspondência entre os dois, a maneira segundo a qual eles se respondem mutuamente, passam de um a outro. Pois tratase do mesmo movimento, ora compondo, ora decompondo, são os dois aspectos do mesmo movimento. E esse movimento é o plano, o intermediário concreto entre um todo que apresenta mudanças e um conjunto que tem partes, e que não pára de converter um no outro segundo suas duas faces.
16 François Regnault, “Système Formei d’Hitchcock”, in Hitchcock, Cahiers du Cinéma. Sobre a composição de um movimento que exprimiria o todo da obra, cf. p. 27.
O plano é a imagem-movimento. Enquanto reporta o movimento a um todo que muda, é o corte móvel de uma duração. Ao descrever a imagem de uma manifestação, Pudovkin diz: é como se subíssemos num telhado para vê-la, depois descemos à janela do primeiro andar para ler as faixas, depois misturamo-nos à multidão…17 É apenas “como se”; porque a percepção natural introduz paradas, ancoragens, pontos fixos ou pontos de vista separados, móveis ou mesmo veículos distintos, enquanto a percepção cinematográfica opera continuamente, num único movimento cujas próprias paradas são parte integrante e não passam de uma vibração sobre si mesmo. Consideremos o célebre plano de A Turba, de King Vidor, que Mitry denominava “um dos mais belos travellings de todo o cinema mudo”: a câmera avança no meio da multidão a contracorrente, dirige-se para um arranha-céu, sobe até o vigésimo andar, enquadra uma das janelas, descobre um hall cheio de escrivaninhas, entra, avança e chega até uma escrivaninha atrás da qual está o herói. Ou também o célebre plano de A Ultima Gargalhada,de Murnau: a câmera sobre uma bicicleta, inicialmente colocada num elevador, desce com ele e capta o hall do grande hotel através das vidraças, operando incessantes decomposições e recomposições, depois “corre através do vestíbulo e dos enormes batentes da porta giratória num único e perfeito travelling”. A câmera, aqui, carrega consigo dois movimentos, dois móveis ou dois veículos, o elevador e a bicicleta. Ela pode mostrar um, que faz parte da imagem, e esconder o outro (pode também, em certos casos, mostrar na imagem a própria câmera). Mas não é isso que interessa. O que interessa é que a câmera móvel é como um equivalente geral de todos os meios de locomoção que ela mostra ou dos quais se serve (avião, carro, barco, bicicleta, marcha, metrô…). Desta equivalência Wenders fará a alma de dois de seus filmes, No Correr do Tempo e Alice nas Cidades, introduzindo assim no cinema uma reflexão particularmente concreta sobre o cinema. Em outras palavras, o próprio da imagem-movimento cinematográfica é extrair dos veículos ou dos móveis o movimento que é sua substância comum, ou extrair dos movimentos a mobilidade que é a sua essência. Era a aspiração de Bergson: extrair, a partir do corpo ou do móvel ao qual nossa percepção natural vincula o movimento como a um veículo, uma simples “mancha” colorida, a imagem-movimento, que “em si mesma se reduz a uma série de oscilações extremamente rápidas” e “não passa, na
17 Pudovkin, cit. por Lherminier, L Art du Cinéma, Seghers, p. 192.
* Também conhecido por O Ultimo dos Homens ou O Ultimo Homem.
realidade, de um movimento de movimentos”.18 Ora, aquilo de que Bergson considerava o cinema incapaz, porque levava em conta apenas o que se passava no aparelho (o movimento homogêneo abstrato do desfilar das imagens), é aquilo de que o aparelho é o mais capaz, eminentemente capaz: a imagem-movimento, isto é, o movimento puro extraído dos corpos ou dos móveis. Não se trata de uma abstração, mas de uma liberação. Trata-se sempre de um grande momento no cinema, como em Renoir, quando a câmera deixa um personagem e até lhe vira as costas, adquirindo um movimento próprio ao cabo do qual ela o reencontrará.19
Ao operar assim um corte móvel dos movimentos, o plano não se contenta em exprimir a duração de um todo que muda, mas faz incessantemente variarem os corpos, as partes, os aspectos, as dimensões, as distâncias, as posições respectivas dos corpos que compõem um conjunto na imagem. Um se faz através do outro. É porque o movimento puro faz variar por fracionamento os elementos do conjunto segundo denominadores diferentes, é porque decompõe e recompõe o conjunto, que ele também se reporta a um todo fundamentalmente aberto, cuja particularidade é “se fazer” sem cessar, ou mudar, durar. E vice-versa. Foi Epstein quem mais profunda e mais poeticamente destacou essa natureza do plano como puro movimento, comparando-o a uma pintura cubista ou simultaneísta: “Todas as superfícies se dividem, se truncam, se decompõem, se quebram, como se imagina que acontece no olho de mil facetas do inseto. Geometria descritiva cuja tela é o plano de topo. Em vez de se submeter a perspectiva, o pintor fende-a, entra nela (…). A perspectiva do exterior é substituída, assim, pela perspectiva do interior, uma perspectiva múltipla, cambiante, ondulosa, variável e contráctil como um higrômetro a cabelo. Ela não é a mesma a direita que à esquerda, nem no alto e embaixo. Vale dizer que as frações que o pintor apresenta da realidade não têm os mesmos denominadores de distância, nem de relevo, nem de luz”. É que o cinema, ainda mais diretamente que
18 Bergson, Matière et Mémoire, p. 331 (219); La Pensée et le Mouvant, pp. 1382-1383 (164-165). Encontraremos freqüentemente em Gance a mesma expressão “movimentos de movimentos”. (A introdução a La Pensée et le Mouvant está traduzida no volume Bergson, “Os Pensadores”, Ed. Abril, 1984. Ver O Pensamento e o Movente, trad. Franklin Leopoldo da Silva, pp. 101-151. N. T.)
19 Cf. a análise de André Bazin que tornou célebre uma grande panorâmica de Renoi, em Le Crime de M. Lange: a câmera abandona um personagem numa extremidade do pátio, volta no sentido contrário varrendo o lado vazio do cenário, para atingir o personagem na outra extremidade do pátio, onde ele vai cometer seu crime (Jean Renoir, Champ Libre, p. 42: “este espantoso movimento de aparelho (…) é a expressão espacial de toda a mire-en-scéne”).
* Higrômetro a cabelo: os higrômetros são instrumentos da física que servem para medir o grau de umidade atmosférica. O higrômetro a cabelo é um modelo mais simples de higrômetro por absorção, que se baseia no fato de que algumas substâncias orgânicas variam de volume quando recebem umidade. (N. T.)
a pintura, dá um relevo no tempo, uma perspectiva no tempo: exprime o próprio tempo como perspectiva ou relevo.20 É por isso que o tempo adquire essencialmente o poder de se contrair ou de se dilatar, assim como o movimento o de retardar ou acelerar. Epstein toca de perto o conceito de plano: é um corte móvel, quer dizer, uma perspectiva temporal ou uma modulação. A diferença entre a imagem cinematográfica e a imagem fotográfica decorre disso. A fotografia é uma espécie de “moldagem”: o molde organiza as forças internas da coisa de tal modo que elas atingem um estado de equilíbrio num certo instante (corte imóvel). Enquanto a modulação não se detém quando o equilíbrio é atingido, e não pára de modificar o molde, de constituir um molde variável, contínuo, temporal.21 Assim é a imagem-movimento, que, deste ponto de vista, Bazin opunha à fotografia: “O fotógrafo procede, por intermédio da objetiva; a uma verdadeira captação do registro luminoso, a uma moldagem (…) (Mas) o cinema realiza o paradoxo de moldar-se sobre o tempo do objeto e de captar, além do mais, o registro de sua duração”.22
3
O que acontecia no tempo da câmera fixa? A situação foi muitas vezes descrita. Em primeiro lugar, o quadro é definido por um ponto de vista único e frontal, que é o do espectador sobre um conjunto invariável: não há, portanto, comunicação de conjuntos variáveis remetendo-se uns aos outros. Em segundo lugar, o plano é uma determinação unicamente espacial que indica uma “porção” de espaço a esta ou aquela distância da câmera, do primeiro plano ao plano distante (cortes imóveis): o movimento não é, assim, liberado por si mesmo e permanece preso aos elementos, personagens e coisas, que lhe servem de móvel ou de veículo. Finalmente, o todo se confunde com o conjunto em profundidade, de tal modo que o móvel o percorre passando de um plano espacial a outro, de uma porção paralela a uma outra, cada uma com sua independência ou seu foco: portanto, não há propriamente nem mudança nem duração, na medida que a duração implica uma outra concepção da profundidade, que embaralha e desloca as zonas paralelas, em vez de superpô-las. Podemos,
20 Epstein (Écrits, Seghers, p. 115) escreve esse texto a propósito de Fernand Léger, que foi sem dúvida o pintor mais próximo do cinema. Mas ele retomará seus termos diretamente a p ropósito do cinema (pp. 138 e 178).
21 A propósito desta diferença entre moldagem e modulação em geral, cf. Simondon, G., L ‘ Individu et sa Génèse Physico-Biologique, PUF, pp. 40-42.
22 André Bazin, Quest-ce que le Cinéma?, Ed. du Cerf, p. 151.
assim, definir um estado primitivo do cinema no qual a imagem está em movimento em vez de ser imagem-movimento; e é com relação a este estado primitivo que se exerce a crítica bergsoniana.
Mas, se perguntamos como se constituiu a imagem-movimento, ou como o movimento se liberou das pessoas e das coisas, constatamos que isto se deu sob duas formas diferentes, e, nos dois casos, de maneira imperceptível: por um lado, evidentemente, através da mobilidade da câmera, quando o próprio plano torna-se móvel; mas por outro lado, também, através da montagem, isto é, do raccord de planos, cada um ou a maioria dos quais podiam perfeitamente continuar fixos. Uma pura mobilidade podia ser atingida desse modo, extraída dos movimentos de personagens, com muito pouco movimento da câmera: era até o caso mais freqüente, e especialmente ainda o do Fausto, de Murnau, ficando a câmera móvel reservada para cenas excepcionais ou momentos marcantes. Ora, ambos os meios se verão nos seus primórdios numa certa obrigação de se esconder: não só os raccords de montagem (por exemplo, raccords no eixo) deviam ser imperceptíveis, como também os movimentos da câmera, na medida que se referiam a momentos ordinários ou cenas banais (movimentos de uma lentidão próxima do limite da percepção23). E que as duas formas ou meios só intervinham para realizar um potencial contido na imagem fixa primitiva, isto é, no movimento enquanto ainda preso as pessoas e coisas. É este movimento que já era próprio do cinema, e que reclamava uma espécie de liberação, não podendo se contentar com os limites em que o mantinham as condições primitivas. Tanto que a imagem dita primitiva, a imagem em movimento, definia-se menos por seu estado que por sua tendência. O plano espacial ou fixo tendia a propiciar uma imagem-movimento pura, tendência que passava a atuar insensivelmente através da mobilização da
* O termo raccord não tem tradução entre nós. Usa-se a fórmula francesa que, segundo o crítico Noel Burch, pode ter dois sentîdos: o primeiro corresponde à noção de “corte” ou “corte simples”, e designa a mudança de plano: nesse sentido usa-se o termo “corte”. No segundo está contida referência à manei ra como se dá a mudança de plano; usa-se o termo raccord, que se refere, então, a qualquer elemento de continuidade entre dois ou vários planos. Noel Burch distingue várias modalidades de raccord: ao nível dos objetos (um objeto que consta de um plano deve constar de outro com o qual ele faz raccord); ao nível do espaço (raccords de olhar, de direção, de posição — seja de objetos, seja de pessoas); ao nível do espaço-tempo (envolvendo os diferentes tipos de relação que podem existir entre a decupagem no espaço e a decupagem no tempo). Noel Burch, Praxis do Cinema, Lisboa, Editorial Estampa, 1973. (N. T.)
23 Estes pontos essenciais foram analisados por Noel Burch: 1) o raccord de montagem e os movimentos de câmera têm origens muito diferentes; é Griffith quem codifica os raccords, mas fazendo da câmera móvel um uso excepcional (Nascimento de Uma Nação); é Pastrone quem faz da câmera móvel um uso ordinário, mas negligenciando os raccords e situando-se “sob o signo exclusivo da frontalidade, característicos do primeiro cinema primitivo” (Cabíria); 2) mas em Griffith e em Pastrone os dois procedimentos fazem face a uma mesma condição de imperceptibilídade voluntariamente procurada (Noel Burch, Marcel L’Herbier, Seghers, pp. 142-145):
câmera no espaço, ou então através da montagem de planos móveis ou simplesmente fixos no tempo. Como diz Bergson, apesar de não o ter visto para o cinema, as coisas nunca se definem pelo seu estado primitivo, mas pela tendência oculta nesse estado.
Podemos reservar a palavra “plano” para as determinações espaciais fixas, porções de espaço ou distâncias em relação a câmera: como faz Jean Mitry, não apenas quando denuncia a expressão “plano-seqüência”, segundo ele incoerente, mas com mais razão ainda quando vê no travelling não um plano, mas uma seqüência de planos. É então a seqüência de planos que recebe movimento e duração. Mas como não se trata de uma noção suficientemente determinada, será preciso criar conceitos mais precisos para distinguir as unidades de movimento e de duração: o que veremos com os “sintagmas” de Christian Metz e os “segmentos” de Raymond Bellour. No entanto, do nosso ponto de vista, por enquanto, a noção de plano pode ter unidade e extensão suficiente se lhe atribuirmos seu pleno sentido projetivo, perspectivo ou temporal. Com efeito, uma unidade é sempre unidade de um ato que compreende, enquanto tal, uma multiplicidade de elementos passivos ou agidos.24 Nesse sentido, os planos, enquanto determinações espaciais imóveis, podem perfeitamente ser a multiplicidade que corresponde à unidade do plano, enquanto corte móvel ou perspectiva temporal. A unidade variará de acordo com a multiplicidade que ela contém, mas continuará sendo a unidade desta multiplicidade correlativa.
Distinguiremos diversos casos a esse respeito. Num primeiro, o movimento contínuo da câmera definirá o plano, sejam quais forem as mudanças de ângulo e de pontos de vista múltiplos (por exemplo, um travelling). Num segundo caso, é a continuidade do raccord que constituirá a unidade do plano, embora esta unidade tenha por “matéria” dois ou vários planos sucessivos que podem, aliás, ser fixos. Do mesmo modo, certos planos móveis podem ter sua distinção atribuída unicamente a limitações materiais, e no entanto formar uma unidade perfeita em função da natureza de seu raccord: como em Orson Welles, as duas plongées de Cidadão Kane, onde a câmera atravessa literalmente uma vidraça e penetra dentro de um grande recinto, aproveitando-se da chuva que se abate contra a vidraça e a quebra. Num terceiro caso, nos encontramos diante de um plano de longa duração fixo ou móvel, “planoseqüência”, com profundidade de campo: um plano desse tipo compreende em si mesmo todas as porções de espaço simultaneamente, do primeiro plano ao plano afastado, mas não deixa de ter uma unidade
24 Bergson, Essai sur les Donnés Immédiates de la Conscience, p. 55 (60).
que permite defini-lo como um plano. É que a profundidade não é mais concebida a maneira do cinema “primitivo”, como uma superposição de porções paralelas, em que cada uma diz respeito somente a si mesma, sendo apenas atravessadas por um único móvel. Ao contrário, em Renoir ou em Welles, o conjunto dos movimentos se distribui em profundidade de modo a estabelecer ligações, ações e reações, que nunca se desenvolvem uma ao lado da outra, num mesmo plano, mas se escalonam em distâncias diferentes e de um plano a outro. A unidade do plano é conferida aqui pela ligação direta entre elementos tomados na multiplicidade dos planos superpostos que deixam de ser isoláveis: é a relação das partes próximas e distantes que opera a unidade. A mesma evolução aparece na história da pintura, entre os séculos XVI e XVII: uma superposição de planos onde cada um é preenchido por uma cena específica, e onde os personagens se encontram lado a lado, é substituída por uma visão completamente diferente. da profundidade, em que os personagens se encontram em linha oblíqua e se interpelam de um plano ao outro, em que os elementos de um plano agem e reagem sobre os elementos de um outro plano, em que nenhuma forma, nenhuma cor se encerram num único plano, em que as dimensões do primeiro plano acham-se anormalmente aumentadas para entrar diretamente em relação com o plano de fundo através da brusca redução das grandezas.25 Num quarto caso, o plano-seqüência (pois há muitos tipos de plano-seqüência) não comporta mais nenhuma profundidade, nem de superposição nem de recuo: ao contrário, ele rebate todos os planos espaciais sobre um único primeiro plano que passa por diferentes quadros de tal modo que a unidade do plano remete a perfeita planura da imagem, enquanto a multiplicidade correlativa é conferida pelos reenquadramentos. Era o caso
25 Essas duas concepções da profundidade na pintura, nos séculos XVI e XVII, foram estudados por Wõlfflin num belíssimo capítulo dos Principes Fondamentaux de l’Histoire de l’Art, Gallimard (“Plans et profondeurs“). O cinema apresenta exatamente a mesma evolução, como dois aspectos muito diferentes da profundidade de campo que foram analisados por Bazin (“Pour en finir avec la profondeur de champ”, Cahiers du Cinéma, n° 1, abril de 1951). Apesar de todas as suas reservas com relação à tese de Bazin, Mitry concede-lhe o essencial: numa primeira forma, a profundidade é recortada segundo porções superpostas isoláveis, onde cada uma vale por si própria (assim em Feuillade ou em Griffith); mas, em Renoir e em Welles, é uma outra forma que substitui as porções por uma interação perpétua, curto-circuitando o primeiro plano e o plano de fundo. Os personagens não se encontram mais num mesmo plano, eles se reportam uns aos outros e se interpelam de um plano ao outro. Os primeîros exemplos dessa nova profundidade estariam talvez em Ouro e Maldição, de Stroheim, e corresponderiam perfeitamente à análise de Wõlfflin: assim, a mulher se sobressalta num plano próximo, enquanto seu marido entra pela porta do fundo, e um raio de luz vai de um até o outro. (Conceitos Fundamentais da História da Arte, trad. João Azenha Júnior, Ed. Martins Fontes, 1984. Primeiro plano e plano de fundo são termos de perspectiva que indicam diferenças de profundidade. É nesse sentido que serão usados também por Deleuze na análise desenvolvida neste trecho. N. T.)
de Dreyer, nos seus planos-seqüência análogos a superfícies chapadas, e que negam qualquer distinção entre diferentes planos espaciais, fazendo o movimento passar por uma série de reenquadramentos que se substituem a mudança de plano (Gertrud e A Palavra).26 As imagens sem profundidade ou com profundidade rasa formam um tipo de plano corrediço e deslizante, que se opõe ao volume das imagens profundas.
Em todos esses sentidos, o plano tem realmente uma unidade. É uma unidade de movimento, e como tal compreende uma multiplicidade correlativa que não o contradiz.27 No máximo pode-se dizer que essa unidade submete-se a uma dupla exigência — em relação ao todo, cuja mudança ela exprime ao longo do filme e em relação as partes, cujos deslocamentos em cada conjunto e de um conjunto ao outro ela determina. Pasolini exprimiu essa dupla exigência de uma maneira muito clara. Por um lado, o todo cinematográfico seria um único e mesmo planoseqüência analítico, ilimitado por direito, e teoricamente contínuo; por outro, as partes do filme seriam de fato planos descontínuos, dispersos, disseminados, sem ligação imputável. É preciso, portanto, que o todo renuncie a sua idealidade e se torne o todo sintético do filme que se realiza na montagem das partes; e, inversamente, que as partes se selecionem, se coordenem, entrem em raccords e ligações que reconstituam pela montagem o plano-seqüência virtual ou o todo analítico do cinema.28
Mas não existe essa divisão entre o que é de fato e o que é de direito (que implica em Pasolini uma grande repulsa pelo plano-seqüência, sempre mantido na virtualidade). Há dois aspectos que são ao mesmo
* Em pintura, superfície cochapada ou chapada é a superfície do quadro coberta de maneira uniforme pela mesma cor. (N. T.)
26 A tentativa de Hitchcock em Festim Diabólico, um único plano-seqüência para todo o filme (interrompido unicamente para troca de bobina), corresponde ao mesmo caso. Bazin objetava que o plano-seqüência de Renoir, Welles e Wyler rompia com a decupagem ou com o plano tradicional, enquanto Hitchcock os conservava, contentando-se em operar “uma perpétua sucessão de reenquadramentos”. Rohmer e Chabrol respondem com razão que esta é precisamente a novidade de Hitchcock, que transforma o quadro tradicional, enquanto Welles, inversamente, o conserva (Hitchcock, Ed. D’Aujourd’hui, pp. 98-99).
**Em oceanografia usa-se o termo “profundidade rasa”, ou “plataforma”, em oposição a “profundidades abissais”. (N. T.)
27 Bonitzer analisou todos esses tipos de plano, da profundidade de campo, planos sem p rofundidade, aos planos modernos que chama de “contraditórios” (em Godard, Syberberg) Marguerite Duras) em Le Champ Aveugle, Cahiers du Cinéma-Gallimard. E, sem dúvida, entre os críticos contemporâneos, Bonitzer é o que se interessou mais pela noção de plano e pela sua evolução. Parece-nos que suas análises muito rigorosas deveriam levá-lo a uma nova concepção do plano enquanto unidade consistente, a uma nova concepção das unidades (das quais encontraríamos equivalentes na ciência). No entanto, ele antes delas extrai dúvidas sobre a consistência da noção de plano, cujo “caráter múltiplo, ambíguo e fundamentalmente falso’ denuncia. É com relação apenas a esse ponto que não podemos segui-lo.
28 Pasolini, L’Expérience Hérétique, Paris, Payot, pp. 197-212.
tempo de fato e de direito, e que manifestam a tensão do plano como unidade. Por um lado, as partes e seus conjuntos entram em continuidades relativas, através de raccords imperceptíveis, de movimentos de câmera, de planos-seqüência de fato, com ou sem profundidade de campo. Entretanto, sempre haverá cortes e rupturas, ainda que a continuidade se restabeleça a posteriori, a mostrar claramente que o todo não está desse lado. O todo intervém por outro lado e numa outra ordem, como aquilo que impede os conjuntos de se fecharem sobre si ou uns sobre os outros, o que atesta uma abertura irredutível as continuidades, tanto quanto às suas rupturas. Ele surge na dimensão de uma duração que muda e não pára de mudar. Ele aparece nos falsos raccords enquanto pólo essencial do cinema. O falso raccord pode atuar num conjunto (Eisenstein) ou na passagem de um conjunto a outro, entre dois planos-seqüência (Dreyer). Por isto mesmo não basta dizer que o plano-seqüência interioriza a montagem no ato de filmar; ao contrário, ele coloca problemas específicos de montagem. Numa discussão sobre a montagem, Narboni, Sylvie Pierre e Rivette perguntam: para onde foi Gertrud, onde Dreyer a fez passar? E a resposta que propõem é: ela passou através da emenda.29 O falsoraccord não é nem um raccord de continuidade nem uma ruptura ou uma descontinuidade no raccord. O falso raccord é por si mesmo uma dimensão do Aberto, que escapa aos conjuntos e as suas partes. Ele realiza outra potência do extracampo, este alhures ou esta zona vazia, este “branco sobre branco impossível de filmar”. Gertrud passou através daquilo que Dreyer chamava de quarta e quinta dimensões. Longe de romper o todo, os falsos raccords são o ato do todo, a cunha que cravam nos conjuntos e suas partes, assim como os verdadeiros raccords são a tendência inversa das partes e dos conjuntos de se reunirem em um todo que lhes escapa.
29 Narboni, Sylvie Pierre e Rivette, “Montage”, Cahiers du Cinéma, nº 210, março de 1969
Montagem
1
Fim da amostra…
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.
