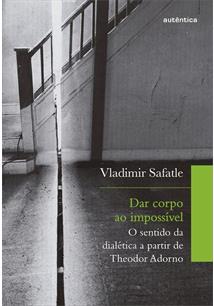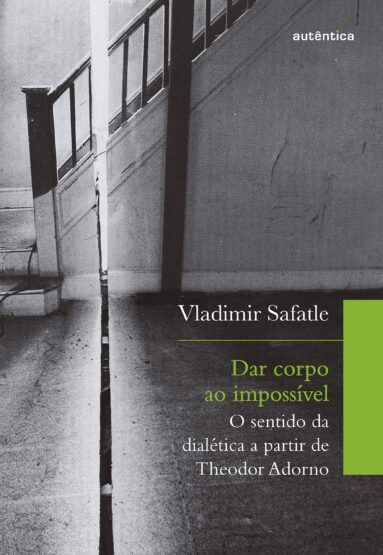
Em Dar corpo ao impossível, Vladimir Safatle parte de uma reflexão a respeito do sentido da última figura da dialética que o pensamento filosófico conheceu, a saber, a dialética negativa de Theodor Adorno. Ele recusa as interpretações deceptivas da dialética negativa, tão presentes até hoje, a fim de explorar suas dinâmicas de produtividade e as modificações que ela produz em conceitos como: totalidade, materialismo, sujeito, diferença e infinito. Isso leva Safatle a propor uma articulação de estrutura entre a dialética negativa e aquelas de matriz hegeliana e marxista. Articulação esta que procura compreender o sentido mais profundo das relações entre configurações da dialética e determinações históricas específicas. Trata-se ainda de se perguntar sobre o que a reatualização da dialética proposta por Adorno deve à psicanálise freudiana e à confrontação incessante à fenomenologia de Martin Heidegger…
Editora: Autêntica; 1ª edição (20 junho 2019); Páginas: 320 páginas; ISBN-10: 8551304550; ISBN-13: 978-8551304556; ASIN: 22.8 x 15.8 x 2 cm
Leia trecho do livro
Um porco reacionário como o senhor,
eu nunca tinha visto.
Alguém deveria castrá-lo.
Daniel Cohn-Bendit, para Adorno
Porque a dialética não se deixa intimidar por nada
E é, por essência, crítica e revolucionária.
Karl Marx
Quem anda de cabeça para baixo
tem o céu como abismo.
Paul Celan
Aquilo que poderia ser diferente ainda não começou.
Theodor Adorno
Prefácio
Como devemos conectar a obra de um grande filósofo do passado ao presente? Será que deveríamos tentar ao máximo enxergar suas considerações sob as lentes de nossas próprias preocupações ou tornar seu pensamento relevante àquilo que consideramos ser nossa situação contemporânea? Ou será que deveríamos procurar entrar em um “mundo de pensamentos” que pode ser, em muitos aspectos, bem distante do nosso próprio – e que pode ter o poder de nos acordar do nosso “sono dogmático”, para usarmos a expressão que Kant criou para fazer referência a David Hume?
Talvez nenhum outro filósofo moderno tenha proposto essa questão de maneira tão incisiva quanto Hegel. Afinal de contas, a extraordinária ambição do pensamento de Hegel à síntese, assim como sua alegação de que sua obra representaria o ponto mais alto da história da metafísica ocidental, tanto incorporando quanto ultrapassando o pensamento de seus predecessores, torna essa mesma obra aberta a uma desconcertante multiplicidade de interpretações. Hegel pode parecer extraordinariamente moderno – de fato um contemporâneo nosso – quando, por exemplo, demonstra sua preocupação em encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual e a necessidade de a comunidade política controlar as forças centrífugas e corrosivas do mercado capitalista; também em seu esforço em compreender o status frágil, porém indispensável, da arte moderna; ou ainda em sua tentativa de revelar a natureza como algo que seja mais do que apenas um oposto inerte e alienígena à subjetividade humana. Ao mesmo tempo, alguns aspectos da filosofia de Hegel podem fazê-lo parecer irremediavelmente antiquado. É assim quando pensamos em sua defesa da monarquia hereditária e em sua recusa em enxergar, politicamente, para além dos limites do Estado nacional; ou em sua convicção de que a religião tem um papel essencial no autoconhecimento humano e em sua tentativa de recuperar o que seria o conteúdo de verdades naquilo que ele considerava como a “religião perfeita”, o Cristianismo. Se for tomado pelo ponto de vista do pluralismo religioso e de estilos de vida das sociedades multiculturais, ou ainda pelo ponto de vista de nossas teorizações sobre o mundo globalizado, Hegel pode parecer, de fato, pertencer a tempos remotos.
Depois de um longo período de incompreensão e negligência, um número razoável de proeminentes filósofos em língua inglesa – Robert Pippin e Terry Pinkard nos Estados Unidos, assim como Paul Redding na Austrália – fez um esforço determinante, a partir dos anos 1980, visando trazer Hegel para o presente, retratando-o como um filósofo “naturalista”. No entanto, o tipo de enquadramento filosófico que eles tinham em mente não era o do “naturalismo duro” de muitos filósofos analíticos contemporâneos, aqueles que estão convencidos da autoridade ontológica singular das ciências físicas, mas sim um “naturalismo suave” supostamente capaz de acomodar em si o estatuto particular do mundo social e histórico. As origens desse “naturalismo suave” se encontram na obra tardia de Wittgenstein, assim como em desdobramentos de determinados aspectos do pensamento wittgensteiniano feitos pelo filósofo P. F. Strawson, de Oxford. Nas mãos de pensadores como Pippin e Pinkard, entretanto, no cerne desse naturalismo suave se encontrava a noção de “normatividade”. Tratava-se de dizer que a singularidade da esfera humana estava no fato de nosso pensamento, nossa cognição e nossa agência serem todos guiados por regras e sempre necessitarem de justificação que se refira especificamente a elas. Tais regras, por sua vez, podem ser entendidas como a cristalização de um consenso social que está sempre se transformando historicamente, e esse consenso é essencialmente o que Hegel chamou de Geist, ou espírito. A vantagem dessa abordagem de Hegel, segundo alegam seus proponentes, está no fato de ela retratá-lo como um pensador “pós-metafísico”, alguém não comprometido com nenhuma alegação especulativa dúbia acerca da natureza essencial da realidade, mas antes comprometido com a explicação das pressuposições normativas implícitas na vida e no universo humanos, assim como com a explicação das formas através das quais tais pressuposições podem entrar em conflito umas com as outras. A concepção hegeliana da dialética, sob essa perspectiva, emerge como uma teoria do desenvolvimento da autointerpretação coletiva dos seres humanos, tal como de fato ocorreu ao longo da História.
No entanto, numerosas críticas podem ser feitas a essa abordagem. Algumas delas podem ser explicitadas ao levarmos em conta as implicações do subtítulo dado por Terry Pinkard ao seu comentário a respeito de A fenomenologia do espírito: “A socialidade da razão”. Pois, se a própria razão for definida, em última instância, pelas estruturas das formas de socialidade historicamente existentes, então não temos nenhuma base racional para criticá-las. Além do que, é claro que Hegel tinha, na Filosofia do Direito, uma concepção muito bem definida dos tipos de instituições e práticas necessárias à concretização da liberdade moderna. Em outras palavras, mesmo se estendermos historicamente a interpretação “naturalista suave” de Hegel, como Pippin e Pinkard parecem querer fazer, e argumentarmos que a compreensão humana sobre a liberdade evoluiu, ainda assim o simples fato de compreendermos nossa concepção atual como, por exemplo, superior àquela da antiga polis grega, não nos fornece qualquer base para presumirmos que ela deveria ser racionalmente endossada. Dizendo de outra forma, Hegel parece estar comprometido com uma concepção da razão e também da avaliação racional mais forte do que poderia nos fornecer essa interpretação com viés “naturalista” e histórico de sua filosofia. Ele está preocupado com a “racionalidade do social”, e não apenas com a socialidade da razão. É nesse sentido que Hegel argumenta, no prefácio de sua Filosofia do Direito, que nossa experiência social do que “direito” significa exige:
[…] que o conteúdo que é racional em si possa ganhar também uma forma racional e aparecer justificado para o pensar livre. Pois tal pensar não se detém no que é dado, mesmo se este é suportado pela autoridade positiva externa do Estado ou pelo acordo mútuo entre seres humanos ou pela autoridade do sentimento interno do coração e pelo testemunho do espírito imediatamente determinante, mas emana de si mesmo e exige saber a si mesmo como unido em seu mais profundo ser com a verdade.
Em anos mais recentes, tem ocorrido, de fato, uma reação a essas versões metafisicamente deflacionárias de Hegel que exerceram tanta influência no mundo anglófono e mesmo na terra natal de Hegel. Um novo estilo de interpretação, capitaneado por comentaristas como James Kreines, baseia-se no argumento central de que Hegel procura evitar a proposição de um substrato ou de uma substância que fundamente toda a realidade ou qualquer segmento particular dela. O problema com esse suposto substrato último é o fato de ele não viabilizar nenhuma forma de trabalho explanatório. Ele não tem como levar em consideração a natureza intrínseca daquilo a respeito do qual ele deveria servir de suporte ontológico. Na verdade, Kreines sustenta que:
A posição de substratos, enfim, não repousa em qualquer necessidade real de explicar, mas apenas na presunção de que a realidade corresponde à forma do juízo sujeito-predicado. Hegel rejeita essa presunção, sustentando que devemos também rejeitá-la a fim de conseguirmos dar sequência de forma absoluta à completude especificamente de razões.
Colocando em outros termos, parece que a interpretação de Kreines só evita o “monismo metafísico” ao custo de suprimir o impacto perturbador que a contingência introduz no sistema hegeliano, precisamente por Hegel estar consciente de sua necessidade. É um impacto que causa uma quebra por não poder ser imediatamente localizado dentro ou fora do sistema.
Este, poderíamos dizer, é o fio condutor da narrativa de Vladimir Safatle neste livro, sobre a reconfiguração que Adorno propõe à dialética hegeliana. O casamento entre Adorno e Hegel se mostra tão poderoso e profundo porque evidencia como Adorno não tenta “adaptar” ou “atualizar” o pensamento de Hegel, de modo a fazê-lo se conformar às presunções da filosofia do fim do século XX. Mas, por outro lado, Adorno também não ignora as tensões criadas pela teoria de Hegel naquilo que ele chama de “ a onipotência do conceito” ( die Allmacht des Begriffs ), por exemplo, quando transforma essa toda-potência em uma questão simplesmente epistemológica. Adorno adentra o pensamento de Hegel tão completamente que se vê capaz de revelar seu esforço incessante na tentativa de mediar o racional e o contingente, o subjetivo e o objetivo, o prático e o teórico. Por isso, como Safatle demonstra de maneira convincente, a concepção de dialética hegeliana que Adorno assim traz à tona não pode ser condenada nos termos propostos por um pensador antidialético como Gilles Deleuze, que articulou talvez a mais radical versão de uma crítica a Hegel, com a qual compactuam muitos outros pensadores franceses dos anos 1960 e 1970. Deleuze sustenta que a teoria da contradição de Hegel é sua forma de superar, de “domar” a diferença. Da maneira como ele coloca, para Hegel,
[…] na contradição posta, a diferença encontra seu conceito próprio, é determinada como negatividade, se torna pura, intrínseca, essencial, qualitativa, sintética, produtora, e não deixa subsistir a indiferença. Suportar, suscitar a contradição, é a prova seletiva que “faz” a diferença (entre o efetivamente-real e o fenômeno passageiro ou contingente).
Adorno, no entanto, reverte essa alegaç ão – e Safatle concorda com ele nesse aspecto. A radicalidade da filosofia de Hegel, para Adorno, consiste no fato de que o “efetivamente real” (o poder atualizado do conceito) está o tempo todo a ponto de colapsar rumo ao transitório e ao contingente. Então, é impossível deixar de lado a contingência, como propõe fazer o “monismo epistemológico” de Kreines, já que o intrinsecamente racional e o contingente não têm como ser mantidos afastados de maneira completa. Hegel, no começo de seu Ciência da Lógica, pode tentar deslizar de “o indeterminado” (das Unbestimmte) para “a indeterminação” (die Unbestimmtheit), mas, para Adorno, esse legerdemain conceitual, que dissolve aquilo que é sem nome e resistente ao pensamento, não convence. Se observarmos bem de perto, diz Adorno, conseguiremos ver que, na dialética de Hegel, “a assim chamada síntese é nada além do que a expressão da não identidade da tese e da antítese”.
Ao pacientemente explorar como Adorno se imerge no pensamento de Hegel, e ao focar na não identidade que é repetidamente revelada por meio de seu movimento dialético, Vladimir Safatle demonstra neste livro toda a relevância contemporânea e a radicalidade da filosofia de Hegel. E ele faz isso com muito mais sucesso do que qualquer outra tentativa de transformar Hegel em um “naturalista pós-metafísico” ou no expoente de uma metafísica racionalista orientada epistemologicamente.
Peter Dews
Professor Emérito de Filosofia
Universidade de Essex
Introdução
Não precisar mais de um mundo
Todo leitor de Thomas Mann conhece esta passagem. Ela está no capítulo XXV de Doutor Fausto e narra o momento em que o diabo procura o compositor Adrian Leverkühn para firmar com ele um pacto, mostrar-lhe o caminho da nova linguagem musical. Conversa tensa, que em dado momento é suspensa pela contemplação de uma impressionante metamorfose. Nela, o diabo apresenta uma de suas especialidades, a arte de mudar de figura. Não, agora ele não se parecia mais com um rufião ou um marginal. Na verdade:
[…] usava colarinho branco, gravata, e no nariz adunco, um par de óculos com aros de chifre, atrás dos quais brilhavam olhos úmidos, sombrios, um tanto avermelhados. A fisionomia aparentava uma mescla de dureza e suavidade: o nariz duro, os lábios duros, porém suave o queixo, no qual havia uma covinha, e a esta correspondia outra na face; lívida e arqueada a testa, e acima dela os cabelos, com entradas bem definidas, porém densos, negros, lanosos, ao lado. Em suma, um intelectual, que escreve para os jornais comuns artigos sobre arte e música, teórico e crítico que, ele mesmo, faz tentativas no campo da composição musical, na medida das suas capacidades.
Em suma, um intelectual, mas um intelectual bem específico, com quem a segunda metade do século XX conviveu de maneira difícil devido à sua consciência crítica, seus livros, artigos em jornais e entrevistas no rádio que jogavam uma sombra incômoda na efetividade: Theodor Adorno. Adorno come diavolo, como disse um dia Jean-François Lyotard. Um diabo que não levará Leverkühn ao deserto para tentá-lo com poder e prazer. Os argumentos diabólicos mudaram depois de certo tempo. Agora, sua tentação passa por discussões sobre o “nível geral da técnica de Beethoven”, a função expressiva do acorde de sétima diminuta no começo do Opus 111 e de como “cada som traz em si o todo e também toda a história”. Sim, agora o diabo parece ser a voz mais sensata para aqueles que não suportam o estado atual da linguagem, que sabem como: “a situação é demasiado crítica, para que a ausência de crítica esteja à sua altura”.
Mas essa não era a primeira vez que as palavras de um filósofo apareciam na boca deste que tem a força retórica de inverter o sentido de todas as palavras, de embaralhar o sim e o não, de fazer tudo passar em seu oposto. Essa cena já se repetira anteriormente. O diabo e aquele que procura se afastar das antigas teorias, que sonha em recuperar os frutos da vida, já se encontraram antes. Naquele momento, e vão-se aí duzentos anos, ele não teve problemas em se apresentar com sua alcunha de origem, a saber, “o espírito que sempre nega”. O mesmo espírito que, se não tinha as feições de outro filósofo, tinha certamente seu indefectível sotaque suábio. Antes de encarnar em Adorno, o diabo já aparecera para Fausto, de Goethe, sob a forma de Hegel. Afinal, não será Schelling que dirá, sem rodeios, a respeito da dialética hegeliana: “o sistema de negação seria ainda um grau pior do que o ateísmo ou do que a divinização do eu e do si (Fichte), uma verdadeira divinização do espírito negador, ou seja, satanismo filosófico”?
Os escritores alemães, ou pelos menos alguns dos melhores deles, são à sua maneira bastante aristotélicos. Pois de onde viria a peculiar tendência de associar a dialética nascente em seu território a uma atividade infernal, se em algum momento eles não tivessem passado os olhos pela Metafísica de Aristóteles? Desde Aristóteles, aquele que acredita poder suspender o princípio de não-contradição só pode nos convidar a viver em um mundo no qual julgamentos não são mais possíveis, no qual a desorientação caótica reina. Dizer que a contradição não é o índice de uma impossibilidade de o pensamento determinar objetos, como querem os seguidores do satanismo dialético, é abrir as portas para a dissolução completa, dissolver o mundo enquanto estrutura capaz de responder às exigências elementares de ordem. A desconfiança da dialética como a expressão do desejo cego e diabólico de dissolver mundos vem de longe. Goethe e Thomas Mann sabiam disso.
Assim, não é de se estranhar que, a partir de certo momento, Adorno foi convidado a aparecer ao mundo não apenas como “em suma, um intelectual”, mas como representante maior dos que estavam envolvidos nas sanhas niilistas da dissolução completa. Reduzindo o pensamento ao “uso ad hoc da negação determinada”, como dizia Habermas, Adorno nunca ofereceria um horizonte de reconciliação ao alcance da vista. Seus olhos úmidos, sombrios, um tanto avermelhados, só poderiam expressar o niilismo desse “espírito que sempre nega” e que nos convida a ir ao inferno, nem que seja a esse inferno frio do Grande Hotel Abgrund. Pois, se o diabo é um desses fenômenos que se diz de muitas maneiras, o inferno também se declina de forma generosa. Ele pode ser, por exemplo, o lugar em que a ruína parece eterna e insuperável, em que estamos condenados a cantar a cantilena triste da finitude, lugar no qual as condições da práxis transformadora encontram-se, por isso, completamente impossibilitadas, não restando outra coisa a não ser o pensamento que denuncia toda solução como uma traição, toda imanência como um recuo. Um inferno que mais parece o mundo invertido depressivo produzido por uma teologia negativa.
Surgir e passar que não surge nem passa
Bem, se escrevi este livro é porque valia a pena perguntar sobre o que aconteceria se tal leitura corrente estivesse radicalmente errada. Errada não apenas no que diz respeito a Adorno, mas principalmente no que diz respeito à dialética. Erro que não seria simples incompreensão em relação a esses textos (como se diz) incompreensíveis de filósofos como Hegel e Adorno, nos quais as orações subordinadas parecem entrar em compasso de vertigem. Erro que seria, na verdade, um desesperado modo de defesa do senso comum, e seus representantes filosóficos, contra essa forma de pensamento capaz de mostrar como:
[…] a aparição é o surgir e o passar que não surge nem passa, mas que é em si e constitui a efetividade e o movimento da vida da verdade. O verdadeiro assim é o delírio báquico, onde não há membro que não esteja ébrio; e porque cada membro, ao separar-se, também imediatamente se dissolve, esse delírio é ao mesmo tempo repouso translúcido e simples. Perante o tribunal desse movimento, não se sustêm nem as figuras singulares do espírito, nem os pensamentos determinados; pois aí tanto são momentos positivos necessários quanto são negativos e evanescentes.
Esse delírio báquico, onde não há membro que não esteja ébrio, só pode aparecer para um certo senso comum como palavreado de quem quer criar movimentos que são, ao mesmo tempo, repousos translúcidos e simples, surgir e passar que não surgem nem passam, evanescências que não são apenas desaparecimentos, mas, ao mesmo tempo, momentos positivos e necessários. No coração desta dialética delirante encontra-se, na verdade, um desejo diabólico de dissolver a segurança do mundo metaestável e, com ele, as figuras singulares do espírito e os pensamentos determinados.
Assim, alguém que quiser pensar de maneira dialética começará por se perguntar se não é a partir de tal dissolução que se inicia a verdadeira filosofia, se a filosofia, ao menos esta que a dialética defende, não seria exatamente o discurso daqueles que não precisam de um mundo, ou seja, que não precisam disso que nos permite nos orientar no pensamento a partir da imagem de uma totalidade metaestável e ordenada que, se não está atualmente realizada, colocar-se-ia ao menos como horizonte regulador da crítica. Talvez isso explique por que as paradas finais da dialética sempre foram tão sumárias e econômicas. Todo leitor de Hegel já percebeu como as discussões sobre o saber absoluto não são muito mais que uma dezena de páginas, de que as discussões de Marx sobre a sociedade comunista não enchem mais do que algumas frases e que os momentos de conciliação em Adorno quase nunca são efetivamente postos. Na verdade, por mais que seus detratores não queiram ver, isso se explica pelo fato de a teleologia da dialética ser a própria imanência do movimento que ela desvela. Movimento este que será a pulsação interna da experiência do conceito.
Mas se a dialética prescinde de um mundo, ela não deixa de se debruçar sobre os fatos mais concretos da existência: da economia política à literatura, dos dados da natureza à indústria cultural. Talvez seja mesmo o caso de dizer que ela só pode se debruçar sobre os fatos mais concretos porque ela pode abandonar toda e qualquer Weltanschauung. Pois quando não se precisa mais de um mundo, podemos enfim ver a processualidade infinita que anima o movimento do que aparece, deste “surgir e passar que não surge nem passa”. E talvez ninguém mais do que Adorno tenha sido sensível ao fato de que a liberação da processualidade do interior de uma totalidade que cabe em uma Weltbild era a condição para a intelecção clara da produtividade do pensamento. Talvez a essência de sua experiência intelectual esteja exatamente aí, nessa tentativa de pensar uma processualidade contínua de forma imanente.
Essa processualidade não é fruto apenas de uma posição metafísica. Em Adorno, ela é consequência da fidelidade estrita ao horizonte de crítica do capitalismo. Pois o capitalismo nunca será tratado como um sistema específico de trocas econômicas, mas como uma forma de vida que constitui modos de subjetividade, formas de trabalho, de desejo e de linguagem. Modos esses que, por sua vez, assentam-se em uma verdadeira metafísica na qual identidade, propriedade, possessão, abstração são os únicos regimes gerais de relação possível. Sua superação não poderá ser feita sem a transformação estrutural dos modos de determinação e de ser. Por isso, a dialética negativa será indissociável da tarefa de pensar as condições para experiências que se assumam como modos de desabamento do horizonte metafísico no qual o capitalismo se assenta e reconstrói. O pensamento deve privilegiar a processualidade contínua para permitir à ação operar sem referência à preservação dos modos atuais de reprodução material da vida e de sua gramática . É nesse sentido que devemos dizer que as opções filosóficas do pensamento adorniano são imediatamente opções práticas, são posições a respeito da recusa em sustentar a rede de orientações práticas que naturaliza formas hegemônicas de vida. Essa recusa é feita em nome de possibilidades concretas de emancipação que exigem uma articulação cerrada entre crítica social e crítica da razão, ou ainda entre crítica da economia política (historicamente situada) e crítica da racionalidade instrumental (que se confunde com a consolidação do horizonte da razão ocidental).
A recuperação da negatividade
Mas é possível que alguém estranhe o fato de falar em produtividade do pensamento quando se é questão de uma dialética negativa. Adorno sabia do passo que dava ao afirmar que a dialética não deveria mais ser compreendida como dialética idealista, nem como materialismo dialético, mas como esta estranha alcunha de dialética negativa:
A formulação “Dialética negativa” vai contra a tradição. Desde Platão, a dialética procura estabelecer algo de positivo através do pensamento ( Denkmittel ) da negação; figura que uma negação da negação posteriormente nomeará de maneira pregnante. O livro [no caso, a Dialética negativa] gostaria de livrar ( befreien ) a dialética desta essência afirmativa, mas sem nada perder em termos de determinidade.
Livrar a dialética da sua essência afirmativa sem nada perder em termos de determinidade. Uma função não exatamente evidente que passa por compreender de forma totalmente nova o que pode ser “determinar algo”. Determinar é predicar algo com atributos diferenciais capazes de identificar um termo, é definir sua polaridade com seu contrário, é adequar a experiência da coisa aos limites do que pode ser representado? Na verdade, todo o problema, e ele está longe de ter sido realmente resolvido, passa por definir o que significa uma atividade que tem sua força motriz na capacidade de negar a si mesma. Ela nos permite começar a pensar o que significa algo que poderíamos chamar de “determinação instável”, pois determinação que não se define através de alguma diferenciação ontologicamente assegurada, mas que sempre se desloca devido a um movimento interno no qual sua abertura nunca se esgota por completo.
Houve um momento histórico no qual a dialética precisou colocar tal força motriz em evidência, levá-la à frente de forma incondicional, se quisesse dar ao pensamento as condições de sua produtividade. Pois aceitemos, com Martin Seel, que: “no coração da teoria adorniana não se encontra a negação, mas a exposição da positividade que a força e o enfoque na negação produzem”. 7 Porque, de acordo com o momento histórico, a dialética não teme em usar o positivo ou o negativo. Ela é um pensamento que se desloca em um tempo que não é apenas temporalidade inerte, mas historicidade que exige certa plasticidade das estratégias do pensar. A dialética demonstra como toda enunciação filosófica é sempre uma enunciação em situação. Uma enunciação filosófica não se produz através da definição normativa do dever-ser, e ninguém mais do que Hegel recusou tal ideia. Ela se produz através do reconhecimento da forma específica do sofrimento em relação aos limites da situação em que os sujeitos da enunciação se encontram. Por estar disposta a ouvir tal sofrimento, ela nasce como crítica, sem que precise começar por definir qual seria o horizonte normativo que a legitima. Por estar em processualidade contínua, a dialética precisa de uma ontologia capaz de conservar a proximidade do pensamento em relação ao que ainda não está realizado, mas esta será uma ontologia em situação.
Nesse sentido, liberar a dialética de sua essência afirmativa nunca foi, como alguns gostariam de acreditar, perpetuar a eterna melancolia dos que só veem possibilidades que nunca se realizariam por completo, seja porque a efetividade social no capitalismo impede toda reconciliação possível, seja porque os traumas históricos do século XX exigem meditar infinitamente sobre a barbárie, ou seja ainda porque o pensamento assumiu uma ontologia da inadequação. Há um equívoco fundamental de setores importantes da filosofia contemporânea a respeito do que realmente significa a atividade negativa. A leitura moral da negatividade como a força niilista de ressentimento contra o acontecimento é ruim por confundir crítica e resignação. Já a tentativa de reduzir a negatividade a uma figura do escapismo aristocrático (como vemos na tradição que se abre com Jürgen Habermas) só poderia aparecer em um país como a Alemanha contemporânea, marcado pelo vínculo compulsivo a um modelo de gestão social, no caso, o estado do bem-estar social, que só pode sobreviver por eliminar todo horizonte de transformação real. Pois, longe de ser uma figura moral da resignação diante do não realizado, longe de ser o mantra de um culto teológico à impossibilidade, a negatividade em Adorno é forma de não esmagar a possibilidade no interior das figuras disponíveis das determinações presentes ou, e este é o ponto talvez mais importante, no interior de qualquer presente futuro que se coloque como promessa. 10 Ou seja, a possibilidade não é apenas mera possibilidade que aparece como ideal irrealizado. Ela é a latência do existente que nos esclarece de onde a existência retira sua força para se mover. Esta é a dimensão irredutivelmente revolucionária da dialética.
Se tal latência deve ser compreendida como negatividade, ou se quisermos utilizar o termo adorniano mais preciso, como “não-identidade”, é porque ela pede a desintegração do que se sedimentou ou do que procura se sedimentar como presença. Esta é uma ideia fundamental da dialética: começa-se pensando contra representações naturais que se sedimentaram principalmente em uma estética transcendental, em um conceito representativo de espaço e tempo. Começa-se a pensar colocando em marcha uma “lógica da desintegração”, como dizia Adorno. 11 O que não poderia ser diferente, já que a inflexão marxista da dialética adorniana, e neste ponto a influência de História e consciência de classe, de Lukács, não é negligenciável, deu-lhe a sensibilidade de perceber como a crítica do capitalismo não poderia ser apenas crítica aos processos de pauperização social e de concentração econômica produzidos pela dinâmica de autovalorização do Capital. Ela deveria também ser crítica aos seus modos de racionalização e objetivação, à “estética transcendental” do capitalismo contemporâneo, ou seja, crítica a seu modo de unificar o espaço através da intercambialidade, de esvaziar o tempo de suas distinções qualitativas, prensando-o em uma pulsação de aceleração/desaceleração infinito ruim e, assim, de controlar a vida ao definir a forma geral do que pode ser experimentado, percebido e desejado. Crítica às formas gerais da objetividade. Esse modelo de racionalização é regime de determinação das condições de possibilidade do existente e contra ele a dialética um dia compreendeu que precisaria saber mobilizar as forças diabólicas do grau zero da determinação.
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.