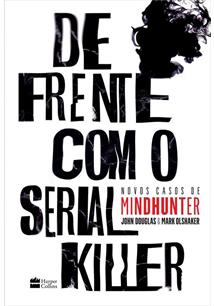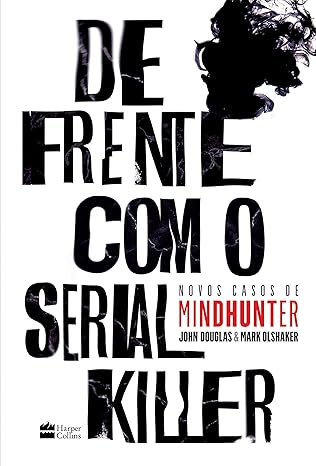
Dos mesmos autores de Mindhunter, De Frente com o Serial Killer traz John Douglas, lendário ex-agente do FBI, revelando as estratégias usadas para solucionar seus casos mais desafiadores. Conhecido por entrevistar criminosos como Ed Gein e Charles Manson, Douglas relata nesta obra seus confrontos mais perturbadores com assassinos como Joseph McGowan e Todd Kohlhepp. Com sua habilidade única de se colocar no lugar da vítima e do predador, ele constrói conexões com os criminosos para entender suas motivações. O livro explora técnicas de investigação, análise comportamental e psicologia criminal, revelando como o FBI combate a maldade extrema. Uma imersão na mente de serial killers e no trabalho daqueles que os caçam.
Editora: HarperCollins Brasil – 12 agosto 2019; Páginas: 368 páginas; ISBN: 978-8595085466; ASIN: B07TTPZLJJ
Leia trecho do livro
Dedico este livro com amor e admiração à memória de Joan Angela D’Alessandro e em homenagem a Rosemarie D’Alessandro e a todas as pessoas que, através de sua inspiração, coragem e determinação, lutam por justiça e segurança para as crianças
EM UMA PEQUENA SALA NA PRISÃO
Aqui não importa tanto Quem fez?, e sim Por que fez?
No fim, se descobrirmos Por quê? e acrescentarmos Como?, também desvendaremos Quem?, uma vez que Por quê? + Como? = Quem.
O objetivo não é ser amigo. O objetivo não é ser inimigo. O objetivo é descobrir a verdade.
É uma partida de xadrez verbal e mental sem peças, uma sessão de treinamento sem contato corporal, uma prova de resistência na qual cada lado busca e explora as fraquezas e inseguranças do oponente.
Sentamos um de frente para o outro diante de uma pequena mesa em uma sala com luz baixa cujas paredes de tijolos são pintadas de um cinza-azulado pálido. A única janela fica na porta de ferro trancada, pequena e reforçada com uma tela de metal. Um guarda uniformizado observa do outro lado, certificando-se de que tudo esteja em ordem.
Em uma prisão de segurança máxima, essa é a premissa mais importante.
Nós já estamos nessa conversa há duas horas quando, enfim, o momento chega.
“Quero saber, nas suas palavras, como tudo aconteceu há 25 anos. Como você veio parar aqui? A garota, Joan, você a conhecia?”
“Já tinha visto ela pela vizinhança”, responde ele. Sua postura era calma, e o tom de voz, tranquilo.
“Vamos voltar ao momento em que ela bateu na sua porta. Diga-me o que aconteceu, passo a passo, a partir daí.”
É quase como uma hipnose. A sala fica em silêncio, e o vejo se transformar na minha frente. Até sua aparência fisica parece mudar diante dos meus olhos. O olhar fica desfocado, atravessa-me e paira na parede vazia. Ele está voltando para outro tempo e lugar; para a única história que nunca saiu de sua cabeça.
A sala está muito fria e, apesar de eu estar de paletó, faço um esforço para não tremer. Porém, conforme reconta a história, o homem começa a transpirar. Sua respiração fica cada vez mais forte e audível. Logo a camisa dele está ensopada de suor e, por baixo dela, os músculos do peito estremecem.
Ele relata tudo dessa maneira, sem olhar para mim, como se estivesse falando sozinho. Ele está em uma espécie de transe, naquela hora e naquele local, pensando agora no que pensava no momento.
Por um instante, ele se vira para me encarar. Olha no fundo dos meus olhos e diz:
“John, quando ouvi a batida na porta, olhei pelo vidro e vi quem estava ali, eu sabia que ia matá-la.”
INTRODUÇÃO
APRENDENDO COM ESPECIALISTAS
Este é um livro sobre a forma que os predadores violentos pensam — o alicerce dos meus 25 anos de trabalho como agente especial do FBI, pesquisador de perfis comportamentais e analista investigativo criminal, além do trabalho que tenho feito desde que me aposentei.
No entanto, também é um livro sobre conversas que tive. Afinal, foi através delas que tudo começou. Ao conversar, aprendi a usar o pensamento de um serial killer para ajudar oficiais da policia a capturá-lo e levá-lo à justiça. Para mim, esse foi o início do trabalho de análise de perfis comportamentais.
Iniciei o processo de entrevistar criminosos violentos encarcerados pelo que eu considerava uma necessidade pessoal e institucional, mas, de muitas maneiras, tudo começou com um desejo de entender as motivações ocultas desses criminosos. Como a maioria dos agentes especiais do FBI, fui designado para trabalhar nas ruas. Meu primeiro cargo foi em Detroit. Desde o início, tinha interesse em saber por que as pessoas cometiam crimes — não apenas no fato de os cometerem, mas por que praticavam tipos específicos.
Detroit era uma cidade violenta, e, enquanto estive lá, cobríamos até cinco roubos de banco por dia. Roubar um banco protegido pela Federal Deposit Insurance Corporation é um crime federal, então a jurisdição recai sobre o FBI, e muitos agentes eram designados para investigar esses casos, além de trabalharem em suas outras funções. No momento em que capturávamos um suspeito e liamos os seus direitos, em geral, no banco de trás de um carro do FBI ou da polícia local, eu o enchia de perguntas. Por que roubar um banco onde a segurança é acirrada e tudo é filmado, em vez de uma loja com alto giro de caixa? Por que este banco específico? Por que nestes dia e horário? O roubo foi planejado ou espontâneo? Você vigiou o banco antes e/ou fez uma vistoria por dentro? Comecei a catalogar as respostas e a desenvolver “perfis” informais (embora o termo ainda não fosse usado) de tipos de assaltantes. Comecei a ver a diferença entre crimes planejados e não planejados, organizados e desorganizados.
Chegamos ao ponto de começar a prever quais agências estavam localizadas em lugares com maior probabilidade de roubo e quando. Em áreas com muitos prédios, por exemplo, aprendemos que o fim da manhã de sexta-feira era um horário provável para se assaltar um banco, pois havia muito dinheiro sendo manuseado para descontar os cheques semanais dos trabalhadores de construção. Usamos esse tipo de inteligência para aumentar a segurança em alguns pontos e aguardar em outros, se achássemos que tínhamos chances de pegar assaltantes no ato.
Durante meu segundo cargo, em Milwaukee, fui enviado para a nova e moderna Academia do FBI em Quantico, na Virgínia, para fazer um curso de duas semanas sobre negociação envolvendo reféns. Os agentes especiais Howard Teten e Patrick Mullany, mestres da ciência comportamental do FBI, foram meus professores. A aula principal se chamava Criminologia Aplicada. Era uma tentativa de trazer a disciplina acadêmica de psicologia anormal para a análise de crimes e treinamento de novos agentes. Mullany via a negociação envolvendo reféns como o primeiro uso prático do programa de psicologia aplicada. Era um movimento inédito na luta contra a nova era do crime, que envolvia sequestros de aviões em pleno ar e roubos de banco com reféns, como o assalto ao banco em Brooklyn em 1972 que inspirou o filme com Al Pacino, Um dia de cão. Era uma grande vantagem para o negociador saber o que se passava na cabeça de um criminoso que mantinha reféns, e isso salvava vidas. Eu era um dos cerca de cinquenta agentes especiais da primeira turma daquele tipo de curso, que dava início a um experimento ousado no treinamento do FBI. O lendário diretor J. Edgar Hoover havia morrido três anos antes, mas sua imensa sombra ainda pairava sobre a agência.
Mesmo nos últimos anos, Hoover manteve o controle da agência que havia, essencialmente, criado com mão de ferro. Sua abordagem pragmática e dura à investigação ecoava o antigo programa de TV Dragnet: Somente os fatos. Tudo precisava ser medido e quantificado — prisões, condenações, casos resolvidos. Ele jamais teria incentivado algo tão impressionista, indutivo e “sensitivo” quanto a ciência comportamental. Na verdade, ele a teria considerado uma contradição em termos.
Enquanto frequentei o curso de negociação envolvendo reféns na Academia do FBI, meu nome percorreu a Unidade de Ciência Comportamental, e, antes de voltar para Milwaukee, recebi propostas para trabalhar nas Unidades de Ciência Comportamental e Educacional. Apesar de nosso núcleo se chamar Ciência Comportamental, a responsabilidade principal de seus nove agentes era ensinar. Os cursos incluíam Psicologia criminal aplicada, Negociação envolvendo reféns, Problemas práticos da polícia, Gerenciamento de estresse da policia e Crimes sexuais, que, mais tarde, foi modificado pelo meu grande colega Roy Hazelwood para Violência interpessoal.
Embora o modelo “tripé” de ensino, pesquisa e consulta estivesse começando a tomar forma na Academia, todos os casos de consulta que mestres como Teten apresentavam eram estritamente informais e não faziam parte de nenhum programa organizado. O foco dessas 40 horas em sala de aula era no assunto de maior interesse dos investigadores criminais — Motivação: Por que os criminosos fazem o que fazem, das maneiras que fazem, e como a compreensão disso pode ajudar a capturá-los? O problema dessa abordagem era que a maioria do conteúdo ainda vinha da esfera acadêmica, o que se tornava evidente quando policiais sênior que frequentavam o programa apresentavam ter mais experiência nos casos do que os instrutores.
Ninguém era mais vulnerável nessa área do que o instrutor mais jovem da equipe: eu. Lá estava eu, de pé na frente de uma sala cheia de detetives e policiais experientes, a maioria bem mais velho. Meu papel era ensinar o que se passava na mente de um criminoso, algo que pudessem de fato usar para solucionar casos. Muito da minha experiência nas ruas viera do trabalho com policiais e detetives de homicídios em Detroit e Milwaukee, portanto, parecia prepotente de minha parte falar para aqueles homens sobre o trabalho deles.
Havia uma percepção crescente, em muitos de nós, de que o que era aplicável à comunidade de saúde mental e psiquiátrica tinha pouca relevância na aplicação da lei.
Mesmo assim, comecei a receber os mesmos tipos de pergunta que Teten recebia. Nas aulas, durante os intervalos e até mesmo à noite, policiais e detetives vinham até nós para pedir ajuda ou conselhos sobre seus casos ativos. Se eu apresentasse um exemplo que tivesse qualquer semelhança àquele em que estivessem trabalhando, eles supunham que eu poderia ajudá-los a solucioná-lo. Eles me viam como uma voz de autoridade. Mas será que eu era mesmo? Tinha que haver uma maneira mais prática de unir dados úteis e estudos de caso que me dessem mais confiança para sentir que eu realmente sabia o que estava falando.
Como era o segundo mais novo, Robert Ressler se engajou em me ajudar a modificar a cultura da Academia e também para eu me sentir mais confortável dando aula. Cerca de oito anos mais velho do que eu, Bob desenvolvia o que Teten e Mullany haviam feito, com o objetivo de aproximar a disciplina de análise comportamental a algo que pudesse ser usado pelos departamentos de polícia e investigadores criminais. A forma mais eficiente de dar um pouco de experiência a um novo instrutor em por meio do que chamávamos de aulas itinerantes. Instrutores de Quantico passavam uma semana ensinando algo como uma versão dos principais casos das disciplinas da Academia para um departamento de policia ou para policiais que haviam solicitado o treinamento. Depois, os professores seguiam para outra cidade por mais uma semana antes de voltarem para casa com as memórias de quartos de hotéis baratos e uma mala cheia de roupa suja. Então, Bob e eu colocamos o pé na estrada.
Certa manhã de 1978, Bob e eu estávamos saindo de Sacramento, na Califórnia, local de nossa última aula itinerante. Comentei que a maioria dos criminosos sobre os quais ensinávamos ainda estava viva e poderíamos facilmente descobrir em que prisão eles se encontravam, uma vez que não tinham para onde fugir. Por que não tentar conversar com alguns deles, descobrir como era um crime através dos olhos deles, fazer com que relembrassem as cenas e nos contassem por que haviam feito aquilo e o que se passava em suas mentes no momento do crime? Pensei que valia a tentativa, e que alguns deles estariam tão entediados com a rotina da prisão que gostariam de ter a chance de falar um pouco de si.
Havia pouquíssima pesquisa disponível sobre entrevistas com prisioneiros, e o que existia dizia respeito especificamente a condenações, liberdade condicional e reabilitação. Contudo, os registros pareciam indicar que os prisioneiros violentos e narcisistas, de modo geral, eram incorrigíveis — o que significava que não eram capazes de ser controlados ou reabilitados. Ao conversar com eles, esperávamos descobrir se isso era mesmo verdade.
No início, Bob estava cético, mas disposto a seguir adiante com essa ideia louca. Ele havia servido no exército, e entre este e o FBI, vivenciara tanta burocracia que seu mantra era: “É melhor pedir desculpa do que permissão.” Apareceríamos nos presídios sem avisar. Naquele tempo, uma credencial do FBI nos permitia entrar nas prisões sem autorização prévia. Se comunicássemos com antecedência que estávamos a caminho, havia o risco de esse assunto correr entre o presídio. E se soubessem que um detento planejava falar com dois agentes federais, os outros presos poderiam pensar que ele em um dedo-duro.
Ao embarcarmos nesse projeto, tínhamos algumas ideias preconcebidas do que encontraríamos durante as entrevistas. Dentre elas:
Todos os presos se declarariam inocentes.
Eles colocariam a culpa de suas condenações em uma defesa ruim.
Não falariam com agentes federais por vontade própria.
Criminosos sexuais se mostrariam pessoas viciadas em sexo.
Se houvesse pena de morte no estado em que o assassinato tivesse ocorrido, eles alegariam não ter matado as vítimas.
Eles projetariam a culpa nas vítimas.
Todos vinham de uma família com histórico disfuncional.
Sabiam a diferença entre o certo e o errado e a natureza das consequências de seus atos.
Não tinham doenças mentais nem eram insanos.
Serial killers e estupradores tenderiam a ser muito inteligentes.
Todos os pedófilos são molestadores de crianças.
Todos os molestadores de crianças são pedófilos.
As pessoas se transformam em serial killers, não nascem assim.
Conforme veremos nas páginas desse livro, algumas dessas suposições se provaram corretas, enquanto outras estavam bastante equivocadas.
Para nossa surpresa, a grande maioria dos prisioneiros que procuramos concordou em conversar conosco. Por diversas razões. Alguns achavam que cooperar com o FBI seria bom para a ficha deles, e nós não fazíamos nada para dissuadir essa ideia. Outros, talvez tenham ficado intimidados. Diversos detentos, sobretudo os mais violentos, não recebem muitas visitas, portanto era uma maneira de aliviar o tédio que sentiam, falar com alguém do mundo exterior e passar algumas horas fora de suas celas. Havia alguns que estavam tão convencidos da própria capacidade de enganar a todos que viam a entrevista como um jogo em potencial.
No fim, o que começou como uma simples ideia pelas ruas de Sacramento — conversas com assassinos — virou um projeto que mudaria a carreira e a vida tanto de Bob quanto a minha, além dos agentes especiais que viriam a se juntar à equipe e acrescentar uma nova dimensão ao arsenal da luta do FBI contra o crime. Antes de completar nossa fase inicial de entrevistas, tínhamos analisado e conversado com o fetichista de sapatos e estrangulador Jerome Brudos, em Oregon, que gostava de colocar sapatos de salto alto em suas vítimas mortas, tirados de seu enorme armário de roupas femininas; Monte Rissell, que estuprou e assassinou cinco mulheres durante a adolescência em Alexandria, na Virgínia; David Berkowitz, o Assassino do Calibre .44 e Son of Sam, que aterrorizou a cidade de Nova York em 1976 e 1977; e outros.
Ao longo dos anos, meus analistas de perfil em Quantico e eu entrevistamos vários outros predadores violentos e serial killers, incluindo Ted Bundy, o prolífico assassino de jovens mulheres, e Gary Heidnik, que aprisionava, torturava e matava mulheres no porão de sua casa na Filadélfia. Esses dois facínoras forneceram traços característicos para o escritor Thomas Harris em O silêncio dos inocentes, assim como Ed Gein, o sujeito recluso de Wisconsin que entrevistei no Mendota Mental Health Institute, em Madison, que matava mulheres para usar a pele delas. Ele também serviu de modelo para Norman Bates, personagem do famoso livro de Robert Bloch, Psicose, base para o clássico filme homónimo de Alfred Hitchcock. Infelizmente, a idade e a doença mental de Gein resultaram em um padrão de pensamentos tão desordenados e confusos que a entrevista não foi produtiva. No entanto, ele ainda gostava de trabalhar com couro, produzindo carteiras e cintos.
Por fim, o que surgiu foi uma série de rigorosos métodos de entrevista que nos permitiu começar a correlacionar o crime ao que se passava de fato na mente do criminoso no fatídico momento. Pela primeira vez, tínhamos uma maneira de conectar e compreender o que se passava na cabeça de um criminoso com evidências deixadas na cena do crime e com o que dizia à vítima, caso esta tivesse sobrevivido, ou o que havia sido feito no corpo antes e após a morte. Como costumamos dizer, isso nos ajudou a começar a responder à antiga pergunta: “Que tipo de pessoa faria algo assim?”
Quando terminamos nossa primeira rodada de entrevistas, já sabíamos que tipo de pessoa faria algo assim, e três palavras pareciam caracterizar as motivações de cada um dos criminosos: manipulação, dominação e controle.
As conversas foram o ponto de partida para tudo que veio depois. Todo o conhecimento que reunimos, as conclusões a que chegamos, o livro Sexual Homicide que resultou de nossa pesquisa e o Manual de classificação criminal que criamos, os assassinos que ajudamos a capturar e processar —tudo isso teve início ao sentarmos de frente para assassinos e perguntarmos a eles sobre suas vidas, com o intuito de entender o que os levou a matar uma pessoa ou, em alguns casos, várias pessoas. Tudo foi possível porque prestamos atenção a esse grupo de instrutores nunca antes explorado: os próprios criminosos.
Vamos observar com atenção quatro assassinos que confrontei após sair do FBI, usando as mesmas técnicas que desenvolvemos durante nosso extenso estudo. São todos diferentes entre si, cada um com as próprias técnicas, motivações e composições psíquicas. Variam de uma única vítima até cerca de uma centena, e aprendi com todos. Os contrastes entre eles são intrigantes e envolventes — assim como as similaridades. Todos são predadores e cresceram sem criar laços de confiança com outros seres humanos durante os anos de formação. E todos são casos importantes em um dos debates centrais da ciência comportamental: natureza versus criação, se assassinos nascem da forma que são ou se acabam se tornando homicidas durante a vida.
No FBI, operávamos com base na equação Por quê? + Como? = Quem. Quando entrevistamos criminosos condenados, podemos reverter a engenharia desse processo. Sabemos Quem e O quê. Ao combinar os dois, descobrimos os tão importantes Como? e Por quê?.

1
A GAROTA PERDIDA
Foi logo depois do feriado de Quatro de Julho de 1998 que peguei o trem para o norte a fim de entrevistar um possível novo “instrutor”. Seu nome era Joseph McGowan e ele havia sido professor de química e feito um mestrado. Porém, em vez de um título acadêmico formal, ele agora era oficialmente conhecido como o detento n° 55722 em sua residência de longa data, a Prisão Estadual de Nova Jersey, em Trenton.
Motivo da prisão: estupro, estrangulamento e assassinato violento de uma garota de 7 anos que havia ido até a casa dele para entregar duas caixas de biscoito das escoteiras, 25 anos antes.
Enquanto o trem seguia rumo ao norte, eu me preparava. Essa é uma etapa sempre importante quando se vai conversar com um assassino, e, nessa ocasião em especial, mais do que nunca — afinal de contas, a conversa teria consequências muito além de informativas ou acadêmicas. Eu havia sido chamado pelo Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey para ajudar a determinar se McGowan, que já tivera a liberdade condicional negada duas vezes, deveria voltar ao convívio em sociedade.
Naquele tempo, o presidente do Conselho de Liberdade Condicional do estado de Nova Jersey era um advogado chamado Andrew Consovoy. Ele entrou no conselho em 1989, e enquanto o caso de McGowan surgia pela terceira vez, tinha sido eleito presidente há pouco tempo. Consovoy lera nosso livro Mindhunter após me ouvir no rádio certa noite e havia recomendado a leitura para o diretor executivo do conselho, Robert Egles.
“Uma das coisas que percebi após ler este e outros livros seus é que você tinha toda a informação do que estava acontecendo”, relatou Consovoy anos depois. “Você precisava descobrir quem eram aquelas pessoas. Elas não começaram a existir no dia em que foram presas.”
Com base nessa perspectiva, ele formulou uma unidade de investigações especial que operava sob o aval do conselho. Consistia em dois policiais aposentados e um pesquisador. A função era analisar a fundo os casos questionáveis de liberdade condicional e fornecer aos membros do conselho o máximo de informação possível sobre o solicitante, para que pudessem tomar uma decisão. Eles me chamaram para uma consulta sobre o caso de McGowan.
Consovoy e Egles me buscaram na estação de trem e me levaram para um hotel em Lambertville, uma cidade pitoresca às margens do rio Delaware. Lá, Egles me entregou cópias de tudo que constava no arquivo do caso.
Nós três fomos jantar naquela noite e falamos de forma geral sobre o trabalho que eu fazia, mas não comentamos sobre as especificidades do caso. Tudo que tinham me contado era que o sujeito matara uma menina de 7 anos e que queriam saber se ele ainda era considerado perigoso.
Após o jantar, eles me deixaram no hotel, onde abri o arquivo do caso e dei início a muitas horas de revisão. Meu papel era ver o que eu conseguia identificar sobre o estado mental de McGowan — tanto o daquela época quanto o atual. Ele sabia a natureza e as consequências de seu crime? Conseguia discernir o certo do errado? Importava-se com o que havia feito? Sentia algum remorso?
Qual seria sua conduta durante a entrevista? Ele relembraria detalhes específicos do crime? Se fosse solto, onde pretendia morar e o que pretendia fazer? Como ganharia dinheiro para se sustentar?
Minha regra crucial nas entrevistas na prisão é nunca ir despreparado. Também desenvolvi a prática de não entrar com anotações, pois isso poderia criar uma distância artificial ou uma espécie de barreira entre nós quando chegasse o momento de explorar e ir em busca da camada mais profunda de sua psique.
Eu não sabia o resultado dessa entrevista, mas imaginei que seria esclarecedora. Pois, como disse no início, toda vez que conversava com algum dos “especialistas”, aprendia algo valioso. E uma das coisas que precisavam ser descobertas era justamente que tipo de especialista Joseph McGowan viria a ser.
Olhei os arquivos do caso, examinando mais uma vez as evidências e organizando meus pensamentos para a entrevista do dia seguinte. Ao fazer isso, uma história sinistra foi revelada.
FIM DA AMOSTRA…
Livros relacionados
Livro 'Com amor, Freddie: A vida e o amor secreto de Fr...
Livro 'Coisa de Rico: A vida dos endinheirados brasilei...
Livro 'Análise' por Vera Iaconelli
Livro 'O Nazista e o Psiquiatra' por Jack El-Hai