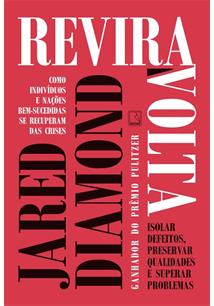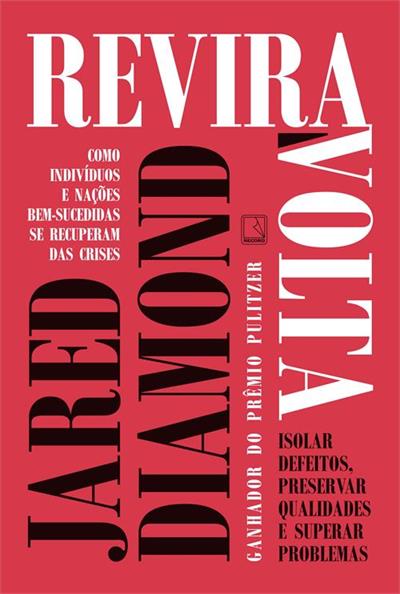
Em Reviravolta, por meio de um impressionante estudo comparativo, Jared Diamond mostra como sete países bem-sucedidos (Finlândia, Japão, Chile, Indonésia, Alemanha, Austrália e Estados Unidos) se recuperaram de crises ao adotar mudanças seletivas — um mecanismo de enfrentamento mais comumente associado a indivíduos que se recuperam de crises pessoais. Essas nações experimentaram, em vários níveis, mecanismos como o reconhecimento da responsabilidade e a autoavaliação honesta, e aprenderam a se recuperar a partir de modelos de outras nações. Olhando para o futuro, o autor examina se Estados Unidos...
Capa comum: 504 páginas ISBN-13: 978-8501116864 Dimensões: 22.6 x 15.4 x 3 cm Editora: Record; 1ª edição (18 julho 2019)
Clique na imagem para ler o livro
Leia trecho do livro
PRÓLOGO
LEGADOS DE COCOANUT GROVE
Duas histórias — O que é uma crise? — Crises individuais e nacionais — O que este livro é e o que não é — Plano do livro
Pelo menos uma vez na vida, a maioria de nós passa por uma reviravolta ou crise pessoal que pode ou não ser solucionada através de mudanças pessoais. Da mesma forma, nações passam por crises nacionais que podem ou não ser solucionadas através de mudanças nacionais. Os terapeutas acumularam um amplo conjunto de pesquisas e informações empíricas sobre a resolução de crises pessoais. Mas suas conclusões poderiam nos ajudar a compreender a resolução de crises nacionais?
Para ilustrar crises pessoais e nacionais, começarei este livro com duas histórias de minha própria vida. Dizem que as primeiras memórias consistentes e datáveis de uma criança se estabelecem a partir dos 4 anos, embora possamos reter recordações indistintas de eventos anteriores. Essa generalização se aplica a mim, pois a primeira lembrança que consigo datar é o incêndio da Cocoanut Grove, em Boston, que ocorreu logo após meu quinto aniversário. Apesar de (felizmente) não estar presente no momento do incêndio, eu o vivi indiretamente por meio dos assustadores relatos de meu pai, que era médico.
Em 28 de novembro de 1942, um incêndio se espalhou rapidamente por uma superlotada boate de Boston chamada Cocoanut Grove (na ortografia do proprietário), cuja única saída ficou bloqueada. No total, 492 pessoas morreram, e centenas ficaram feridas em função da asfixia, da inalação de fumaça, ou do fato de terem sido pisoteadas ou sofrido queimaduras (ver figura 1 do encarte). Os médicos e hospitais de Boston ficaram sobrecarregados, não somente com os feridos e agonizantes do incêndio, mas também com as vítimas psicológicas: familiares angustiados por saberem que maridos, esposas, filhos ou irmãos haviam morrido de forma terrível e sobreviventes, traumatizados pela culpa de terem sobrevivido enquanto centenas de outras pessoas haviam morrido. Até as 22h15, suas vidas seguiam normalmente, focadas no feriado de Ação de Graças, em um jogo de futebol americano e na licença dos soldados que lutavam na guerra. Às 23 horas, a maioria das vítimas já estava morta, e as vidas de seus familiares e dos sobreviventes estavam em crise. Suas trajetórias saíram dos trilhos. Sentiam-se envergonhados por estarem vivos enquanto um ente querido estava morto. Os parentes haviam perdido alguém fundamental a suas próprias identidades. Não somente para os sobreviventes, mas também para os moradores de Boston que estavam distantes do local (inclusive eu aos 5 anos), o incêndio abalou a fé em um mundo justo. Os punidos não eram meninos malcriados ou pessoas más, e sim pessoas comuns, mortas sem terem incorrido em nenhuma falta.
Alguns sobreviventes e familiares permaneceram traumatizados pelo resto da vida. Uns poucos cometeram suicídio. Mas a maioria, após várias semanas intensamente dolorosas, durante as quais não conseguiram aceitar a perda, deu início a um lento processo de luto, revendo valores, reconstruindo a vida e descobrindo que nem tudo no mundo estava arruinado. Muitos que haviam perdido cônjuges voltaram a se casar. No entanto, mesmo nos melhores casos, décadas depois eles continuaram a ser mosaicos de suas antigas identidades e das novas, formadas após o incêndio de Cocoanut Grove. Ao longo deste livro, teremos muitas oportunidades de aplicar a metáfora do “mosaico” a indivíduos e nações nos quais elementos discrepantes coexistem com dificuldade.
Cocoanut Grove oferece um exemplo extremo de crise pessoal. Mas só foi extremo porque coisas ruins aconteceram simultaneamente a um grande número de vítimas — na verdade, foram tantas vítimas que o incêndio também provocou uma crise que demandou novas soluções no próprio campo da psicoterapia, como veremos no capítulo 1. Muitos de nós experimentam a tragédia individual diretamente, em nossas próprias vidas, ou de forma indireta, por meio das experiências de amigos ou familiares. Mas as tragédias que atingem somente uma pessoa são tão dolorosas para ela e para seu círculo de amigos quanto Cocoanut Grove foi para os amigos de suas 492 vítimas.
Para efeitos de comparação, eis um exemplo de crise nacional. Morei na Grã-Bretanha no fim da década de 1950 e início da década de 1960, quando a nação passava por uma lenta crise nacional, embora nem eu nem meus amigos britânicos compreendêssemos isso claramente. A Grã-Bretanha era líder mundial em ciências, abençoada com uma rica história cultural, orgulhosa e unicamente britânica, e ainda se deleitava com a lembrança de ter tido a maior frota e a maior riqueza do mundo, além do mais extenso império da história. Infelizmente, na década de 1950, estava sangrando economicamente, perdendo seu império e seu poder, em conflito sobre seu papel na Europa e lutando com duradouras diferenças de classe e recentes ondas de imigração. As coisas atingiram o ponto crítico entre 1956 e 1961, quando a Grã-Bretanha desativou todos os encouraçados remanescentes, experimentou os primeiros distúrbios raciais, teve de começar a conceder independência às colônias africanas e viu a crise do canal de Suez expor a humilhante perda de sua habilidade de agir independentemente como potência mundial. Meus amigos britânicos se esforçavam para entender esses eventos e explicá-los a mim, o visitante americano.
Esses golpes intensificaram as discussões, entre o povo e os políticos, sobre a identidade e o papel da Grã-Bretanha.
Hoje, sessenta anos depois, a Grã-Bretanha é um mosaico de seu antigo e de seu novo ser. Ela se desfez do império, tornou-se uma sociedade multiétnica e adotou o Estado de bem-estar social e escolas públicas de alta qualidade para reduzir as diferenças de classe. Jamais retomou seu domínio naval e econômico e permanece notoriamente em conflito (“Brexit”) sobre seu papel na Europa. Mas ainda está entre as seis nações mais ricas do mundo, ainda é uma democracia parlamentar sob uma monarca representativa, ainda é líder mundial em ciência e tecnologia e ainda tem como moeda a libra esterlina, e não o euro.
Essas duas histórias ilustram o tema deste livro. Crises e pressões por mudança atingem indivíduos e grupos em todos os níveis, de uma única pessoa a equipes, negócios, nações e o mundo todo. As crises podem surgir de pressões externas — como quando uma pessoa é abandonada pelo cônjuge ou se torna viúva, ou quando uma nação é ameaçada ou atacada por outra. E podem, ainda, surgir de pressões internas — como quando uma pessoa adoece ou uma nação enfrenta conflitos civis. Lidar de maneira bem-sucedida com pressões externas ou internas requer mudança seletiva. Isso é um fato tanto para nações quanto para indivíduos.
A palavra-chave aqui é “seletiva”. Não é possível nem desejável que indivíduos ou nações mudem completamente e descartem tudo de sua antiga identidade. O desafio, para nações e indivíduos em crise, é descobrir quais partes de suas identidades ainda funcionam e não precisam mudar e quais já não funcionam e precisam. Indivíduos e nações sob pressão devem avaliar de forma honesta suas habilidades e valores. Devem decidir o que de si mesmos ainda funciona, o que permanece apropriado mesmo que sob novas circunstâncias e, portanto, pode ser mantido. Inversamente, precisam ter coragem para reconhecer o que deve ser mudado a fim de lidarem com a nova situação. Isso exige que encontrem soluções compatíveis com suas habilidades e com o restante do seu ser. Ao mesmo tempo, têm de estabelecer um limite e enfatizar elementos que são tão fundamentais a suas identidades a ponto de não poder modificá-los.
Esses são alguns dos paralelos entre indivíduos e nações no que diz respeito às crises. Mas também há diferenças evidentes, que precisamos reconhecer.
Como definimos uma “crise”? Um ponto de partida conveniente é o fato de a palavra derivar do substantivo grego krisis e do verbo grego krino, que possuem vários significados relacionados: “separar”, “decidir”, “distinguir” e “ponto de virada”. Consequentemente, podemos pensar em uma crise como o momento da verdade, um ponto de virada no qual as condições antes e depois daquele “momento” são “muito mais” diferentes umas das outras do que antes e depois da “maioria” dos outros momentos. Coloquei as palavras “momento”, “muito mais” e “maioria” entre aspas porque é um problema prático decidir quão breve deve ser o momento, quão diferentes devem ser as condições modificadas e quão mais raro do que a maioria dos outros momentos deve ser um ponto de virada para que o rotulemos de “crise”, em vez de apenas percebê-lo como outro pico na linha de eventos ou uma evolução gradual e natural de mudanças.
O ponto de virada representa um desafio. Cria pressão para concebermos novos métodos de enfrentamento quando os antigos se provam inadequados. Se um indivíduo ou uma nação concebe métodos novos e melhores, dizemos que a crise foi superada com sucesso. Mas veremos no capítulo 1 que a diferença entre sucesso e fracasso ao superar uma crise frequentemente não é nítida, pois o sucesso pode ser parcial ou não durar para sempre, e o mesmo problema pode retornar. (Pense no Reino Unido “solucionando” o problema de seu papel no mundo ao entrar na União Europeia em 1973, e então votando para deixá-la em 2017.)
Ilustremos agora o problema prático: quão breve, sério e raro deve ser um ponto de virada para merecer o uso do termo “crise”? Com que frequência, na vida de um indivíduo ou em um milênio de história regional, é útil rotular o que acontece de “crise”? Essas perguntas possuem respostas alternativas, e diferentes respostas se provam úteis para diferentes objetivos.
Uma resposta extrema restringe o termo “crise” a intervalos longos e reviravoltas raras e dramáticas. Por exemplo, apenas algumas vezes na vida de um indivíduo, e a cada poucos séculos em uma nação. Um historiador da Roma antiga poderia aplicar a palavra “crise” a somente três eventos após a fundação da República Romana, por volta de 509 a.C.: as primeiras duas guerras contra Cartago (264-241 a.C. e 218-201 a.C.), a substituição do governo republicano pelo império (por volta de 23 a.C.) e as invasões bárbaras que levaram à queda do Império Romano do Ocidente (por volta de 476 d.C.). É claro que esse historiador não consideraria trivial todo o restante da história romana entre 509 a.C. e 476 d.C.; ele apenas reservaria o termo “crise” para esses três eventos excepcionais.
No extremo oposto, meu colega da UCLA David Rigby e seus associados Pierre-Alexandre Balland e Ron Boschma publicaram um excelente estudo sobre “crises tecnológicas” nas cidades americanas, que definiram operacionalmente como prolongados períodos de queda nos pedidos de registro de patentes, com a palavra “prolongados” matematicamente definida. De acordo com essas definições, descobriram que as cidades americanas passam por uma crise tecnológica em média a cada doze anos, que as crises duram em média quatro anos e que a cidade americana média as enfrenta por cerca de três anos a cada década. Essa definição foi produtiva para entender uma questão de grande interesse prático: o que permite que algumas cidades, mas não outras, evitem as crises tecnológicas assim definidas? O historiador romano acharia que os eventos estudados por David e seus colegas são bagatelas efêmeras, ao passo que David e seus colegas responderiam que o historiador romano está negligenciando tudo que aconteceu em 985 anos de história romana, com exceção de três eventos.
A questão é que podemos definir “crise” de diferentes maneiras, de acordo com diferentes frequências, durações e escalas de impacto. É útil estudar tanto as crises grandes e raras quanto as crises pequenas e frequentes. Neste livro, a escala temporal que adoto vai de algumas décadas a um século. Todos os países que discuto passaram pelo que considero uma “grande crise” durante minha vida. Mas isso não significa que também não experimentaram pontos de virada menores e mais frequentes.
Tanto nas crises individuais quanto nas nacionais, muitas vezes focamos em um único momento da verdade, por exemplo: o dia em que a esposa diz ao marido que vai pedir o divórcio ou (na história chilena) a data de 11 de setembro de 1973, quando os militares derrubaram o governo democrático do Chile, cujo presidente cometeu suicídio. Algumas crises realmente chegam do nada, sem antecedentes, como o tsunami de 26 de dezembro de 2004 em Sumatra, que matou 200 mil pessoas, ou a morte de meu primo no auge da vida, quando seu carro foi esmagado por um trem em um cruzamento ferroviário, deixando sua esposa viúva e seus quatro filhos órfãos. Mas a maioria das crises individuais e nacionais é o ponto culminante de mudanças evolutivas que se estendem por muitos anos, como o divórcio de um casal com prolongadas questões conjugais ou as dificuldades políticas e econômicas do Chile. A “crise” é a súbita percepção ou ação a respeito de pressões que se acumulam durante muito tempo. Essa verdade foi explicitamente reconhecida pelo primeiro-ministro australiano Gough Whitlam, que (como veremos no capítulo 7) criou um turbilhão de mudanças importantes implementadas durante dezenove dias de dezembro de 1972, mas minimizou as próprias reformas como “reconhecimento do que já aconteceu”.
Nações não são indivíduos em larga escala, diferem deles de muitas maneiras óbvias. Por que, apesar disso, é revelador olhar para as crises nacionais através da lente das crises individuais? Quais são as vantagens dessa abordagem?
Uma delas, que reconheço frequentemente ao discutir crises nacionais com amigos e estudantes, é que as crises individuais são mais familiares e compreensíveis para não historiadores. Assim, a perspectiva de crises individuais torna mais fácil a leitores leigos “identificarem-se” com as crises nacionais e compreenderem suas complexidades.
Outra vantagem é que o estudo de crises individuais gerou um roteiro com doze fatores que nos ajudam a entender seus diversos resultados. Esses fatores fornecem um proveitoso ponto de partida para criarmos um roteiro correspondente, com fatores que permitem compreender os resultados das crises nacionais. Veremos que alguns se traduzem diretamente das crises individuais para as nacionais. Por exemplo, indivíduos em crise frequentemente recebem ajuda de amigos, assim como nações em crise podem recrutar o auxílio de nações aliadas. Indivíduos em crise podem modelar suas soluções da forma que outros indivíduos lidaram com crises similares; nações em crise podem adotar e adaptar soluções criadas por nações que enfrentaram problemas similares. Indivíduos em crise podem obter autoconfiança do fato de terem sobrevivido a crises anteriores; o mesmo podem fazer as nações.
Esses estão entre os paralelos diretos. Mas veremos também que alguns fatores que esclarecem os resultados das crises individuais, embora não sejam diretamente transferíveis às crises nacionais, servem como metáforas úteis, sugerindo fatores relevantes. Eis um exemplo: terapeutas acharam útil definir uma qualidade dos indivíduos chamada “força do ego”. Embora nações não possuam força psicológica do ego, esse conceito sugere um importante correlato, isto é, a “identidade nacional”. De modo similar, a liberdade de escolha dos indivíduos na solução de uma crise é frequentemente limitada por restrições práticas, como a responsabilidade pelo cuidado com os filhos e as exigências profissionais. É claro que nações não são limitadas pela responsabilidade pelos filhos e por exigências profissionais. Mas veremos que experimentam limitações a sua liberdade de escolha por outras razões, como restrições geopolíticas e riqueza nacional.
A comparação também destaca características das crises nacionais que não possuem análogos nas crises individuais. Entre essas características distintivas está o fato de as nações possuírem líderes, mas os indivíduos não, de modo que questões sobre o papel da liderança surgem regularmente durante as crises nacionais, mas não durante as crises pessoais. Entre os historiadores, tem havido um longo debate sobre se líderes incomuns realmente mudam o curso da história (frequentemente chamada de visão “Grande Homem”) ou se os resultados históricos seriam similares sob qualquer outro provável líder. (A Segunda Guerra Mundial teria ocorrido se um acidente automobilístico que quase matou Hitler em 1930 realmente o tivesse matado?) Nações possuem as próprias instituições políticas e econômicas; indivíduos, não. A resolução das crises nacionais sempre envolve interações e decisões grupais no interior da nação, mas indivíduos frequentemente podem decidir por si mesmos. As crises nacionais podem ser solucionadas por revolução violenta (como no Chile em 1973) ou evolução pacífica (como na Austrália depois da Segunda Guerra Mundial), mas indivíduos sozinhos não realizam revoluções violentas.
Essas similaridades, metáforas e diferenças são a razão de eu considerar útil comparar crises individuais e nacionais a fim de ajudar meus alunos na UCLA a compreenderem as crises nacionais.
Leitores e críticos muitas vezes descobrem gradualmente, enquanto leem, que a cobertura e a abordagem de um livro não são as que esperavam e queriam. Quais são a cobertura e a abordagem deste livro, e o que não incluí aqui?

Este livro é um estudo comparativo, narrativo e exploratório de crises e mudanças seletivas que ocorrem há muitas décadas em sete nações modernas com as quais tenho muita experiência pessoal. Essas nações são a Finlândia, o Japão, o Chile, a Indonésia, a Alemanha, a Austrália e os Estados Unidos.
Consideremos individualmente essas palavras e frases.
Este é um livro comparativo. Não devota suas páginas a discutir apenas uma nação. Em vez disso, divide suas páginas entre sete nações, a fim de que possam ser comparadas. Autores de não ficção precisam escolher entre apresentar estudos de um único caso ou comparar múltiplos casos. Cada abordagem tem diferentes vantagens e limitações. Em determinada extensão de texto, é claro que o estudo de um único caso pode fornecer muito mais detalhes, mas estudos comparativos podem oferecer perspectivas e detectar questões que não emergiriam do estudo de caso individual.
As comparações históricas nos forçam a fazer perguntas que provavelmente não surgiriam ao estudar um único caso: por que certo tipo de evento produz o resultado R1 em um país se produziu um resultado R2, muito diferente, em outro? Por exemplo, histórias sobre a Guerra Civil Americana, que adoro ler, podem devotar seis páginas ao segundo dia da batalha de Gettysburg, mas não podem explorar por que a Guerra Civil Americana, ao contrário da espanhola ou da finlandesa, terminou com os vencedores poupando a vida dos derrotados. Autores de estudos de casos individuais frequentemente criticam estudos comparativos por serem muito simplificados e superficiais, ao passo que autores de estudos comparativos igualmente criticam estudos de casos individuais por serem incapazes de tratar das questões abrangentes. A última visão é expressa na frase “Aqueles que estudam um único país acabam por não entender nenhum”. Este livro é um estudo comparativo, com suas vantagens e limitações resultantes.
Como o livro divide suas páginas entre sete nações, estou dolorosamente consciente de que meu relato sobre cada uma delas precisa ser conciso. Sentado à minha mesa e olhando para trás, vejo no chão do escritório doze pilhas de livros e documentos, cada uma com 1,5 metro de altura e dedicada a um capítulo. Foi agonizante contemplar o fato de que precisaria condensar 1,5 metro de material sobre a Alemanha do pós-guerra em um capítulo de 11 mil palavras. Tanta coisa precisou ser omitida! Mas a concisão tem suas compensações: ajuda os leitores a compararem as principais questões entre a Alemanha do pós-guerra e outras nações, sem ficarem distraídos ou confusos com os fascinantes detalhes, exceções, senãos e poréns. Para leitores que queiram descobrir mais detalhes fascinantes, a bibliografia lista livros e artigos dedicados ao estudo de casos individuais.
O estilo de apresentação deste livro é narrativo, ou seja, o estilo tradicional dos historiadores desde a fundação da história como disciplina, desenvolvido pelos autores gregos Heródoto e Tucídides há mais de 2.400 anos. “Estilo narrativo” significa que os argumentos são desenvolvidos em prosa, sem equações, tabelas, gráficos ou testes estatísticos de significância, e somente com o estudo de um pequeno número de casos. Esse estilo pode ser comparado à nova e poderosa abordagem quantitativa nas modernas pesquisas de ciências sociais, que faz uso pesado de equações, hipóteses explícitas e testáveis, tabelas de dados, gráficos e amplas amostras (ou seja, muitos casos estudados) que permitem testes estatísticos de significância.
Aprendi a valorizar o poder dos métodos quantitativos modernos, pois os usei em um estudo estatístico sobre desmatamento em 73 ilhas polinésias,1 a fim de chegar a conclusões que jamais poderiam ter sido extraídas convincentemente do relato narrativo sobre desmatamento em algumas poucas ilhas. Também coeditei um livro em que alguns outros coautores engenhosamente usaram métodos quantitativos para solucionar questões antes interminavelmente debatidas e sem resolução por historiadores narrativos, como se as conquistas militares e as reviravoltas políticas de Napoleão foram boas ou ruins para o subsequente desenvolvimento econômico da Europa.
Inicialmente, tive a esperança de incluir os métodos quantitativos modernos neste livro. Dediquei meses a esse esforço, somente para chegar à conclusão de que teria de ser uma tarefa para um projeto futuro, porque este livro precisava identificar, através do estudo narrativo, hipóteses e variáveis para um subsequente estudo quantitativo a ser testado. Minha amostra de apenas sete países é pequena demais para extrair conclusões estatisticamente significativas. Será preciso muito mais trabalho a fim de “operacionalizar” conceitos da minha narrativa qualitativa como “resolução bem-sucedida de crise” e “autoavaliação honesta”, ou seja, para traduzi-los em coisas que possam ser mensuradas em números. Consequentemente, este livro é uma exploração narrativa, que espero que estimule um teste quantitativo.
Entre as mais de 210 nações do mundo, este livro discute somente sete que me são familiares. Visitei repetidamente todas elas. Em seis vivi por extensos períodos, começando há setenta anos. Falo ou já falei as línguas dessas seis. Gosto e admiro todas elas, fico feliz em visitá-las novamente, visitei todas nos últimos dois anos e pensei seriamente em me mudar de modo permanente para duas. Como resultado, posso escrever com empatia e conhecimento, com base em minhas próprias experiências e nas de amigos nativos de longa data. Nossas experiências abrangem um período de tempo suficientemente longo para que tenhamos testemunhado grandes mudanças. Entre essas sete nações, o Japão é aquela na qual minha própria experiência é mais limitada, porque não falo a língua e fiz somente breves visitas nos últimos 21 anos. Em compensação, pude me basear nas experiências de vida inteira de parentes por casamento, amigos e alunos japoneses.
É claro que as sete nações que selecionei com base nessas experiências pessoais não são uma amostra aleatória das nações do mundo. Cinco são ricas e industrializadas, uma é modestamente abastada e somente uma é pobre e em desenvolvimento. Nenhuma delas é africana; duas são europeias, duas asiáticas, uma norte-americana, uma sul-americana e uma australiana. Cabe a outros autores testarem em que extensão as conclusões derivadas dessa amostra não aleatória de nações se aplicam a outras nações. Aceitei essa limitação e escolhi essas sete em função do que me pareceu a imensa vantagem de discutir somente nações que compreendo com base em longa e intensa experiência pessoal, amizades e (em seis casos) familiaridade com a língua.
Este livro trata quase inteiramente de crises nacionais modernas que ocorreram durante minha vida, permitindo que eu escrevesse da perspectiva de minha própria experiência contemporânea. O ponto fora da curva, em relação ao qual discuto mudanças ocorridas antes de minha época, envolve novamente o Japão, ao qual dedico dois capítulos. Um deles discute o Japão de hoje, e o outro, o Japão da era Meiji (1868-1912). Incluí esse capítulo sobre a era Meiji porque ela constitui um exemplo impressionante de mudança seletiva consciente, pertence ao passado recente e suas memórias e questões ainda permanecem proeminentes.
É claro que crises e mudanças nacionais também ocorreram no passado e suscitaram questões semelhantes. Embora eu não possa tratar delas a partir da experiência pessoal, elas têm sido tema de uma ampla literatura. Exemplos bem conhecidos incluem o declínio e a queda do Império Romano do Ocidente nos séculos IV e V da era cristã; a ascensão e a queda do Reino Zulu, no sul da África, no século XIX; a Revolução Francesa de 1789 e a subsequente reorganização da França; e a catastrófica derrota da Prússia na batalha de Jena em 1806, sua conquista por Napoleão e as subsequentes reformas sociais, administrativas e militares. Vários anos depois de começar a escrever este livro, descobri que outro livro cujo título se refere a temas similares (Crisis, Choice, and Change [Crise, escolha e mudança]) fora publicado por minha própria editora americana (Little, Brown) em 1973! Aquele livro difere do meu por incluir vários casos do passado, assim como em outras características básicas. (Era um volume de vários autores usando uma estrutura chamada “funcionalismo do sistema”.)
A pesquisa realizada por historiadores profissionais enfatiza os estudos arquivísticos, ou seja, a análise de documentos escritos e primários preservados. Cada novo livro de história justifica a si mesmo ao explorar fontes arquivísticas previamente não utilizadas ou subutilizadas ou ao reinterpretar aquelas já empregadas por outros historiadores. Ao contrário da maioria dos numerosos livros citados em minha bibliografia, o meu não é baseado em estudos arquivísticos. Em vez disso, sua contribuição depende de uma nova estrutura derivada de crises pessoais, uma abordagem explicitamente comparativa e uma perspectiva baseada em minhas próprias experiências de vida e nas experiências de meus amigos.
Este não é um artigo de revista sobre assuntos correntes, escrito para ser lido por algumas semanas após a publicação e então se tornar ultrapassado. É um livro projetado para permanecer em circulação durante muitas décadas. Declaro esse fato óbvio somente porque você pode ficar surpreso ao não encontrar qualquer palavra sobre políticas específicas da atual administração Trump nos Estados Unidos, nem sobre sua liderança, nem sobre as atuais negociações do Brexit na Grã-Bretanha. Qualquer coisa que eu pudesse escrever hoje sobre essas questões em rápida mutação estaria constrangedoramente ultrapassada quando o livro fosse publicado, e seria inútil daqui a algumas décadas. Os leitores interessados no presidente Trump, em suas políticas e no Brexit encontrarão abundantes discussões publicadas em outros veículos. Mas meus capítulos 9 e 10 têm muito a dizer sobre grandes questões americanas que estão em evidência há duas décadas, que exigem ainda mais atenção sob a atual administração e que provavelmente continuarão presentes por ao menos mais uma década.
Muito bem, eis aqui um roteiro do próprio livro. No primeiro capítulo, discutirei as crises pessoais, antes de dedicar os restantes às crises nacionais. Por vivermos nossas próprias crises e testemunharmos as de nossos familiares e amigos, todos sabemos que há muita variação nos resultados de uma crise. Nos melhores casos, as pessoas conseguem descobrir métodos novos e mais satisfatórios para lidar com a situação, e emergem mais fortes. Nos casos mais tristes, sentem-se sobrecarregadas e retornam aos métodos antigos ou adotam métodos novos, mas piores. Algumas pessoas em crise até cometem suicídio. Os terapeutas identificaram muitos fatores, doze dos quais discutirei no capítulo 1, que influenciam a probabilidade de uma crise pessoal ser satisfatoriamente resolvida. Esses são os fatores em relação aos quais explorarei fatores paralelos que influenciam os resultados das crises nacionais.
Para qualquer um que esteja resmungando com desânimo, “Doze fatores são muita coisa para lembrar, por que você não diminui esse número?”, respondo que seria absurdo pensar que os resultados da vida das pessoas ou da história das nações possam ser proveitosamente reduzidos a algumas palavras-chave. Se você teve o infortúnio de pegar um livro que afirma fazer isso, jogue-o fora sem ler. Inversamente, se teve o infortúnio de pegar um livro que se propõe discutir todos os 76 fatores que influenciam a resolução de uma crise, jogue-o fora também: é trabalho do autor, e não do leitor, resumir e priorizar a infinita complexidade da vida em um quadro referencial útil. Descobri que usar doze fatores oferece um compromisso aceitável entre os dois extremos: eles detalham o suficiente para explicar grande parte da realidade, sem serem tão detalhados que se transformem em uma lista útil para buscar as roupas na lavanderia, mas não para entender o mundo.
O capítulo introdutório é seguido por três pares de capítulos, cada par tratando de um tipo diferente de crise nacional. O primeiro par estuda crises em dois países (Finlândia e Japão) que explodiram em súbitas reviravoltas, provocadas pelo choque com outro país. O segundo também é sobre crises que irromperam subitamente, mas devido a explosões internas (Chile e Indonésia). O último par descreve crises que não explodiram com estrondo, mas se desdobraram de modo gradual (Alemanha e Austrália), especialmente devido a estresses desencadeados pela Segunda Guerra Mundial.
A crise da Finlândia (capítulo 2) explodiu com o monumental ataque da União Soviética em 30 de novembro de 1939. Na resultante Guerra de Inverno, a Finlândia foi praticamente abandonada por todos os potenciais aliados e sofreu pesadas perdas, mas conseguiu preservar sua independência da União Soviética, cuja população superava a dela em 40 para 1.
Passei um verão na Finlândia vinte anos depois, sendo recebido por veteranos, viúvas e órfãos da Guerra de Inverno. O legado da guerra foi uma conspícua mudança seletiva que transformou a Finlândia em um mosaico sem precedentes, uma mistura de elementos contrastantes, uma abastada e pequena democracia liberal perseguindo uma política externa de fazer todo o possível para ganhar a confiança da gigantesca e empobrecida ditadura reacionária soviética. Essa política foi considerada vergonhosa e denunciada como “finlandização” por muitos não finlandeses que não conseguiam compreender as razões históricas de sua adoção. Um dos momentos mais intensos de meu verão na Finlândia ocorreu quando, de modo ignorante, expressei opiniões similares a veteranos da Guerra de Inverno, que polidamente me explicaram as amargas lições que os finlandeses aprenderam quando outras nações lhes negaram ajuda.
A outra das duas crises provocadas por um choque externo envolveu o Japão, cuja duradoura política de isolamento terminou em 8 de julho de 1853, quando uma frota de navios de guerra americanos entrou na baía de Tóquio, exigindo um tratado e direitos para navios e marinheiros americanos (capítulo 3). O resultado final foi a queda do sistema de governo, a adoção consciente de um programa de drásticas e abrangentes mudanças e um igualmente consciente programa de retenção de muitas características tradicionais que levaram o Japão a se tornar o que é hoje: a mais distintiva nação rica e industrializada do mundo. Sua transformação nas décadas após a chegada da frota americana, a assim chamada era Meiji, ilustra visivelmente, no nível nacional, muitos dos fatores que influenciam as crises pessoais. O processo decisório e os resultantes sucessos militares do Japão da era Meiji nos ajudam a compreender, por contraste, por que o Japão tomou decisões diferentes nos anos 1930, levando a sua esmagadora derrota militar na Segunda Guerra Mundial.
O capítulo 4 fala sobre o Chile, o primeiro dos dois países cujas crises foram explosões internas resultantes do colapso do compromisso político entre os cidadãos. Em 11 de setembro de 1973, após anos de impasse político, o governo democraticamente eleito do Chile, presidido por Allende, foi derrubado por um golpe militar cujo líder, o general Pinochet, permaneceu no poder por quase dezessete anos. Nem o golpe nem os recordes mundiais de tortura sádica batidos pelo governo Pinochet foram previstos por meus amigos chilenos quando morei no país vários anos antes. Na verdade, eles orgulhosamente me explicaram as longas tradições democráticas do Chile, tão diferentes das dos outros países sul-americanos. Hoje, o Chile é novamente uma discrepância democrática na América do Sul, mas mudou seletivamente, incorporando partes dos modelos de Allende e de Pinochet. Para os amigos americanos que comentaram o manuscrito deste livro, o capítulo chileno foi o mais assustador, por causa da velocidade e da plenitude com que uma democracia se transformou em uma ditadura sádica.
Pareado com esse capítulo sobre o Chile, o capítulo 5 fala da Indonésia, onde o colapso do compromisso político entre os cidadãos também resultou na explosão interna de uma tentativa de golpe, nesse caso em 1° de outubro de 1965. O resultado foi o oposto daquele do Chile: um contragolpe levou à eliminação genocida da facção que presumivelmente apoiara a tentativa de golpe. A Indonésia contrasta claramente com todas as outras nações discutidas neste livro: é a mais pobre, menos industrializada e menos ocidentalizada das sete, e possui a mais jovem identidade nacional, cimentada somente durante os quarenta anos em que lá trabalhei.
Os dois capítulos seguintes (6 e 7) discutem as crises nacionais na Alemanha e na Austrália, que aparentemente se desdobraram de modo gradual, em vez de explodirem com estrondo. Alguns leitores podem hesitar em aplicar o termo “crise” ou “reviravolta” a esses desdobramentos graduais. Mas, mesmo que se prefira aplicar um termo diferente, ainda acho útil vê-los no mesmo quadro referencial que uso para discutir transições mais abruptas, pois eles apresentam as mesmas questões de mudança seletiva e ilustram os mesmos fatores influenciando os resultados. Além disso, a diferença entre “crise explosiva” e “mudança gradual” é arbitrária, e não nítida, pois possuem pontos de interseção. Mesmo no caso de transições aparentemente abruptas, como o golpe no Chile, décadas de tensões acumuladas levaram ao golpe e décadas de mudanças graduais se seguiram a ele. Descrevo essas crises como “parecendo” ter se desdobrado gradualmente, uma vez que, na verdade, a crise na Alemanha do pós-guerra começou com a mais traumática devastação já experimentada por qualquer um dos países discutidos aqui: sua condição arruinada no momento da rendição ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio de 1945. De modo similar, embora a crise na Austrália do pós-guerra tenha se desdobrado gradualmente, ela começou com três chocantes derrotas militares em menos de três meses.
A primeira das duas nações que ilustram crises não explosivas é a Alemanha do pós-guerra (capítulo 6), confrontada simultaneamente com os legados da era nazista, a discordância sobre a organização hierárquica da sociedade e o trauma da divisão política entre Alemanha Ocidental e Oriental. Em meu quadro comparativo, características distintivas da resolução da crise na Alemanha do pós-guerra incluem conflitos excepcionalmente violentos entre gerações, fortes restrições geopolíticas e o processo de reconciliação com nações que foram vítimas das atrocidades alemãs nos tempos de guerra.
Meu outro exemplo de crise não explosiva é a Austrália (capítulo 7), que remodelou sua identidade durante os 55 anos em que a visitei. Quando cheguei pela primeira vez, em 1964, a Austrália parecia um remoto posto avançado britânico no oceano Pacífico, ainda olhando para a Grã-Bretanha em busca de identidade e praticando uma política, a Austrália Branca, que limitava ou excluía imigrantes não europeus. Mas enfrentava uma crise identitária, pois sua identidade branca e britânica entrava cada vez em conflito com sua localização geográfica e suas necessidades em termos de política externa, defesa estratégica, economia e composição populacional. Hoje, seu comércio e sua política estão orientados na direção da Ásia, suas ruas e campi universitários estão lotados de asiáticos, e seus eleitores só derrotaram por estreita margem o referendo para demover a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. Todavia, como no Japão da era Meiji e na Finlândia, as mudanças foram seletivas: a Austrália ainda é uma democracia parlamentar, sua língua nacional ainda é o inglês e a grande maioria dos australianos ainda possui ascendência britânica.
Todas as crises nacionais discutidas até agora são reconhecidas e foram superadas (ou, ao menos, a superação está em uma etapa avançada), o que significa que podemos avaliar seus resultados. Os quatro últimos capítulos descrevem crises presentes e futuras cujos resultados ainda são desconhecidos. Começo essa seção com o Japão (capítulo 8), já abordado no capítulo 3. O Japão enfrenta hoje numerosos problemas fundamentais, alguns amplamente reconhecidos e admitidos pela população e pelo governo, enquanto outros não são reconhecidos e chegam a ser negados pelos japoneses. No presente, esses problemas não se movem claramente em direção à solução; o futuro do Japão é verdadeiramente incerto e está nas mãos de sua própria população. Será que as memórias de como o Japão na era Meiji superou corajosamente sua crise ajudarão o Japão moderno a fazer o mesmo?
Os dois capítulos seguintes (9 e 10) tratam de meu próprio país, os Estados Unidos. Identifico quatro crises crescentes com potencial de minar a democracia e a força americanas na próxima década, como já aconteceu no Chile. É claro que essas descobertas não são minhas: há discussão aberta sobre elas entre muitos americanos, e o senso de crise é disseminado atualmente nos Estados Unidos. Parece-me que esses quatro problemas não se movem na direção da solução; ao contrário, estão piorando. No entanto, os Estados Unidos, como o Japão da era Meiji, têm as próprias memórias de superação de crises, notadamente nossa longa e dilacerante guerra civil e o fato de termos sido subitamente arrastados do isolamento político para a Segunda Guerra Mundial. Será que essas memórias ajudarão meu país a ter sucesso?
Por fim, vem o mundo como um todo (capítulo 11). Embora pudesse fazer uma lista infinita dos problemas enfrentados pelo mundo, foco em quatro cuja tendência é, ao que me parece, minar os padrões de vida globais nas próximas décadas. De modo diferente do Japão e dos Estados Unidos, que possuem longas histórias de identidade nacional, autogoverno, e memórias e ações coletivas bem-sucedidas, o mundo não possui tal história. Sem memórias assim para nos inspirar, será que o mundo triunfará, agora que, pela primeira vez na história, somos confrontados por problemas potencialmente fatais em âmbito global?
Este livro termina com um epílogo que examina o estudo das sete nações e do mundo à luz de nossos doze fatores. Pergunto se as nações precisam de crises para reanimá-las a passar por grandes mudanças. Foi necessário o choque do incêndio da Cocoanut Grove para transformar a psicoterapia de curto prazo. Será que nações podem decidir se transformar sem um choque assim? Questiono se líderes possuem efeitos decisivos na história; proponho direções para novos estudos; e sugiro lições que podem ser realisticamente aprendidas com o exame da história. Se as pessoas, ou mesmo somente seus líderes, escolherem refletir sobre as crises passadas, o entendimento do passado poderá nos ajudar a resolver crises presentes e futuras.
Livros relacionados
📌 Não hospedamos arquivos. Todas as amostras divulgadas são oficiais e fornecidas diretamente pela Amazon. Caso deseje a remoção de algum conteúdo, envie um e-mail para trechos.org@gmail.com. A solicitação será atendida imediatamente.