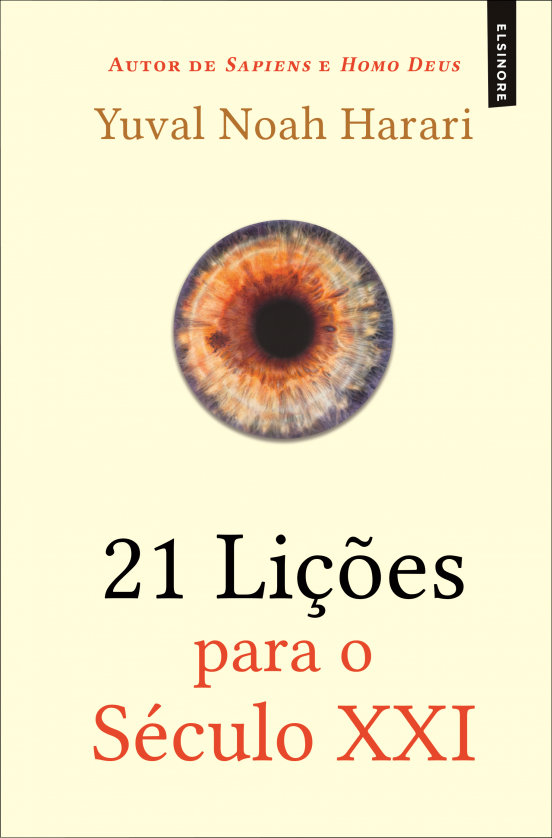
4. Igualdade
Os donos dos dados são os donos do futuro
Nas últimas décadas foi dito às pessoas em todo o mundo que o gênero humano está no caminho da igualdade, e que a globalização e as novas tecnologias nos ajudarão a chegar lá mais cedo. Na verdade, o século XXI poderia criar a sociedade mais desigual na história. Embora a globalização e a internet representem pontes sobre as lacunas que existem entre os países, elas ameaçam aumentar a brecha entre as classes, e, bem quando o gênero humano parece prestes a alcançar unificação global, a espécie em si mesma pode se dividir em diferentes castas biológicas.
A desigualdade remonta à Idade da Pedra. Trinta mil anos atrás, grupos de caçadores-coletores enterravam alguns de seus membro sem sepulturas suntuosas repletas de contas, braceletes, joias e objetos de arte, enquanto outros membros tinham de se contentar com uma cova simples. Não obstante, os antigos grupos de caçadores-coletores ainda eram mais igualitários do que qualquer sociedade humana subsequente, porque tinham poucas propriedades. A propriedade é um pré-requisito para uma desigualdade de longo prazo.
Depois da revolução agrícola, a propriedade multiplicou-se, e com ela a desigualdade. Quando humanos obtiveram propriedade de terra, animais, plantas e ferramentas, surgiram rígidas sociedades hierárquicas, nas quais pequenas elites monopolizavam a maior parte da riqueza e do poder, geração após geração. Os humanos aceitaram esse arranjo como sendo natural e até mesmo proveniente de ordem divina. A hierarquia não era apenas a norma, mas também o ideal. Como poderia haver ordem sem uma hierarquia clara entre aristocratas e pessoas comuns, entre homens e mulheres, entre pais e filhos? Sacerdotes, filósofos e poetas em todo o mundo explicavam pacientemente que, assim como no corpo humano seus membros não são iguais — os pés têm de obedecer à cabeça —, também na sociedade humana a igualdade só traz o caos.
Na modernidade tardia, no entanto, a igualdade tornou-se um ideal em quase todas as sociedades humanas. Isso se deve em parte ao surgimento das novas ideologias do comunismo e do liberalismo. Mas também à Revolução Industrial, que deu às massas uma importância nunca antes vista. A economia industrial dependia de massas de trabalhadores comuns, enquanto exércitos industriais dependiam de massas de soldados comuns. Tanto em ditaduras quanto em democracias, governos investem pesadamente na saúde, educação e bem-estar social das massas, porque precisam de milhões de trabalhadores saudáveis para operar as linhas de produção e de milhões de soldados leais para lutar nas trincheiras.
Consequentemente, a história do século XX girou em grande medida em torno da redução da desigualdade entre classes, raças e gêneros. Embora o mundo no ano 2000 ainda tenha seu quinhão de hierarquias, ele é assim mesmo um lugar muito mais igualitário do que o mundo em 1900. Nos primeiros anos do século XXI esperava-seque o processo igualitário continuasse e até mesmo se acelerasse. Esperava-se que a globalização disseminasse a prosperidade econômica pelo mundo, e que como resultado pessoas na Índia e no Egito usufruiriam das mesmas oportunidades e privilégios de pessoas na Finlândia e no Canadá. Uma geração inteira cresceu sob essa promessa.
Agora parece que a promessa talvez não seja cumprida. Certamente a globalização beneficiou grandes segmentos da humanidade, mas há sinais de uma crescente desigualdade, entre e dentro das sociedades. Alguns grupos monopolizam cada vez mais os frutos da globalização, enquanto bilhões são deixados para trás. Hoje, o 1% mais rico é dono de metade da riqueza do mundo. Ainda mais alarmante, as cem pessoas mais ricas possuem juntas mais do que as 4 bilhões mais pobres.[1]
E é provável que fique muito pior. Como explicado nos capítulos anteriores, o surgimento da IA pode extinguir o valor econômico e a força política da maioria dos humanos. Ao mesmo tempo, aprimoramentos em biotecnologia poderiam possibilitar que a desigualdade econômica se traduza em desigualdade biológica. Os super-ricos teriam finalmente algo que vale a pena fazer com sua estupenda riqueza. Enquanto até agora só podiam comprar pouco mais que símbolos de status, logo poderão ser capazes de comprar a própria vida. Se os novos tratamentos para prolongar a vida e aprimorar habilidades físicas e cognitivas forem dispendiosos, o gênero humano poderia se dividir em castas biológicas.
No decorrer da história, os ricos e a aristocracia sempre imaginaram que tinham qualificações superiores às de todos os outros, e que por isso estavam no controle. Até onde podemos afirmar, isso não era verdade. Um duque mediano não era mais talentoso do que um camponês mediano — sua superioridade era devida apenas a uma discriminação legal e econômica injusta. No entanto, em 2100 os ricos poderiam realmente ser mais talentosos, mais criativos e mais inteligentes do que os moradores de favelas. Uma vez aberto um fosso entre habilidades de ricos e pobres, será quase impossível fechá-lo. Se os ricos utilizarem suas competências superiores para enriquecer ainda mais, e se dinheiro a mais pode comprar para eles corpos e cérebros incrementados, com o tempo a brecha vai só aumentar. Em 2100, o 1% mais rico poderia possuir não apenas a maior parte da riqueza do mundo mas também a maior parte da beleza, da criatividade e da saúde.
Os dois processos juntos — a bioengenharia associada à ascensão da IA — poderiam, portanto, resultar na divisão da humanidade em uma pequena classe de super-humanos e uma massiva subclasse de Homo sapiens inúteis. Para piorar ainda mais uma situação que já é nefasta, à medida que as massas perdem importância econômica e poder político, o Estado poderia perder pelo menos parte do incentivo para investir em sua saúde, sua educação e seu bem-estar social. É perigoso ser obsoleto. O futuro das massas dependerá então da boa vontade de uma pequena elite. Talvez haja boa vontade durante umas poucas décadas. Mas em tempos de crise — como uma catástrofe climática — seria muito tentador e fácil descartar as pessoas supérfluas.
Em países como a França e a Nova Zelândia, com longa tradição de convicções liberais e práticas de Estado de bem-estar social, talvez a elite continue a cuidar das massas mesmo quando não precisar delas. No entanto, nos Estados Unidos, mais capitalistas, a elite poderia aproveitar a primeira oportunidade para desmantelar o que restava do Estado de bem-estar social. Um problema ainda maior ocorre em grandes países em desenvolvimento, como a Índia, a China, a África do Sul e o Brasil. Lá, se as pessoas comuns perderem seu valor econômico, a desigualdade poderia disparar.
Consequentemente, em vez de a globalização resultar em prosperidade global, ela poderia na verdade resultar em “especiação”: a divisão do gênero humano em diferentes castas biológicas, ou até mesmo espécies diferentes. A globalização unirá o mundo horizontalmente, apagando fronteiras nacionais, mas ao mesmo tempo vai dividir a humanidade verticalmente. As oligarquias no poder em países tão diversos como Estados Unidos e Rússia pode munir-se contra a massa de Sapiens comuns. Dessa perspectiva, o atual ressentimento popular em relação “às elites” é bem fundamentado. Senão tivermos cuidado, os netos dos magnatas do Vale do Silício e dos bilionários de Moscou podem se tornar uma espécie superior à dos netos de lenhadores dos Apalaches e dos vilarejos da Sibéria.
No longo prazo, esse cenário poderia até mesmo desglobalizar o mundo, pois a classe superior se congrega numa autoproclamada “civilização” e constrói muros e fossos para isolá-la das hordas de “bárbaros” no lado de fora. No século XX, a civilização industrial depende dos “bárbaros” para ter mão de obra barata, matéria-prima e mercados. Por isso ela os conquistou e absorveu. Mas no século XXI, uma civilização pós-industrial baseada em IA, bioengenharia e nanotecnologia poderia ser muito mais auto contida e autossustentada. Não apenas classes, mas países e continentes inteiros poderiam tornar-se irrelevantes. Fortificações guardadas por drones e robôs poderiam separar a zona autoproclamada civilizada, onde ciborgues lutam entre si em código, das terras bárbaras onde humanos selvagens lutam entre si com machetes e Kaláshnikovs.
Ao longo deste livro usei frequentemente a primeira pessoa do plural para falar sobre o futuro do gênero humano. Falo sobre o que “nós” precisamos fazer quanto aos “nossos” problemas. Porém talvez não haja “nós”. Talvez um dos “nossos” maiores problemas seja o de que diferentes grupos humanos têm futuros completamente diferentes. Talvez em algumas partes do mundo você deva ensinar seus filhos a escrever programas de computador, enquanto em outras seria melhor ensiná-los a atirar com precisão.
QUEM É DONO DOS DADOS?
Se quisermos evitar a concentração de toda a riqueza e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a propriedade dos dados. Antigamente a terra era o ativo mais importante no mundo, a política era o esforço por controlar a terra, e se muitas terras acabassem se concentrando em poucas mãos — a sociedade se dividia em aristocratas e pessoas comuns. Na era moderna, máquinas e fábricas tornaram-se mais importantes que a terra, e os esforços políticos focam-se no controle desses meios de produção. Se um número excessivo de fábricas se concentrasse em poucas mãos — a sociedade se dividiria entre capitalistas e proletários. Contudo, no século XXI, os dados vão suplantar tanto aterra quanto a maquinaria como o ativo mais importante, e a política será o esforço por controlar o fluxo de dados. Se os dados se concentrarem em muito poucas mãos — o gênero humano se dividirá em espécies diferentes.
A corrida para obter dados já começou, liderada por gigantes como Google, Facebook e Tencent. Até agora, muitos deles parecem ter adotado o modelo de negócios dos “mercadores da atenção”.2 Eles capturam nossa atenção fornecendo-nos gratuitamente informação, serviços e entretenimento, e depois revendem nossa atenção aos anunciantes. Mas provavelmente visam a muito mais do que qualquer mercador de atenção anterior. Seu verdadeiro negócio não é vender anúncios. E sim, ao captar nossa atenção, eles conseguem acumular imensa quantidade de dados sobre nós, o que vale mais do que qualquer receita de publicidade. Nós não somos seus clientes — somos seu produto.
A médio prazo, esse acúmulo de dados abre caminho para um modelo de negócio inédito, cuja primeira vítima será a própria indústria da publicidade. O novo modelo baseia-se na transferência da autoridade de humanos para algoritmos, inclusive a autoridade para escolher e comprar coisas. Quando algoritmos escolherem e comprarem coisas para nós, a indústria da publicidade tradicional irá à falência. Considere o Google. O Google quer chegar a um ponto no qual poderemos perguntar-lhe qualquer coisa e obter a melhor resposta do mundo. O que vai acontecer quando pudermos perguntar ao Google: “Oi, Google, com base em tudo o que você sabe sobre carros e com base em tudo o que você sabe sobre mim (inclusive minhas necessidades, meus hábitos, minhas opiniões sobre o aquecimento global, e até mesmo minhas ideias sobre a política no Oriente Médio), qual é o melhor carro para mim?”. Se o Google for capaz de dar uma boa resposta, e se aprendermos com a experiência a confiar no bom senso do Google em vez de em nossos sentimentos facilmente manipuláveis, qual será a utilidade das propagandas de carro?[3]
No longo prazo, ao reunir informação e força computacional em quantidade suficiente, os gigantes dos dados poderão penetrar nos mais profundos segredos da vida, e depois usar esse conhecimento não só para fazer escolhas por nós ou nos manipular mas também na reengenharia da vida orgânica e na criação de formas de vida inorgânicas. Vender anúncios pode ser necessário para sustentar os gigantes no curto prazo, mas eles frequentemente avaliam aplicativos, produtos e companhias em função dos dados que colhem deles, e não do dinheiro que eles geram. Um aplicativo popular pode não ter um bom modelo de negócios e até mesmo perder dinheiro no curto prazo, mas na medida em que absorver dados pode valer bilhões.[4] Mesmo que não se saiba como fazer dinheiro com os dados hoje em dia, vale a pena tê-los porque eles podem ser a chave para controlar e modelar a vida no futuro. Não tenho certeza de que os gigantes dos dados pensam explicitamente nesses termos, mas suas ações indicam que dão mais valor aos dados acumulados do que a meros dólares e centavos.
Humanos comuns vão descobrir que é muito difícil resistir a esse processo. No presente, as pessoas ficam contentes de ceder seu ativo mais valioso — seus dados pessoais — em troca de serviços de e-mail e vídeos de gatinhos fofos gratuitos. É um pouco como as tribos africanas e nativas americanas que inadvertidamente venderam países inteiros a imperialistas europeus em troca de contas coloridas e bugigangas baratas. Se, mais tarde, pessoas comuns decidirem tentar bloquear o fluxo de dados, podem descobrir que isso é cada vez mais difícil, especialmente se tiverem chegado a ponto de depender da rede para todas as suas decisões, até mesmo para sua saúde e sua sobrevivência física.
Humanos e máquinas poderão se fundir tão completamente que os humanos não serão capazes de sobreviver se estiverem desconectados da rede. Estarão conectados desde o útero, e, se em algum momento da vida você optar por se desconectar, as companhias de seguro talvez se recusem a lhe fazer um seguro de vida, empregadores talvez se recusem a empregá-lo, e serviços de saúde talvez se recusem a cuidar de você. Na grande batalha entre saúde e privacidade, a saúde provavelmente vencerá sem muito esforço.
À medida que, através de sensores biométricos, cada vez mais dados fluírem de seu corpo e seu cérebro para máquinas inteligentes, será fácil para corporações e agências do governo conhecer você, manipular você e tomar decisões por você. Mais importante ainda, eles serão capazes de decifrar os mecanismos profundos de todos os corpos e cérebros, e com isso adquirir o poder de fazer a engenharia da vida. Se quisermos evitar que uma pequena elite monopolize esses poderes, que parecem divinos, e se quisermos impedir que a humanidade se fragmente em castas biológicas, a questão-chave é: quem é dono dos dados? Os dados de meu DNA, meu cérebro e minha vida pertencem a mim, ao governo, a uma corporação ou ao coletivo humano?
Obrigar os governos a nacionalizar os dados provavelmente ia restringir o poder das grandes corporações, mas também pode resultar em assustadoras ditaduras digitais. Os políticos são um pouco como músicos, e o instrumento que eles tocam é o sistema emocional e bioquímico humano. Eles fazem um discurso — e há uma onda de medo no país. Eles escrevem uma mensagem no Twitter, e há uma explosão de ódio. Não acho que deveríamos dar a esses músicos um instrumento mais sofisticado para eles tocarem. Quando políticos forem capazes de manipular nossas emoções, provocando, segundo sua vontade, ansiedade, ódio, alegria e tédio, a política se tornará um mero circo emocional. Por mais que devamos temer o poder das grandes corporações, a história sugere que não estaríamos necessariamente melhor nas mãos de governos superpoderosos. Neste momento, em março de 2018, eu prefiro dar meus dados a Mark Zuckerberg a dá-los a Vladimir Putin (apesar de o escândalo da Cambridge Analytica ter revelado que dados confiados a Zuckerberg podem acabar nas mãos de Putin).
A propriedade privada de seus próprios dados soa mais atraente do que qualquer dessas opções, mas não está claro o que isso quer dizer. Tivemos milhares de anos de experiência de regulação da propriedade de terra. Sabemos construir uma cerca em torno de um campo, pôr um guarda no portão e controlar quem pode entrar. Nos dois séculos passados nos tornamos extremamente sofisticados em regular a propriedade da indústria — hoje posso comprar ações e ser dono de um pedaço da General Motors e um pedacinho da Toyota. Mas não temos muita experiência em regular a propriedade de dados, que é inerentemente uma tarefa muito mais difícil, porque, ao contrário da terra e de máquinas, os dados estão em toda parte e em parte alguma ao mesmo tempo, podem movimentar-se à velocidade da luz, e podem ser indefinidamente copiados.
Assim, faríamos melhor em invocar juristas, políticos, filósofos e mesmo poetas para que voltem sua atenção para essa charada: como regular a propriedade de dados? Essa talvez seja a questão política mais importante de nossa era. Se não formos capazes de responder a essa pergunta logo, nosso sistema sociopolítico pode entrar em colapso. As pessoas já estão sentindo a chegada do cataclismo. Talvez seja por isso que cidadãos do mundo inteiro estão perdendo a fé na narrativa liberal, que apenas uma década atrás parecia irresistível.
Como, então, avançar a partir daqui, e como lidar com os imensos desafios das revoluções da biotecnologia e da tecnologia da informação? Talvez os mesmos cientistas e empresários responsáveis pelas disrupções do mundo contemporâneo consigam montar alguma solução tecnológica? Por exemplo, será que algoritmos em rede poderão fornecer as estruturas de uma comunidade humana global que poderia ser, coletivamente, dona de todos os dados e supervisionar o futuro desenvolvimento da vida? Quando a desigualdade global só faz crescer e aumentam as tensões em todo o mundo, quem sabe Mark Zuckerberg poderia convocar seus 2 bilhões de amigos para reunir forças e fazer alguma coisa juntos?
PARTE II
O desafio político
A fusão da tecnologia da
informação com
a biotecnologia ameaça os valores
modernos centrais de liberdade e
igualdade. Toda solução para o
desafio tecnológico deve envolver
cooperação global.
Porém o nacionalismo, a religião e
a cultura dividem o gênero
humano em campos hostis e fazem
com que seja muito difícil cooperar
no nível global.
5. Comunidade
Os humanos têm corpos
A Califórnia está acostumada com terremotos, mas assim mesmo o tremor político das eleições americanas de 2016 chegou como um choque violento ao Vale do Silício. Ao constatar que eles poderiam ser parte do problema, os magos da computação reagiram fazendo o que os engenheiros fazem melhor: buscaram uma solução técnica. Em nenhum outro lugar a reação foi mais contundente do que na sede do Facebook, em Menlo Park. Isso é compreensível. Como o negócio do Facebook é a rede social, é ele que está mais sintonizado com perturbações sociais.
Após três meses de exame de consciência, em 16 de fevereiro de 2017 Mark Zuckerberg publicou um audacioso manifesto sobre a necessidade de construir uma comunidade global, e sobre o papel do Facebook nesse projeto.1 Num discurso que pronunciou em seguida,na inauguração da Cúpula de Comunidades, em 2 de junho de 2017, Zuckerberg explicou que as convulsões políticas de nossa época — do desenfreado crescimento do vício em drogas a regimes totalitários sangrentos — resultam em grande medida da desintegração das comunidades humanas. Lamentou o fato de que “durante décadas a participação em todo tipo de grupos tinha diminuído em uma quarta parte. Há muitas pessoas que agora precisam encontrar propósito e apoio em outro lugar”.[2] Prometeu que o Facebook iria assumir a liderança na reconstrução dessas comunidades e que seus engenheiros assumiriam o fardo que fora descartado por líderes locais. “Vamos começar a lançar algumas ferramentas”, ele disse, “para facilitar a construção de comunidades.”
Explicou também que “Demos início a um projeto para ver se melhoramos nossa capacidade de sugerir grupos que serão significativos para vocês. Para isso, começamos a construir inteligência artificial. E funciona. Nos primeiros seis meses, ajudamos um número 50% maior de pessoas a se juntarem a comunidade significativas… Se conseguirmos, isso vai não só reverter todo o declínio na participação em comunidades que estamos vendo há décadas como começar a fortalecer nosso tecido social e fazer o mundo ficar unido”. Esse é um objetivo tão importante que Zuckerberg jurou “mudar toda a missão do Facebook para poder assumir esta”.[3] Zuckerberg tem razão ao lamentar a desagregação de comunidades humanas. Porém vários meses após ter feito essa promessa, e exatamente quando este livro estava no prelo, o escândalo da Cambridge Analytica revelou que dados que foram confiados ao Facebook tinham sido colhidos por terceiros e usados para manipular eleições em todo o mundo. Isso pôs no ridículo as sublimes promessas de Zuckerberg, e destruiu a confiança do público no Facebook. Só se pode esperar que, antes de empreender a construção de novas comunidades humanas, o Facebook comprometa-se primeiro a proteger a privacidade e a segurança das comunidades existentes.
Entretanto, vale a pena considerar em profundidade a visão comunitária do Facebook, e examinar se, uma vez reforçada a segurança, as redes sociais on-line serão capazes de construir uma comunidade humana global. Mesmo que no século XXI os humanos possam ser elevados à categoria de deuses, em 2018 ainda somos animais da Idade da Pedra. Para podermos florescer precisamos nos basear em comunidades íntimas. Durante milhões de anos, os humanos adaptaram-se a viver em pequenos bandos de não mais de algumas dezenas de pessoas. Mesmo hoje em dia, para a maioria de nós é impossível conhecer de fato mais de 150 indivíduos, não importa quantos amigos no Facebook alardeamos ter.[4] Sem esses grupos, os humanos sentem-se solitários e alienados.
Infelizmente, nos dois séculos passados as comunidades íntimas se desintegraram. A tentativa de substituir grupos pequenos de pessoas que efetivamente se conhecem pelas comunidades imaginárias das nações e dos partidos políticos nunca poderia ter sucesso total. Seus milhões de irmãos na família nacional e seus milhões de camaradas no Partido Comunista não são capazes de lhe dar a cálida intimidade que lhe dão um único irmão de verdade ou um amigo. Consequentemente, as pessoas vivem vidas cada vez mais solitárias num planeta cada vez mais conectado. Muitas das rupturas sociais e políticas de nossa época podem ser atribuídas a esse mal-estar.[5]
A visão de Zuckerberg de reconectar humanos uns com outros é portanto oportuna. Mas palavras custam menos que ações, e para poder implementar essa visão o Facebook pode ter de mudar todo os eu modelo de negócios. É difícil construir uma comunidade global quando você ganha seu dinheiro capturando a atenção das pessoas e a vendendo a anunciantes. Apesar disso, só a disposição de Zuckerberg para formular essa visão já merece elogios. A maior parte das corporações acredita que devia focar-se em ganhar dinheiro, que o governo devia fazer o menos possível, e o gênero humano devia deixar as forças do mercado tomarem por nós as decisões realmente importantes.[6]
Daí que, se o Facebook tenciona ter um real compromisso ideológico de construir comunidades humanas, os que temem seu poder não deveriam empurrá-lo de volta para seu casulo corporativo sob gritos de “Grande Irmão!”. Em vez disso, deveríamos instar outras corporações, instituições e governos a competir com o Facebook assumindo seus próprios compromissos ideológicos.
É claro que não faltam organizações que lamentam a desagregação das comunidades humanas e esforçam-se por recompô-las. Todo mundo, desde ativistas feministas até fundamentalistas islâmicos, está no negócio da construção de comunidades, e examinaremos alguns desses esforços em capítulos posteriores. O que faz da iniciativa do Facebook única é seu escopo global, seu respaldo corporativo e sua profunda fé na tecnologia. Zuckerberg parece estar convencido de que a nova IA do Facebook é capaz não só de identificar “comunidades significativas” como também de “fortalecer nosso tecido social e fazer o mundo ficar unido”. Isso é muito mais ambicioso do que usar a IA para dirigir um carro ou diagnosticar o câncer.
A visão de comunidade do Facebook talvez seja a primeira tentativa explícita de usar IA para engenharia social com planejamento centralizado mas em escala global. Consiste, portanto, num teste importantíssimo. Se tiver sucesso, é provável que vejamos muito mais dessas tentativas, e os algoritmos serão reconhecidos como os novos senhores das redes sociais humanas. Se fracassar, vai revelar as limitações das novas tecnologias — algoritmos podem ser bons para navegação de veículos e para curar doenças, mas, quando se trata de resolver problemas sociais, deveríamos ainda confiar em políticos e sacerdotes.
ON-LINE VERSUS OFF-LINE
Em anos recentes o Facebook tem tido espantoso sucesso, e hoje tem mais de 2 bilhões de usuários ativos on-line. Para poder implementar essa nova visão, ele terá de cobrir o abismo que existe entre on-line e off-line. Uma comunidade pode começar como um agrupamento on-line, mas para poder realmente florescer terá de deitar raízes no mundo off-line também. Se um dia algum ditador banir o Facebook de seu país, ou desconectar totalmente o plugue da internet, será que as comunidades vão evaporar, ou se reagruparão para reagir? Serão capazes de organizar uma demonstração sem terem uma comunicação on-line?
Zuckerberg explicou em seu manifesto de fevereiro de 2017 que as comunidades on-line ajudam a fomentar comunidades off-line. Isso às vezes é verdade. Mas em muitos casos o on-line acontece às expensas do off-line, e há uma diferença fundamental entre os dois. Comunidades físicas têm uma profundidade que comunidades virtuais não são capazes de atingir, ao menos não no futuro próximo. Se eu estiver doente de cama em casa, em Israel, meus amigos on-line na Califórnia podem falar comigo, mas não poderão trazer-me sopa ou uma xícara de chá.
Humanos têm corpos. Durante o século passado a tecnologia nos distanciou de nossos corpos. Perdemos a capacidade de dar atenção ao que tem cheiro e gosto. Em vez disso, ficamos absorvidos com nossos smartphones e computadores. Estamos mais interessados noque está acontecendo no ciberespaço do que no que está acontecendo lá embaixo na rua. Está mais fácil do que nunca falar com meu primo na Suíça, mas está mais difícil falar com meu marido no café da manhã, porque ele está constantemente olhando para seu smartphone e não para mim.[7]
No passado, humanos não podiam se dar ao luxo de tal displicência. Nossos ancestrais coletores estavam sempre alertas e atentos. Percorrendo a floresta em busca de cogumelos, observavam o solo buscando qualquer protuberância reveladora. Prestavam atenção ao movimento no capim para saber se não havia uma cobra de tocaia. Quando encontravam um cogumelo comestível, o provavam com a maior atenção para distingui-lo de seus primos venenosos. Os membros das atuais sociedades afluentes não precisam dessa atenção tão apurada. Podemos caminhar pelos corredores de um supermercado enquanto digitamos mensagens, e podemos comprar qualquer um de mil itens de alimentação, todos supervisionados pelas autoridades sanitárias. Porém, o que quer que escolhamos, acabamos comendo diante de uma tela, verificando e-mails ou vendo TV, mal prestando atenção ao gosto.
Zuckerberg diz que o Facebook está comprometido a “continuar aperfeiçoando nossas ferramentas para dar a você o poder de compartilhar suas experiências com os outros”.[8] Mas talvez as pessoas precisem mesmo é de ferramentas para se conectarem com suas próprias experiências. Em nome do “compartilhamento de experiências” as pessoas são incentivadas a entender o que está acontecendo com elas em termos de como os outros as veem. Se acontece algo excitante, o instinto dos usuários do Facebook é pegar seus smartphones, tirar uma foto, postá-la on-line e esperar pelas curtidas. No processo, mal percebem o que eles mesmos estão sentindo. Na verdade, o que sentem é cada vez mais determinado pelas reações on-line.
Pessoas separadas de seus corpos, sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas. Especialistas costumam pôr a culpa por esse sentimento de alienação no declínio de ligações religiosas e nacionais, mas a perda de contato com seu corpo provavelmente seja mais importante. Humanos viveram milhões de anos sem religiões e sem nações — e são capazes de viver felizes sem elas no século XXI também. Mas não são capazes de viver felizes se estiverem desconectados de seus corpos. Se você não se sente em casa dentro de seu corpo, nunca se sentirá em casa dentro do mundo. Até agora, o modelo de negócio do Facebook estimulou pessoas a passarem cada vez mais tempo on-line mesmo que isso significasse ter menos tempo e energia para dedicar a atividades off-line. Será que é capaz de adotar um novo modelo que estimule as pessoas a ficar on-line apenas quando for realmente necessário, e a dedicar mais atenção a seu entorno físico, a seus próprios corpos e sentidos? O que os acionistas achariam desse modelo? (Um esquema desse modelo alternativo foi sugerido recentemente por Tristan Harris, ex-executivo do Google e filósofo da tecnologia que apresentou uma nova métrica de “tempo bem utilizado”.)[9]
As limitações dos relacionamentos on-line também solapam a solução de Zuckerberg para a polarização social. Ele ressalta, com razão, que só conectar pessoas e expô-las a diferentes opiniões não vai ser uma ponte para unir divisões sociais, porque “mostrar a pessoas um artigo com um ponto de vista contrário na verdade aprofunda a polarização, ao enquadrar outros pontos de vista como estranhos”. Em vez disso, Zuckerberg sugere que “as melhores soluções para melhorar o discurso podem vir de cada um conhecer o outro como uma pessoa inteira e não só como opiniões — algo para o qual o Facebook talvez seja o único [instrumento] adequado. Se nos conectarmos com pessoas com base no que temos em comum — equipes esportivas, programas de televisão, interesses —, será mais fácil dialogar sobre aquilo de que discordamos”.[10]
Porém é dificílimo conhecer o outro como uma pessoa “inteira”.Isso leva muito tempo, e exige interação física direta. Como disse antes, o Homo sapiens mediano é incapaz de conhecer intimamente mais de 150 indivíduos. No mundo ideal, a construção de comunidades não deveria ser um jogo de soma zero. Humanos podem ser leais a diferentes grupos ao mesmo tempo. Infelizmente, relações íntimas provavelmente são um jogo de soma zero. Passando de um certo ponto, o tempo e a energia que você despende para travar conhecimento com seus amigos on-line do Irã ou da Nigéria será às expensas de sua disponibilidade para conhecer seus vizinhos de porta. O teste crucial do Facebook virá quando um engenheiro inventar uma nova ferramenta que fizer as pessoas passarem menos tempo comprando coisas on-line e mais tempo em atividades off-line interessantes com amigos. O Facebook vai adotar ou suprimir uma ferramenta assim? Será que o Facebook vai arriscar mudar sua convicção e privilegiar preocupações sociais em detrimento de interesses financeiros? Se fizer isso — e conseguir evitar a falência —será uma transformação marcante.
Dedicar mais atenção ao mundo off-line do que a seus balanços trimestrais terá consequências também na política do Facebook quanto a impostos. Como Amazon, Google, Apple e vários outros gigantes de tecnologia, o Facebook tem sido acusado de sonegação fiscal.[11] As dificuldades inerentes à taxação de atividades on-line fazem com que seja fácil para essas corporações globais praticar todo tipo de contabilidade criativa. Se você achar que as pessoas vivem principalmente on-line, e que você lhes fornece todas a ferramentas necessárias para sua existência on-line, você pode se considerar um serviço social benéfico, mesmo se evitar pagar impostos para governos off-line. Mas, quando lembrar que os humanos têm corpos, e que portanto precisam de estradas, hospitais e sistemas de esgoto, ficará muito mais difícil justificar a sonegação fiscal. Como exaltar as virtudes da comunidade e ao mesmo tempo recusar-se a dar apoio financeiro aos mais importantes serviços da comunidade?
Só podemos esperar que o Facebook seja capaz de mudar seu modelo de negócio, adotar uma política fiscal mais voltada para o off-line, ajudar a unificar o mundo — e ainda continuar lucrativo. Mas não devemos cultivar expectativas irreais quanto à sua capacidade para concretizar essa visão de uma comunidade global. Historicamente, corporações não foram o veículo ideal para liderar revoluções sociais e políticas. Uma verdadeira revolução cedo ou tarde exigirá sacrifícios que corporações, seus empregados e seus acionistas não querem fazer. É por isso que revolucionários estabelecem igrejas, partidos políticos e exércitos. As assim chamadas revoluções do Facebook e do Twitter no mundo árabe começaram em esperançosas comunidades on-line, mas, quando emergiram no confuso mundo off-line, foram sequestradas por fanáticos religiosos e juntas militares. Se o Facebook tem agora como objetivo instigar uma revolução global, terá de fazer um trabalho muito melhor na criação de uma ponte que atravesse a brecha existente entre o on-line e o off-line. Ele e os outros gigantes on-line tendem a ver os humanos como animais audiovisuais — um par de olhos e um par de orelhas conectados a dez dedos, uma tela e um cartão de crédito. Um passo crucial para a unificação do gênero humano é considerar que humanos têm corpos.
É claro que essa consideração tem desvantagens. A constatação das limitações dos algoritmos on-line pode só instigar os gigantes de tecnologia a estender ainda mais seu alcance. Dispositivos como o Google Glass e jogos como Pokemón Go são projetados para eliminara distinção entre on-line e off-line, fundindo-os numa única realidade aumentada. Num nível ainda mais profundo, sensores biométricos e interfaces cérebro-computador diretas visam a erodir a fronteira entre máquinas eletrônicas e corpos orgânicos e, literalmente, entrar debaixo de nossa pele. Quando os gigantes de tecnologia adquirirem compreensão completa do corpo humano, poderão acabar manipulando todo o nosso corpo da mesma maneira que manipulam nossos olhos, dedos e cartões de crédito. Talvez venhamos a ter saudade dos bons e velhos tempos em que o on-line era separado do off-line.
6. Civilização
Só existe uma civilização no mundo
Enquanto Mark Zuckerberg sonha em unificar o gênero humano on-line, eventos recentes no mundo off-line parecem dar vida nova à tese do “choque de civilizações”. Muitos especialistas, políticos e cidadãos comuns acreditam que a guerra civil na Síria, o surgimento do Estado Islâmico, a confusão do Brexit e a instabilidade da União Europeia resultaram de um choque entre a “Civilização Ocidental” e a“Civilização Islâmica”. Tentativas do Ocidente para impor democracia e direitos humanos em nações muçulmanas resultaram numa violenta reação islâmica, e uma onda de imigração muçulmana juntamente com ataques terroristas islâmicos fizeram com que eleitores europeus abandonassem sonhos multiculturais em favor de identidades xenofóbicas locais.
Segundo essa tese, o gênero humano sempre esteve dividido em diversas civilizações cujos membros viam o mundo de maneiras irreconciliáveis. Essas visões de mundo incompatíveis tornam inevitáveis os conflitos entre civilizações. Assim como na natureza espécies diferentes lutam pela sobrevivência de acordo com as impiedosas leis da seleção natural, ao longo da história civilizações têm entrado em choque repetidamente, e apenas a mais bem preparada sobrevivia. Os que ignoram esse triste fato — sejam políticos liberais ou engenheiros com a cabeça nas nuvens — o fazem por sua conta e risco.[1]
A tese do “choque de civilizações” tem implicações políticas profundas. Os que a apoiam argumentam que toda tentativa de reconciliar “o Ocidente” com o “mundo muçulmano” está condenada ao fracasso. Os países muçulmanos nunca adotarão valores ocidentais,e os países ocidentais nunca seriam capazes de absorver com sucesso minorias muçulmanas. De acordo com isso, os Estados Unidos não deveriam admitir imigrantes da Síria ou do Iraque e a União Europeia deveria renunciar a sua falácia multicultural em benefício de uma identidade ocidental desavergonhada. No longo prazo, somente uma civilização é capaz de sobreviver aos implacáveis testes da seleção natural, e, se os burocratas em Bruxelas se recusarem a salvar o Ocidente do perigo islâmico, melhor que a Inglaterra, a Dinamarca ou a França façam isso sozinhas.
Embora muito defendida, essa tese é enganosa. O fundamentalismo islâmico pode de fato representar um desafio radical, porém a“civilização” que ele desafia é uma civilização global e não um fenômeno unicamente ocidental. Não à toa o Estado Islâmico conseguiu se unir contra o Irã e os Estados Unidos. E até mesmo fundamentalistas islâmicos, apesar de suas fantasias medievais, estão calcados na cultura contemporânea global muito mais do que na Arábia do século VII. Eles contribuem para os medos e as esperanças da juventude moderna alienada e não dos camponeses e mercadores medievais. Como alegaram convincentemente Pankaj Mishra e Christopher de Bellaigue, islâmicos radicais têm sido influenciados tanto por Marx e Foucault quanto por Maomé, e herdaram o legado de anarquistas europeus do século XIX tanto quanto o dos califas omíadas e abássidas.2 É portanto mais correto considerar até mesmo o Estado Islâmico um desdobramento erradio da cultura global que todos compartilhamos, e não um ramo de uma misteriosa árvore alienígena.
Mais importante, a analogia entre história e biologia que sustenta atese do “choque de civilizações” é falsa. Grupos humanos — desde pequenas tribos até imensas civilizações — são fundamentalmente diferentes de espécies animais, e conflitos históricos diferem em muito de processos de seleção natural. Espécies animais têm identidades objetivas que duram milhares e milhares de gerações. O fato de você ser um chimpanzé ou um gorila depende de seus genes e não de suas crenças, e genes diferentes determinam comportamentos sociais distintos. Chimpanzés vivem em grupos mistos de machos e fêmeas. Eles competem pelo poder formando coalizões de apoiadores de ambos os sexos. Entre os gorilas, em contraste, um único macho dominante estabelece um harém de fêmeas, e comumente expulsa todo macho adulto que possa desafiar sua posição. Chimpanzés não são capazes de adotar a estrutura social dos gorilas; gorilas não sãocapazes de se organizar como chimpanzés; e até onde sabemos chimpanzés e gorilas têm vivido nos mesmos sistemas sociais não somente em décadas recentes, mas por centenas de milhares de anos.
Não há nada parecido com isso entre humanos. Sim, grupos humanos têm sistemas sociais distintos, mas eles não são determinados geneticamente, e quase nunca duram mais que alguns séculos. Pense nos alemães do século XX, por exemplo. Em menos de cem anos eles se organizaram em seis sistemas diferentes: o Império Hohenzollern, a República de Weimar, o Terceiro Reich, a República Democrática Alemã (também conhecida como Alemanha Oriental, comunista), A República Federal da Alemanha (também conhecida como Alemanha Ocidental), e finalmente a Alemanha reunificada,democrática. É claro que os alemães mantiveram sua língua e seu amor por cerveja e salsicha. Mas existirá alguma essência alemã única que os distingue de todas as outras nações e que se manteve inalterada de Guilherme II até Angela Merkel? E se existir, será que também estava lá mil ou 5 mil anos atrás?
O Preâmbulo da Constituição Europeia (não ratificado) começa declarando que se inspira “na herança cultural, religiosa e humanista da Europa, da qual desenvolveram-se os valores universais dos invioláveis e inalienáveis direitos da pessoa humana, da democracia,da igualdade, da liberdade do estado de direito”.[3] Isso poderia dar a impressão de que a civilização europeia é definida pelos valores dos direitos humanos, da democracia, da igualdade e da liberdade. Incontáveis discursos e documentos traçam uma linha direta da antiga democracia ateniense até a atual União Europeia, celebrando 2,5 mil anos de liberdade e democracia europeias. Isso faz lembrar a parábola do homem cego que apalpa a cauda de um elefante e chega à conclusão de que o elefante é uma espécie de pincel. Sim, ideias democráticas têm sido parte da cultura Europeia durante séculos, mas nunca constituíram o todo. Apesar de toda sua glória e influência, a democracia ateniense foi um experimento ambíguo que mal sobreviveu duzentos anos num pequeno canto dos Bálcãs. Se o que definiu a civilização europeia nos últimos 25 anos foi a democracia e os direitos humanos, onde entram Esparta e Júlio César, os cruzados e os conquistadores, a Inquisição e o comércio de escravos, Luís XIV e Napoleão, Hitler e Stálin? Foram todos intrusos de alguma civilização estrangeira?
Na verdade, a civilização europeia é tudo aquilo que os euro peusfizeram dela, assim como o cristianismo é tudo o que os cristãos fizeram dele, o Islã é tudo o que os muçulmanos fizeram dele, e o judaísmo é tudo o que os judeus fizeram dele. E eles fizeram disso coisas notavelmente diferentes ao longo de séculos. Grupos humanos se definem mais pelas mudanças por que passam do que pela continuidade, mas ainda assim eles conseguem criar para si mesmos identidades antigas graças a seu talento para contar histórias. Não importa quais revoluções experimentem, normalmente são capazes de tecer o antigo e o novo numa trama única.
Até mesmo um indivíduo pode entretecer mudanças pessoais radicais numa narrativa de vida coerente e poderosa: “Eu sou aquela pessoa que já foi socialista, mas depois se tornou capitalista; nasci na França e agora vivo nos Estados Unidos; eu era casado e depois me divorciei; eu tive câncer, e depois me curei”. Da mesma forma, um grupo humano, como os alemães, pode vir a se definir pelas grandes mudanças pelas quais passou: “Fomos nazistas, mas aprendemos nossa lição e agora somos democratas pacifistas”. Não precisamos procurar alguma essência alemã única que se tenha manifestado primeiro em Guilherme II, depois em Hitler, e finalmente em Merkel. Essas transformações radicais são exatamente o que define a identidade alemã. Ser alemão em 2018 quer dizer estar vinculado ao difícil legado do nazismo e defender valores liberais e democráticos. Ninguém sabe o que significará em 2050.
As pessoas com frequência se recusam a ver essas mudanças, principalmente quando isso atinge valores políticos e religiosos centrais. Insistimos em que nossos valores são um precioso legado de antigos ancestrais. A única coisa que nos permite dizer isso é o fato de nossos ancestrais estarem mortos há muito tempo e não poderem falar por si mesmos. Considere-se, por exemplo, as atitudes judaica sem relação às mulheres. Atualmente judeus ultraortodoxos banem imagens de mulheres da esfera pública. Outdoors e anúncios dirigidos a judeus ultraortodoxos exibem apenas homens e meninos — nunca mulheres e meninas.[4]
Em 2011 um escândalo irrompeu quando um jornal ultra ortodoxodo Brooklyn, Di Tzeitung, publicou uma foto de membros do governo norte-americano assistindo à operação de captura de Osama binLaden — mas apagou digitalmente todas as mulheres da foto,incluindo a secretária de Estado Hillary Clinton. O jornal explicou que fora obrigado a fazer isso devido às “leis de recato” judaicas.Escândalo semelhante aconteceu quando o jornal HaMevasser removeu Angela Merkel da fotografia de uma manifestação contra o massacre do jornal francês Charlie Hebdo, para que sua imagem não despertasse quaisquer pensamentos libidinosos nas mentes de leitores religiosos. O editor de um terceiro jornal ultraortodoxo, Hamodia, defendeu essa política explicando: “Estamos fundamentados em milhares de anos de tradição judaica”[5]
Em nenhum lugar a proibição de olhar para mulheres é mais rigorosa do que numa sinagoga. Nas sinagogas ortodoxas as mulheres são cuidadosamente segregadas dos homens, e têm de se ocultar atrás de uma cortina, de modo que nenhum homem veja acidentalmente o vulto de uma mulher enquanto ele pronuncia suas preces ou lê as escrituras. Embora isso se baseie em milhares de anos de tradição judaica e em leis divinas imutáveis, como explicar o fato de que quando arqueólogos escavaram em Israel sinagogas antigas do tempo da Mishná e do Talmude não encontraram sinal de segregação de gênero, e em vez disso descobriram belos chãos de mosaico e pintura sem paredes que retratam mulheres, algumas delas bem pouco vestidas? Os sábios que escreveram a Mishná e o Talmude oravam e estudavam regularmente nessas sinagogas, porém os atuais judeus ortodoxos as considerariam blasfemas profanações de antigas tradições.[6]
Distorções semelhantes caracterizam todas as religiões. O Estado Islâmico vangloria-se de ter se revertido à versão pura e original do Islã, porém escolhem muito discretamente quais textos citar e quais ignorar, e como interpretá-los. Na verdade, sua atitude faça-você-mesmo na interpretação de textos sagrados é em si mesma muito moderna. Segundo a tradição, a interpretação era monopólio dos ulama — eruditos que estudavam a lei e a teologia muçulmanas em instituições respeitáveis, como Al-Azhar, no Cairo. Poucos líderes do Estado Islâmico apresentam tais credenciais, e os mais respeitados ulama consideram Abu Bakr al-Baghdadi e os de sua laia criminosos e ignorantes.
Isso não quer dizer que o Estado Islâmico seja “não islâmico” ou“anti-islâmico”, como alegam algumas pessoas. É particularmente irônico que líderes cristãos como Barack Obama tenham a temeridade de dizer a muçulmanos autoproclamados, como Abu Bakr al-Baghdadi, o que significa ser muçulmano.[8] A acalorada discussão sobre a verdadeira essência do Islã é simplesmente irrelevante. O Islã não tem um DNA fixo. O Islã é aquilo que os muçulmanos fizerem dele.[9]
ALEMÃES E GORILAS
Há uma diferença ainda mais profunda que distingue grupos humanos de espécies animais. Espécies frequentemente se dividem, mas nunca se fundem. Chimpanzés e gorilas têm ancestrais comuns, que remontam a 7 milhões de anos atrás. Essa única espécie ancestral dividiu-se em duas populações que depois seguiram seus caminhos evolutivos separados. Uma vez que isso aconteceu, não havia caminho de volta. Como indivíduos que pertencem a espécies diferentes não são capazes de produzir juntos uma descendência fértil, espécies nunca se fundem. Gorilas não podem se fundir com chimpanzés, girafas não podem se fundir com elefantes, e cães não podem se fundir com gatos.
Tribos humanas, em contraste, tendem a se aglutinar com o tempo em grupos cada vez maiores. Os alemães modernos surgiram da fusão de saxões, prussianos, suábios e bávaros, que não faz muito tempo não tinham muito amor uns pelos outros. Diz-se que Otto von Bismarck observou (depois de ler A origem das espécies, de Darwin) que os bávaros são o elo perdido entre o austríaco e o humano.[10] Os franceses surgiram da fusão de francos, normandos, bretões, gascões e provençais. Enquanto isso, no outro lado do canal, ingleses, escoceses, galeses e irlandeses aos poucos foram se agregando (voluntariamente ou não) para formar os britânicos. Num futuro não muito distante, alemães, franceses e britânicos ainda poderiam se fundir em europeus.
Fusões nem sempre duram, como atualmente sabem muito bem as pessoas em Londres, Edimburgo e Bruxelas. O Brexit pode muito bem dar início ao desmantelamento simultâneo do Reino Unido e da União Europeia. Mas, no longo prazo, a direção da história está definida. Dez mil anos atrás o gênero humano estava dividido em incontáveis tribos isoladas. A cada milênio que passava, elas se fundiam em grupos cada vez maiores, criando cada vez menos civilizações distintas. Nas gerações recentes as poucas civilizações remanescentes têm se mesclado numa única civilização global. As divisões políticas, étnicas, culturais e econômicas persistem, mas elas não minam a unidade fundamental. Na verdade, algumas divisões sós e tornam possíveis devido a uma estrutura comum que prevalece sobre tudo. Na economia, por exemplo, a divisão do trabalho não pode ter êxito a menos que todos compartilhem um mercado único. Um país não pode se especializar na produção de carros ou petróleo amenos que possa comprar alimentos de outros países produtores de trigo e arroz.
O processo de unificação humana tem assumido duas formas: o estabelecimento de ligações entre grupos distintos e a homogeneização de práticas em todos os grupos. Podem-se formar ligações até mesmo entre grupos que continuam a se comportar de modos muitos diferentes. Na verdade, podem-se formar ligações até entre inimigos jurados. A própria guerra pode gerar algumas das mais fortes de todas as ligações humanas. Historiadores alegam frequentemente que a globalização atingiu um primeiro pico em 1913, depois entrou em longo declínio durante a época das guerras mundiais e da Guerra Fria, e só se recuperou após 1989.[11] Isso pode valer para a globalização econômica, porém ignora a dinâmica de globalização militar, igualmente importante. A guerra difunde ideias, tecnologias e pessoas muito mais rápido que o comércio. Em 1918 os Estados Unidos estavam mais estreitamente ligados à Europa do que em 1913, se afastaram nos anos entre guerras, e tiveram seus destinos entrelaçados inextricavelmente pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria.
A guerra também faz as pessoas ficarem muito mais interessadas umas nas outras. Os Estados Unidos nunca tinham estado em contato tão próximo com a Rússia como durante a Guerra Fria, quando cada tosse num corredor de Moscou causava pânico em Washington. As pessoas se importam muito mais com seus inimigos do que com parceiros comerciais. Para cada filme americano sobre Taiwan, provavelmente há cinquenta sobre o Vietnã.
OS JOGOS OLÍMPICOS MEDIEVAIS
O mundo do início do século XXI foi muito longe na formação deligações entre diferentes grupos. Pessoas em todo o mundo não só estão em contato umas com as outras como compartilham cada vez mais crenças e práticas idênticas. Mil anos atrás, a Terra era terreno fértil para dezenas de modelos políticos diferentes. Na Europa era possível encontrar principados feudais competindo com cidades-Estados independentes e minúsculas teocracias. O mundo muçulmano tinha seu califado, que reivindicava soberania universal, mas também fez experiências com reinos, sultanatos e emirados. Os impérios chineses acreditavam ser a única entidade política legítima, enquanto as confederações tribais a norte e oeste lutavam entre si jubilosamente. A Índia e o sudeste da Ásia continham um caleidoscópio de regimes, enquanto os regimes políticos na América, África e Australásia iam desde pequenos bandos de caçadores-coletores até extensos impérios. Não é de admirar que mesmo grupos humanos vizinhos tinham dificuldade em concordar quanto aprocedimentos diplomáticos comuns, muito menos quanto a leis internacionais. Cada sociedade tinha seu próprio paradigma político, e achava difícil compreender e respeitar conceitos políticos estrangeiros.
Hoje, em contraste, um único paradigma político é aceito em toda parte. O planeta está dividido em cerca de duzentos Estados soberanos, que geralmente concordam com os mesmos protocolos diplomáticos e leis internacionais comuns. A Suécia, a Nigéria, a Tailândia e o Brasil aparecem em nosso atlas com a mesma cor; são todos membros da ONU; e malgrado miríades de diferenças todos são reconhecidos como Estados soberanos que desfrutam de direitos e privilégios semelhantes. De fato, eles compartilham muitas ideias e práticas políticas, inclusive pelo menos a crença simbólica em corpos representativos, partidos políticos, sufrágio universal e direitos humanos. Há parlamentos em Teerã, Moscou, Cidade do Cabo e Nova Delhi, bem como em Londres e Paris. Enquanto israelenses e palestinos, russos e ucranianos, curdos e turcos competem pelos favores da opinião pública global, todos usam o mesmo discurso de direitos humanos, soberania de Estado e lei internacional.
O mundo pode estar salpicado de vários tipos de “Estados falidos”,mas só conhece um paradigma para um Estado bem-sucedido. Apolítica global segue assim o princípio de Anna Kariênina: Estados bem-sucedidos são todos parecidos, mas cada Estado falido entra em falência a seu próprio modo, ao lhe faltar este ou aquele ingrediente do pacote político dominante. O Estado Islâmico destacou-se recentemente pela rejeição total desse pacote, e em sua tentativa de estabelecer um tipo diferente de entidade política — um califado universal. Mas justamente por esse motivo fracassou. Numerosas forças de guerrilha e organizações terroristas conseguiram estabelecer novos países ou conquistar países existentes. Mas sempre fizeram isso aceitando os princípios fundamentais da ordem política global. Até mesmo o Talibã buscou reconhecimento internacional como o governo legítimo do país soberano do Afeganistão. Até agora, nenhum grupo que rejeita os princípios da política global obteve controle duradouro de qualquer território significativo.
A força do paradigma político global pode talvez ser melhor apreciada considerando-se não as questões políticas centrais da guerra e da diplomacia, e sim algo como os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Reflita por um momento no modo como os Jogos foram organizados. Os 11 mil atletas estavam agrupados em delegações por nacionalidade e não por religião, classe ou língua. Não havia uma delegação budista,uma delegação proletária ou uma delegação da língua inglesa. Exceto em alguns poucos casos — mais notavelmente Taiwan e Palestina —, a determinação da nacionalidade dos atletas era uma questão simples.
Na cerimônia de abertura, em 5 de agosto de 2016, os atletas marcharam em grupos, cada grupo portando sua bandeira nacional.Sempre que Michael Phelps ganhava mais uma medalha de ouro, abandeira americana era erguida ao som do hino nacional americano. Quando Emilie Andéol ganhou a medalha de ouro no judô, abandeira tricolor francesa foi hasteada e tocou-se A Marselhesa.
Muito convenientemente, cada país no mundo tem um hino que segue o mesmo modelo universal. Quase todos os hinos são peças orquestrais com alguns minutos de duração, e não uma cantoria de vinte minutos que só pode ser interpretada por uma casta hereditária especial de sacerdotes. Até mesmo países como Arábia Saudita, Paquistão e Congo adotaram convenções musicais ocidentais em seus hinos. A maioria deles soa como algo composto por um Beethoven pouco inspirado. (Você poderia passar uma noite com amigos ouvindo os vários hinos no YouTube e tentando adivinhar de que país é cada um.) Mesmo as letras são quase as mesmas no mundo todo, indicando conceitos comuns quanto a política e lealdade de grupo. Por exemplo, a que nação você acha que pertence o hino seguinte (só troquei o nome do país pelo genérico “Meu país”):
Meu país, minha pátria
A terra em que derramei meu sangue,
É lá que me posto
Para ser o guardião de minha pátria.
Meu país, minha nação,
Meu povo e minha pátria,
Proclamemos
“Una-se meu país!”
Vida longa a minha terra, vida longa a meu Estado,
Minha nação, minha pátria, em sua inteireza.
Construa sua alma, desperte seu corpo,
De meu grande país!
Meu grande país, independente e livre
Meu lar e meu país que eu amo.
Meu grande país, independente e livre,
Longa vida a meu grande país!
A resposta é Indonésia. Mas você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que a resposta era na verdade Polônia, Nigéria ou Peru?
Bandeiras nacionais exibem a mesma enfadonha conformidade.Com uma única exceção, todas as bandeiras são peças retangulares de pano e apresentam um repertório extremamente limitado de cores, listras e formas geométricas. O Nepal é a estranha exceção, com uma bandeira que consiste em dois triângulos. (Mas nunca obteve uma medalha olímpica.) A bandeira indonésia consiste numa faixa vermelha acima de uma faixa branca. A bandeira polonesa exibe uma faixa branca acima de uma faixa vermelha. A bandeira de Mônaco é idêntica à da Indonésia. Uma pessoa daltônica dificilmente seria capaz de dizer qual é a diferença entre as bandeiras da Bélgica, do Chade, da Costa do Marfim, França, Guiné, Irlanda, Itália, do Mali e da Romênia — todas têm três faixas verticais de várias cores.
Alguns desses países estiveram envolvidos em guerras cruéis uns com os outros, mas durante o tumultuado século XX apenas três Jogos Olímpicos foram cancelados devido a guerras (em 1916, 1940 e 1944). Em 1980 os Estados Unidos e alguns de seus aliados boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou, em 1984 o bloco soviético boicotou os Jogos de Los Angeles, e em diversas outras ocasiões os Jogos estiveram no centro de uma tempestade política (mais notavelmente em 1936, quando a Berlim nazista sediou os Jogos, e em 1972, quando terroristas palestinos massacraram a delegação israelense nas Olimpíadas de Munique). Porém, no todo, controvérsias políticas não fizeram o projeto olímpico descarrilar.
Recuemos agora mil anos. Suponha que você quisesse realizar os Jogos Olímpicos Medievais no Rio, em 1016. Esqueça o fato de que então o Rio era uma pequena aldeia de índios tupis,[12] e que asiáticos,africanos e europeus nem sequer tinham conhecimento da existência da América. Esqueça os problemas logísticos de trazer todos os melhores atletas do mundo para o Rio quando não havia aviões. Esqueça também que eram poucos os esportes praticados em todo o mundo, e, mesmo que todos os humanos fossem capazes de correr, nem todos seriam capazes de concordar com as mesmas regras para uma corrida. Apenas se pergunte como agrupar as delegações de competidores. Atualmente o Comitê Olímpico Internacional passa incontáveis horas discutindo as questões de Taiwan e da Palestina. Multiplique isso por 10 mil para fazer uma estimativa do número de horas que teria de dedicar à política nas Olimpíadas Medievais.
Para começar, em 1016 o Império Song chinês não reconhecia nenhuma entidade política na Terra como sua igual. Seria portanto uma humilhação impensável dar à sua delegação olímpica o mesmo status atribuído às delegações do reino coreano de Korio ou do reino vietnamita do Dai Co Viet — sem falar das delegações de bárbaros primitivos de além-mar.
O califa em Bagdá também reivindicava soberania universal, e a maioria dos muçulmanos sunitas o reconhecia como líder supremo.Em termos práticos, no entanto, o califa mal governava a cidade de Bagdá. Assim, será que todos os atletas sunitas fariam parte de uma única delegação do califado, ou se dividiriam em dezenas de delegações dos numerosos emirados e sultanatos do mundo sunita? Mas por que ficar nos emirados e sultanatos? O deserto da Arábia estava cheio de tribos beduínas livres, que não reconheciam um soberano além de Alá. Estaria cada uma autorizada a enviar uma delegação independente para competir em tiro com arco ou corrida de camelos? A Europa lhe daria um bom número de dores de cabeça.Será que um atleta da cidade de normanda de Ivry competiria sob abandeira do condado local de Ivry, de seu senhor o duque da Normandia, ou talvez do débil rei de França?
Muitas dessas entidades políticas apareceram e desapareceram numa questão de anos. Enquanto você estivesse preparando os Jogos Olímpicos de 1016, não poderia saber antecipadamente quais delegações iriam se apresentar, porque ninguém podia ter certeza de quais entidades políticas ainda existiriam no ano seguinte. Se o reino da Inglaterra tivesse enviado uma delegação aos Jogos de 1016, quando os atletas voltassem para casa com suas medalhas descobririam que os dinamarqueses tinham acabado de capturar Londres, e que a Inglaterra estava sendo absorvida pelo Império do rei Canuto, o Grande, no mar do Norte, junto com a Dinamarca, a Noruega e partes da Suécia. Dentro de mais vinte anos, esse império se desintegrou, mas trinta anos depois a Inglaterra foi novamente conquistada, pelo duque da Normandia.
Não é necessário lembrar que a vasta maioria dessas efêmeras entidades políticas não tinha um hino para tocar nem uma bandeira para hastear. Símbolos políticos eram de grande importância, é claro, mas a linguagem simbólica da política europeia era diferente das linguagens simbólicas da política indonésia, chinesa ou tupi. Chegar a um acordo quanto a um protocolo comum para assinalar uma vitória teria sido praticamente impossível.
Assim, quando você assistir aos Jogos de Tóquio, em 2020, lembre-se de que o que parece ser uma competição entre nações é na verdade um acordo global impressionante. Com todo o orgulho nacional que as pessoas sentem quando sua delegação ganha uma medalha de ouro e sua bandeira é alçada, existe motivo ainda maior para sentir orgulho de a humanidade ser capaz de organizar um evento assim.
UM DÓLAR PARA GOVERNAR A TODOS
Em tempos pré-modernos os humanos experimentaram não somente diversos sistemas políticos, mas também uma espantosa variedade de modelos econômicos. Boiardos russos, marajás indianos, mandarins chineses e caciques de tribos ameríndias tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, comércio, impostos e emprego. Hoje em dia, em contraste, quase todo mundo acredita em pequenas variações sobre o mesmo tema capitalista, e somos engrenagens de uma única linha de produção global. Quer você viva no Congo ou na Mongólia, na Nova Zelândia ou na Bolívia, suas rotinas diárias e fortunas econômicas dependem das mesmas teorias econômicas, das mesmas corporações e dos mesmos bancos, e das mesmas correntes de capital. Se os ministros da Fazenda de Israel e do Irã se encontrassem num almoço, eles teriam uma linguagem econômica comum e poderiam facilmente compartilhar suas agruras.
Quando o Estado Islâmico conquistou grande parte da Síria e do Iraque, assassinou dezenas de milhares de pessoas, demoliu sítios arqueológicos, derrubou estátuas e destruiu sistematicamente os símbolos dos regimes anteriores e da influência cultural do Ocidente.[13] Mas quando seus combatentes entraram nos bancos locais e encontraram esconderijos com dólares americanos com rostos de presidentes americanos e frases em inglês louvando ideais políticos e religiosos americanos, não queimaram esses símbolos do imperialismo americano. Pois a cédula de dólar é universalmente venerada por todos os segmentos políticos e religiosos. Embora não tenha um valor intrínseco — não se pode comer ou beber uma nota de dólar —, a confiança no dólar e na sensatez do Federal Reserve é tão firme que é compartilhada até mesmo por fundamentalistas islâmicos, traficantes mexicanos e tiranos norte-coreanos.
Porém a homogeneidade contemporânea é mais evidente quando se trata de nossa maneira de ver o mundo natural e do corpo humano. Se você ficasse doente mil anos atrás, importava muito o lugar onde vivia. Na Europa, o sacerdote local provavelmente lhe diria que você tinha irritado Deus, e que para recobrar a saúde deveria fazer um donativo à Igreja, uma peregrinação a um lugar sagrado e rezar fervorosamente por perdão. Ou então a bruxa da aldeia poderia explicar que você estava sob a possessão de um demônio e que ela poderia expulsar o demônio por meio de uma canção, uma dança e o sangue de um galo preto.
No Oriente Médio, médicos formados nas tradições clássicas poderiam explicar que seus quatro humores corporais estavam desequilibrados, e você deveria harmonizá-los com uma dieta adequada e poções fedidas. Na Índia, especialistas aiurvédicos apresentariam suas próprias teorias sobre os três elementos corporais conhecidos como doshas e recomendariam um tratamento de ervas, massagens e posições de ioga. Médicos chineses, xamãs siberianos,médicos feiticeiros africanos, curandeiros ameríndios — todo império, reino e tribo tinha suas próprias tradições e seus especialistas, cada um adotando uma visão diferente do corpo humano e da natureza da doença, cada um oferecendo seu próprio manancial de rituais, preparados e curas. Alguns deles trabalhavam surpreendentemente bem, enquanto outros eram quase uma sentença de morte. A única coisa que unia práticas médicas europeias, chinesas, africanas ou americanas era que em toda parte no mínimo um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas, e a expectativa de vida média era bem abaixo dos cinquenta anos.[14]
Hoje, se você adoecer, faz muito menos diferença o lugar onde vive.Em Toronto, Tóquio, Teerã ou Tel Aviv, será levado a hospitais parecidos, onde vai encontrar médicos com aventais brancos que aprenderam as mesmas teorias científicas nas mesmas faculdades de medicina. Seguirão protocolos idênticos e farão exames idênticos para chegar a diagnósticos muito semelhantes. Esses médicos vão prescrever os mesmos remédios produzidos pelas mesmas companhias farmacêuticas internacionais. Ainda há pequenas diferenças culturais, mas os médicos canadenses, japoneses, iranianos e israelenses têm quase os mesmos conceitos sobre o corpo humano e as doenças. Quando o Estado Islâmico capturou Raqqa e Mossul, não destruiu os hospitais locais. Ao contrário, lançou um apelo a médicos e enfermeiras muçulmanos em todo o mundo para irem prestar serviço como voluntários.[15] Ao que tudo indica, até mesmo médicos e enfermeiras islâmicos acreditam que o corpo é formado por células, que doenças são causadas por patógenos e que antibióticos matam bactérias.
E de que são feitas essas células e bactérias? Na verdade, de que é feito o mundo? Mil anos atrás toda cultura tinha sua própria narrativa sobre o universo, e sobre os ingredientes fundamentais da sopa cósmica. Hoje, pessoas instruídas em todo o mundo acreditam nas mesmas coisas quanto a matéria, energia, tempo e espaço. Tome, por exemplo, os programas nucleares iraniano e norte-coreano. O problema é que os iranianos e os norte-coreanos têm exatamente a mesma visão da física que têm os israelenses e os americanos. Se iranianos e norte-coreanos acreditassem que E = mc4, Israel e Estados Unidos não precisariam se incomodar nem um pouco com seus programas nucleares.
As pessoas ainda têm religiões e identidades nacionais diferentes. Mas quando se trata de coisas práticas — como construir um Estado, uma economia, um hospital ou uma bomba — quase todos nós pertencemos à mesma civilização. Há discórdia, sem dúvida, mas todas as civilizações têm suas disputas internas. Na verdade, elas são definidas por essas disputas. Ao tentar resumir sua identidade, frequentemente as pessoas fazem uma espécie de lista de traços comuns. É um erro. Estariam mais bem servidas se fizessem uma lista de conflitos e dilemas comuns. Por exemplo, em 1618 a Europa não tinha uma única identidade religiosa — era definida por conflito religioso. Ser um europeu em 1618 significava estar obcecado por pequenas diferenças doutrinárias entre católicos e protestantes, ou entre calvinistas e luteranos, e estar disposto a matar e ser morto por causa dessas diferenças. Se um ser humano em 1618 não se incomodasse com conflitos religiosos, essa pessoa talvez fosse turca ou hindu, mas certamente não era europeia.
Da mesma forma, em 1940 a Inglaterra e a Alemanha tinham valores políticos muito diferentes, mas ambas eram parte da “civilização europeia”. Hitler não era menos europeu que Churchill. Ao contrário, a luta entre eles definia o que significava ser europeu naquela conjuntura particular na história. Em contraste, um caçador-coletor !kung em 1940 não era europeu porque o embate interno na Europa sobre raça e império faria pouco sentido para ele.
As pessoas com quem brigamos mais frequentemente são membros de nossa própria família. A identidade é definida mais por conflitos e dilemas do que por concordâncias. O que significa ser europeu em 2018? Não significa ter pele branca, acreditar em Jesus Cristo ou preservar a liberdade, e sim discutir veementemente sobre imigração, sobre a União Europeia e sobre os limites do capitalismo. Significa também perguntar a si mesmo obsessivamente “o que define minha identidade?” e preocupar-se com uma população cada vez mais idosa, o consumismo galopante e o aquecimento global. Em seus conflitos e dilemas, os europeus do século XXI são diferentes de seus ancestrais de 1618 e 1940, mas cada vez mais semelhantes a seus parceiros comerciais chineses e indianos.
Sejam quais forem as mudanças que nos esperam no futuro, elas provavelmente envolverão uma luta fraternal dentro de uma única civilização e não um embate entre civilizações estranhas. Os grandes desafios do século XXI serão de natureza global. O que acontecerá quando a mudança climática provocar catástrofes ecológicas? O que acontecerá quando computadores sobrepujarem os humanos em uma quantidade cada vez maior de tarefas, e os substituírem em um número cada vez maior de empregos? O que vai acontecer quando a biotecnologia nos permitir aprimorar os humanos e estender a duração da vida? Sem dúvida teremos enormes discussões e conflitos amargos quanto a essas questões. Mas não é provável que essas discussões e esses conflitos nos isolem uns dos outros. Exatamente o contrário. Eles nos tornarão mais interdependentes. Embora o gênero humano esteja longe de constituir uma comunidade harmoniosa, somos todos membros de uma única e conflituosa civilização global.
Como explicar, então, a onda nacionalista que varre a maior parte do mundo? Talvez em nosso entusiasmo pela globalização tenhamos sido apressados demais ao desconsiderar as boas e velhas nações? Poderia a volta ao nacionalismo tradicional ser a solução para nossa desesperada crise global? Se a globalização traz com ela tantos problemas — por que não simplesmente abandoná-la?
7. Nacionalismo
Problemas globais exigem respostas globais
Dado que o gênero humano constitui agora uma única civilização, todos os povos compartilhando desafios e oportunidades comuns, porque britânicos, americanos, russos e diversos outros grupos voltam-se para o isolamento nacionalista? Será que o retorno ao nacionalismo oferece soluções reais para os problemas inéditos de nosso mundo global, ou é uma indulgência escapista que pode condenar o gênero humano e a biosfera à catástrofe?
Para responder a essa pergunta devemos primeiro dissipar um mito muito difundido. Ao contrário do que diz o senso comum, o nacionalismo não é inato à psique humana e não tem raízes biológicas. É verdade que os humanos são animais integralmente sociais, e a lealdade ao grupo está impressa em seus genes. No entanto, por centenas de milhares de anos o Homo sapiens e seus ancestrais hominídeos viveram em comunidades pequenas e íntimas, com não mais que algumas dezenas de pessoas. Humanos desenvolvem facilmente lealdade a grupos pequenos e íntimos como a tribo, um batalhão de infantaria ou um negócio familiar, mas a lealdade a milhões de pessoas totalmente estranhas não é natural para humanos. Essas lealdades em massa só apareceram nos últimos poucos milhares de anos — em termos evolutivos, ontem de manhã — e exigem imensos esforços de construção social.
As pessoas se deram ao trabalho de construir coletividades nacionais porque se confrontavam com desafios que não podiam ser resolvidos por uma única tribo. Tomem-se, por exemplo, as antigas tribos que viviam ao longo do rio Nilo milhares de anos atrás. O rio era sua força vital. Ele irrigava os campos e transportava o comércio. Mas era um aliado imprevisível. Se havia pouca chuva, as pessoas morriam de fome; se havia chuva demais, o rio transbordava e destruía aldeias inteiras. Nenhuma tribo poderia resolver sozinha seus problemas, porque cada tribo só dominava uma pequena seção do rio e não poderia mobilizar mais do que poucas centenas de trabalhadores. Somente um esforço comum para construir enormes barragens e cavar centenas de quilômetros de canais poderia conter e controlar o poderoso rio. Esse foi um dos motivos pelos quais as tribos aos poucos coalesceram numa única nação que teve o poder de construir barragens e canais, regular o fluxo do rio, construir reservatórios de grãos para os anos magros e estabelecer um sistema de transporte e comunicação abrangendo todo o país.
Apesar dessas vantagens, transformar tribos e clãs em uma única nação nunca foi fácil, em tempos passados ou hoje em dia. Para se dar conta de como é difícil identificar-se com essa nação, você só precisa se perguntar: “Eu conheço essas pessoas?”. Sei o nome de minhas duas irmãs e de meus onze primos, e sou capaz de falar um dia inteiro sobre suas personalidades, seus caprichos e seus relacionamentos. Não sei o nome das 8 milhões de pessoas que compartilham comigo a cidadania israelense, nunca me encontrei com a maioria delas, e é muito pouco provável que as encontre no futuro. Minha capacidade de, apesar disso, sentir que sou leal a essa massa nebulosa não é um legado de meus ancestrais caçadores-coletores, e sim um milagre da história recente. Um biólogo marciano que conhecesse apenas a anatomia e a evolução do Homo sapiens seria incapaz de adivinhar que esses macacos são capazes de desenvolver laços comunitários com milhões de estranhos. Para convencer-me a ser leal a “Israel” e seus 8 milhões de habitantes, o movimento sionista e o Estado israelense tiveram de criar um gigantesco aparelho de educação, propaganda e patriotismo, assim como sistemas nacionais de segurança, saúde e bem-estar social.
Isso não quer dizer que haja algo de errado com vínculos nacionais. Sistemas imensos não são capazes de funcionar sem lealdades de massa, e expandir o círculo de empatia humana tem seus méritos. As formas mais amenas de patriotismo têm estado entre as mais benevolentes criações humanas. Acreditar que minha nação é única, que ela merece minha lealdade e que eu tenho obrigações especiais com seus membros inspira-me a me importar com os outros e a fazer sacrifícios por eles. É perigoso acreditar que sem nacionalismos estaríamos todos vivendo em paraísos liberais. Mais provavelmente, estaríamos vivendo num caos tribal. Países pacíficos, prósperos e liberais, como a Suécia, a Alemanha e a Suíça, cultivam todos um forte senso de nacionalismo. A lista de países aos quais faltam ligações nacionais robustas inclui o Afeganistão, a Somália, o Congo e muitos outros Estados falidos.[1]
O problema começa quando o patriotismo benigno se transforma em ultranacionalismo chauvinista. Em vez de acreditar que minha nação é única — o que é verdadeiro para todas as nações —, eu poderia começar a sentir que minha nação é suprema, que devo a ela toda a minha lealdade e que não tenho obrigações relevantes com mais ninguém. Esse é um terreno fértil para conflitos violentos. Durante gerações a crítica mais básica ao nacionalismo era que ele levava à guerra. Mas a constatação de que havia relação entre nacionalismo e violência dificilmente era capaz de conter os excessos nacionalistas, particularmente quando toda nação justificava sua própria expansão militar alegando a necessidade de se proteger contra as armações de seus vizinhos. Enquanto a nação provia a maior parte de seus cidadãos com níveis inéditos de segurança e prosperidade, eles estavam dispostos a pagar o preço com sangue. No século XIX e início do século XX esse compromisso nacionalista ainda parecia muito atraente. Embora o nacionalismo estivesse levando a terríveis conflitos numa escala sem precedente, os Estados-nação modernos também construíam sistemas robustos de saúde, educação e bem-estar social. Os serviços nacionais de saúde faziam com que as batalhas de Ipres e de Verdun parecessem ter valido a pena.
Tudo mudou em 1945. A invenção de armas nucleares abalou fortemente o equilíbrio do arranjo nacionalista. Depois de Hiroshima, as pessoas não temiam que o nacionalismo pudesse levar meramente à guerra — começaram a temer que levaria a uma guerra nuclear. A aniquilação total serviu para aguçar a mente das pessoas, e graças, não em pequena medida, à bomba atômica, o impossível aconteceu e o gênio do nacionalismo foi espremido, ao menos em parte, de volta para sua garrafa. Assim como os antigos aldeões da bacia do Nilo redirecionaram parte de sua lealdade dos clãs locais para um reino muito maior capaz de conter o perigoso rio, na era nuclear uma comunidade global aos poucos se desenvolveu além e acima das várias nações, porque somente uma comunidade desse tipo seria capaz de conter o demônio nuclear.
Na campanha presidencial de 1964, Lyndon B. Johnson pôs no ar o famoso “anúncio da margarida”, uma das mais bem-sucedidas peças de propaganda nos anais da televisão. O anúncio começa com uma garotinha colhendo e contando as pétalas de uma margarida, mas quando chega a dez uma voz metálica assume a contagem regressiva, de dez a zero, como num lançamento de míssil. Ao chegar a zero o clarão de uma explosão nuclear enche a tela, e o candidato Johnson dirige-se ao público americano e diz: “É isto que está em jogo. Criar um mundo no qual todos os filhos de Deus podem viver ou entrar na escuridão. Devemos ou amar uns aos outros ou morrer”.[2] Tendemos a associar o mote “faça amor, não faça guerra” à contracultura do final da década de 1960, mas na verdade já em 1964 era consenso até mesmo entre políticos durões como Johnson.
Consequentemente, durante a Guerra Fria o nacionalismo cedeu lugar a uma abordagem mais global da política internacional, e quando a Guerra Fria acabou a globalização parecia ser a irresistível onda do futuro. Esperava-se que o gênero humano abandonasse apolítica nacionalista, como se fosse uma relíquia de tempos mais primitivos que atrairia no máximo os mal informados habitantes de alguns países subdesenvolvidos. Acontecimentos em anos recentes provaram, no entanto, que o nacionalismo ainda é capaz de seduzir até mesmo cidadãos da Europa e dos Estados Unidos, mais ainda da Rússia, da Índia e da China. Alienadas pelas forças impessoais do capitalismo global, e temendo pelo destino de seus sistemas nacionais de saúde, educação e bem-estar social, pessoas em todo o mundo vão buscar conforto e sentido no seio da nação.
Porém a questão levantada por Johnson no anúncio da margarida é ainda mais pertinente hoje em dia do que em 1964. Vamos criar um mundo no qual todos os humanos possam viver juntos ou vamos entrar na escuridão? Donald Trump, Theresa May, Vladimir Putin, Narendra Modi e seus colegas serão capazes de salvar o mundo apelando para nossos sentimentos nacionais, ou será a atual torrente nacionalista uma forma de evadir o intratável problema global que enfrentamos?
O DESAFIO NUCLEAR
Comecemos com a nêmese íntima do gênero humano: a guerra nuclear. Quando o anúncio da margarida foi ao ar, em 1964, dois anos após a crise dos mísseis de Cuba, a aniquilação nuclear era uma ameaça palpável. Especialistas e leigos temiam que o gênero humano não tivesse sabedoria para evitar a destruição, e que era apenas questão de tempo para a Guerra Fria ferver. Na verdade, o gênero humano provou-se à altura do desafio nuclear. Americanos, soviéticos, europeus e chineses mudaram o modo com que a geopolítica fora conduzida durante milênios, e assim a Guerra Fria terminou com pouco derramamento de sangue, e uma nova ordem mundial internacionalista fomentou uma era de paz sem precedente. Não só se evitou a guerra nuclear, como diminuíram as guerras de todos os tipos. Desde 1945, surpreendentemente, poucas fronteiras foram redesenhadas mediante agressão direta, e a maior parte dos países cessou de usar a guerra como instrumento político padrão. Em 2016, apesar da guerra na Síria, na Ucrânia e vários outros focos de tensão, menos pessoas morreram devido à violência humana do que a obesidade, acidentes de carro ou suicídio.[3] Essa talvez seja a maior realização política e moral de nossos tempos.
Infelizmente, estamos tão acostumados a essa conquista que a tomamos como certa e garantida. É por isso, em parte, que há quem se permita brincar com fogo. A Rússia e os Estados Unidos embarcaram recentemente numa nova corrida nuclear, desenvolvendo novas máquinas do juízo final que ameaçam desfazer tudo o que se ganhou a duras penas nas últimas décadas e nos levar de volta à beira da aniquilação nuclear.[4] Enquanto isso o público aprendeu a parar de se preocupar e de amar a bomba (como sugeriu o dr. Fantástico), ou simplesmente esqueceu que ela existia.
Assim, o debate do Brexit na Inglaterra — uma importante potência nuclear — girou principalmente em torno de questões de economia e imigração, enquanto a contribuição vital da União Europeia para a paz europeia e global foi amplamente ignorada. Após séculos de terríveis carnificinas, franceses, alemães, italianos e britânicos finalmente construíram um mecanismo que garante a harmonia continental — até o público inglês sabotar essa máquina milagrosa.
Foi extremamente difícil construir o regime internacional que impediu uma guerra nuclear e salvaguardou a paz no mundo. Não há dúvida de que precisamos adaptar esse regime às novas condições globais, por exemplo, apoiando-nos menos nos Estados Unidos e atribuindo um papel maior a potências não ocidentais, como China e Índia.[5] No entanto, abandonar totalmente esse regime e reverter para uma política nacionalista de poder seria uma aposta irresponsável. É verdade que no século XIX os países jogaram o jogo nacionalista sem destruir a civilização humana. Mas isso foi na era pré-Hiroshima. Desde então, as armas nucleares elevaram as apostas e mudaram a natureza fundamental da guerra e da política. Enquanto os humanos souberem como enriquecer urânio e plutônio, sua sobrevivência depende de saberem dar preferência à prevenção de uma guerra nuclear em detrimento dos interesses de qualquer nação em particular. Nacionalistas fervorosos que gritam “Nosso país em primeiro lugar!” deveriam se perguntar se seu país é capaz de,sozinho, sem um robusto sistema de cooperação internacional,proteger o mundo — ou a si mesmo — da destruição nuclear.
O DESAFIO ECOLÓGICO
Além da guerra nuclear, nas próximas décadas o gênero humano vai enfrentar uma nova ameaça existencial que os radares políticos mal registravam em 1964: o colapso ecológico. Os humanos estão desestabilizando a biosfera global em múltiplas frentes. Estamos extraindo cada vez mais recursos do meio ambiente, e despejando nele quantidades enormes de lixo e veneno, mudando a composição do solo, da água e da atmosfera.
Não temos sequer ideia das dezenas de milhares de maneiras com que rompemos o delicado equilíbrio ecológico que se configurou ao longo de milhões de anos. Considere, por exemplo, o uso de fosfato como fertilizante. Em pequenas quantidades é um nutriente essencial para o crescimento de plantas. Mas em quantidades excessivas torna-se tóxico. A agricultura industrial moderna baseia-se em fertilizar artificialmente os campos com muito fosfato, mas a grande quantidade de fosfato que escorre das fazendas vai envenenar rios,lagos e oceanos, com impacto devastador na vida marinha. Um agricultor que cultiva milho em Iowa pode estar inadvertidamente matando peixes no golfo do México.
Como resultado dessas atividades, hábitats são degradados, animais e plantas são extintos e ecossistemas inteiros, como a Grande Barreira de Corais australiana e a Floresta Amazônica, podem ser destruídos.Durante milhares de anos o Homo sapiens comportou-se como um assassino em série ecológico; agora está se metamorfoseando num assassino em massa ecológico. Se continuarmos no curso atual, isso não apenas causará a aniquilação de um grande percentual de todas as formas de vida como poderia também solapar os fundamentos da civilização humana.[6]
A ameaça maior é a mudança climática. Os humanos existem há centenas de milhares de anos, e sobreviveram a inúmeras idades do gelo e ondas de calor. No entanto, a agricultura, as cidades e as sociedades complexas existem há menos de 10 mil anos. Durante esse período, conhecido como Holoceno, o clima da Terra tem sido relativamente estável. Qualquer desvio dos padrões do Holoceno apresentará às sociedades humanas desafios enormes com os quais nunca se depararam. Será como fazer um experimento em aberto com bilhões de cobaias humanas. Mesmo que a civilização se adapte posteriormente às novas condições, quem sabe quantas vítimas perecerão no processo de adaptação?
Esse experimento aterrorizante já foi acionado. Ao contrário de uma guerra nuclear — que é um futuro potencial —, a mudança climática é uma realidade presente. Existe um consenso científico de que atividades humanas, particularmente a emissão de gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, estão fazendo o clima da terra mudar num ritmo assustador.[7] Ninguém sabe exatamente quanto dióxido de carbono podemos continuar lançando na atmosfera sem desencadear um cataclismo irreversível. Mas nossas melhores estimativas científicas indicam que a menos que cortemos dramaticamente a emissão de gases de efeito estufa nos próximos vinte anos, a temperatura média global se elevará em 2ºC,[8] o que resultará na expansão de desertos, no desaparecimento de calotas de gelo, na elevação dos oceanos e em maior recorrência de eventos climáticos extremos, como furacões e tufões. Essas mudanças, por sua vez, vão desmantelar a produção agrícola, inundar cidades, tornar grande parte do mundo inabitável e despachar centenas de milhões de refugiados em busca de novos lares.[9]
Além disso, estamos nos aproximando rapidamente de um certo número de pontos de inflexão além dos quais mesmo uma queda dramática na emissão de gases de efeito estufa não será suficiente para reverter essa tendência e evitar uma tragédia de abrangência mundial. Por exemplo, à medida que o aquecimento global derrete os mantos de gelo polar, menos luz solar é refletida do planeta Terra para o espaço. Isso quer dizer que o planeta estará absorvendo mais calor, as temperaturas se elevarão ainda mais e o gelo derreterá ainda mais rapidamente. Quando esse ciclo ultrapassar um limiar crítico, ele vai criar um impulso próprio irresistível, e todo o gelo das regiões polares derreterá mesmo que os humanos parem de queimar carvão, petróleo e gás. Por isso não basta que reconheçamos o perigo que enfrentamos. É crucial que façamos algo quanto a isso agora.
Infelizmente, em 2018, em vez de haver uma redução na emissão de gás de efeito estufa, a taxa global de emissão está aumentando. A humanidade dispõe de muito pouco tempo para se desapegar dos combustíveis fósseis. Temos de começar a desintoxicação hoje. Não no ano ou no mês que vem, mas hoje. “Oi, sou o Homo sapiens, e sou viciado em combustível fóssil.”
Onde se encaixa o nacionalismo neste quadro alarmante? Haverá uma resposta nacionalista à ameaça ecológica? Alguma nação, mesmo que poderosa, será capaz de sozinha fazer parar o aquecimento global? Países podem, individualmente, adotar uma variedade de políticas ambientais, muitas das quais fazem sentido econômico e ambiental. Governos podem taxar emissões de carbono, adicionar custos de externalidades ao preço do petróleo e do gás, adotar regulamentos ambientais mais rigorosos, cortar subsídios de indústrias poluentes e incentivar a mudança para energia renovável. Podem também investir mais dinheiro na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias revolucionárias ecologicamente corretas, numa espécie de Projeto Manhattan ecológico. Deve-se ao motor de combustão interna muito dos avanços dos últimos 150 anos, mas, se quisermos manter um meio ambiente física e economicamente estável, ele tem de ser aposentado e substituído por novas tecnologias que não dependem da queima de combustíveis fósseis.[10]
Inovações tecnológicas podem ser úteis em muitos outros campos além da energia. Considere, por exemplo, o potencial de desenvolver uma “carne limpa”. Atualmente a indústria da carne não só inflige imenso sofrimento a bilhões de seres sencientes como também é uma das causas do aquecimento global, um dos principais consumidores de antibióticos e veneno e um dos maiores poluidores do ar, da terra e da água. Segundo um relatório de 2013 da Institution of Mechanical Engineers, são necessários 15 mil litros de água fresca para produzir um quilograma de carne bovina, comparados com 287 litros necessários para produzir um quilograma de batatas.[11]
A pressão sobre o meio ambiente provavelmente vai piorar à medida que a prosperidade crescente de países como China e Brasil permitir que centenas de milhões deixem de comer apenas batatas e passem a comer carne regularmente. Seria difícil convencer chineses e brasileiros — isso sem mencionar americanos e alemães — a parar de comer bifes, hambúrgueres e salsichas. Mas e se os engenheiros fossem capazes de encontrar uma maneira de produzir carne a partir de células? Se quiser um hambúrguer, crie apenas um hambúrguer, em vez de criar e abater uma vaca inteira (e transportar a carcaça por milhares de quilômetros).
Isso pode soar como ficção científica, mas o primeiro hambúrguer limpo foi criado a partir de células — e depois comido — em 2013. Custou 330 mil dólares. Quatro anos de pesquisa e desenvolvimento trouxeram o preço para onze dólares por unidade, e dentro de mais uma década espera-se que a carne limpa produzida industrialmente seja mais barata do que a carne abatida. Esse desenvolvimento tecnológico pode salvar bilhões de animais de uma vida de miséria abjeta, ajudar a alimentar bilhões de humanos malnutridos e ao mesmo tempo ajudar a impedir o colapso ecológico.[12]
Há, portanto, muitas coisas que governos, corporações e indivíduos podem fazer para evitar a mudança climática. Mas para que sejam eficazes devem ser feitas num nível global. Quando se trata de clima, os países simplesmente não são soberanos. Estão à mercê de ações realizadas por pessoas no outro lado do planeta. A República de Kiribati — uma nação insular no oceano Pacífico — pode reduzir sua emissão de gás de efeito estufa a zero, e assim mesmo ficar submersa com a elevação das águas se outros países não seguirem seu exemplo.
O Chade pode pôr painéis solares em todos os telhados do país e ainda assim tornar-se um deserto árido devido às políticas ambientais irresponsáveis de estrangeiros longínquos. Até mesmo nações poderosas como China e Japão não são soberanas no que concerne à ecologia. Para proteger Xangai, Hong Kong e Tóquio de inundações e tufões destrutivos, chineses e japoneses terão de convencer os governos russo e americano a abandonar seu comportamento tradicional.
O isolacionismo nacionalista talvez seja mais perigoso no contexto de mudança climática do que no contexto de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear em escala mundial ameaçaria destruir todas a nações, e assim todas as nações têm interesse em evitá-la. O aquecimento global, em contraste, provavelmente terá impacto diferente em diferentes nações. Alguns países, notadamente a Rússia, podem se beneficiar dele. A Rússia tem poucos ativos em seu litoral, daí estar muito menos preocupada que a China ou o Kiribati quanto à elevação do nível do mar. E enquanto temperaturas mais altas provavelmente transformariam a China num deserto, elas podem simultaneamente fazer da Sibéria o celeiro do mundo. Além disso, enquanto o gelo derrete no extremo norte, as rotas no mar Ártico dominado pela Rússia podem tornar-se a artéria do comércio global, e Kamchatka poderá substituir Cingapura como o entroncamento do mundo.[13]
Da mesma forma, é provável que a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia seja mais atraente para alguns países do que para outros. China, Japão e Coreia do Sul dependem da importação de enormes quantidades de petróleo e gás. Ficarão felizes de se livrar desse fardo. Rússia, Irã e Arábia Saudita dependem da exportação de petróleo e gás. Suas economias entrarão em colapso se o petróleo e o gás de repente derem lugar ao Sol e ao vento.
Consequentemente, enquanto algumas nações como China, Japão e Kiribati provavelmente farão forte pressão para a redução das emissões de carbono o mais cedo possível, outras nações, como Rússia e Irã, podem ficar muito menos entusiasmadas. Mesmo em países suscetíveis a grandes perdas com o aquecimento global, como os Estados Unidos, nacionalistas talvez sejam míopes e autocentrados demais para avaliar o perigo. Um exemplo pequeno, porém eloquente, foi dado em janeiro de 2018, quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 30% sobre painéis solares e equipamentos de energia solar de fabricação estrangeira, preferindo apoiar produtores americanos mesmo ao preço de retardar a mudança para a energia renovável.[14]
Uma bomba atômica é uma ameaça tão óbvia e imediata que ninguém pode ignorá-la. O aquecimento global, em contraste, é uma ameaça mais vaga e prolongada. Daí que, sempre que considerações ambientais de longo prazo exigem algum sacrifício, nacionalistas podem ser tentados a pôr interesses nacionais em primeiro lugar, e se tranquilizam dizendo que podem se preocupar com o meio ambiente mais tarde, ou deixar isso para pessoas de outros lugares. Ou então podem simplesmente negar a existência do problema. Não é coincidência que o ceticismo quanto à mudança climática tende a ser exclusivo da direita nacionalista. Raramente veem-se socialistas ou a esquerda proclamar que “a mudança climática é um embuste chinês”. Como não existe uma resposta nacional ao problema do aquecimento global, alguns políticos nacionalistas preferem acreditar que o problema não existe.[15]
O DESAFIO TECNOLÓGICO
É provável que a mesma dinâmica estrague qualquer antídoto
nacionalista à terceira ameaça existencial do século XXI: a disrupção tecnológica. Como vimos em capítulos anteriores, a fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia abre a porta para uma cornucópia de cenários apocalípticos, que vão desde ditaduras digitais até a criação de uma classe global de inúteis. Qual é a resposta nacionalista a essas ameaças?
Não existe uma resposta nacionalista. Como no caso da mudança climática, também no da disrupção tecnológica o Estado-nação é simplesmente o contexto errado para enfrentar a ameaça. Uma vez que pesquisa e desenvolvimento não são monopólio de nenhum país, nem mesmo uma superpotência como os Estados Unidos pode restringi-los a si mesma. Se o governo dos Estados Unidos proibir que se faça engenharia genética em embriões humanos, isso não impedirá que cientistas chineses a façam. E se os desenvolvimentos daí resultantes conferirem à China alguma vantagem econômica ou militar importante, os Estados Unidos ficarão tentados a abolir sua própria proibição. Especialmente num mundo xenofóbico em que um devora o outro, se um único país optar por seguir um caminho tecnológico de alto ganho e alto risco, outros países serão obrigados afazer o mesmo, porque ninguém pode se dar ao luxo de ficar para trás. Para evitar uma corrida ao fundo do poço, o gênero humano provavelmente vai precisar de algum tipo de identidade e lealdade global.
Além disso, enquanto a guerra nuclear e a mudança climática ameaçam apenas a sobrevivência física do gênero humano, tecnologias disruptivas podem mudar a própria natureza da humanidade, e estão entrelaçadas com as mais profundas crenças éticas e religiosas humanas. Enquanto todos concordam que devíamos evitar a guerra nuclear e o colapso ecológico, as pessoas têm opiniões muito diferentes quanto ao uso da bioengenharia e da IA para aprimorar os humanos e criar novas formas de vida. Se o gênero humano não conseguir conceber e administrar diretrizes éticas globalmente aceitas, estará aberta a temporada para o dr. Frankenstein.
Quando se trata de formular essas diretrizes éticas, acima de tudo é o nacionalismo que sofre de um fracasso da imaginação. O nacionalismo pensa em termos de conflitos territoriais que duram séculos, enquanto as revoluções tecnológicas do século XXI deveriam ser compreendidas em termos cósmicos. Depois de 4 bilhões de anos de vida orgânica evoluindo por seleção natural, a ciência está nos levando à era da vida inorgânica configurada por design inteligente.
Neste processo, o Homo sapiens provavelmente desaparecerá. Ainda somos macacos da família dos hominídeos. Ainda compartilhamos com neandertais e chimpanzés a maior parte de nossas estruturas corporais, habilidades físicas e faculdades mentais. Não só nossas mãos, olhos e cérebro são distintamente hominídeos como também nosso amor, nossa paixão, nossa raiva e nossos vínculos sociais. Dentro de um ou dois séculos, a combinação de biotecnologia e IA poderá resultar em traços corporais, físicos e mentais que se libertem completamente do molde hominídeo. Alguns acreditam que a consciência poderia até mesmo ser dissociada de toda estrutura orgânica, e surfar pelo ciberespaço livre de todas as restrições biológicas e físicas. Por outro lado, poderíamos testemunhar a total dissociação de inteligência e consciência, e o desenvolvimento da IA poderia resultar num mundo dominado por entidades superinteligentes, mas totalmente não conscientes.
O que tem o nacionalismo israelense, russo ou francês a dizer sobre isso? Para poder fazer escolhas sensatas quanto ao futuro da vida, precisamos ir bem além do ponto de vista nacionalista e olhar para as coisas de uma perspectiva global, ou até mesmo cósmica.
A ESPAÇONAVE TERRA
Cada um desses três problemas — guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica — é suficiente para ameaçar o futuro da civilização. Mas, tomados em conjunto, eles se somam a uma crise existencial sem precedente, em especial porque provavelmente irão se reforçar e recompor mutuamente.
Por exemplo, mesmo que a crise ecológica ameace a sobrevivência da civilização humana como a conhecemos, é improvável que detenha o desenvolvimento da IA e da bioengenharia. Se você está contando com a elevação dos oceanos, a constante diminuição no suprimento de alimentos e as migrações em massa para desviar nossa atenção dos algoritmos e dos genes, pense novamente. À medida que a crise ecológica se aprofunda, o desenvolvimento de tecnologias de alto risco e alto ganho provavelmente só vai acelerar.
Na verdade, a mudança climática pode vir a desempenhar a mesma função das duas guerras mundiais. Entre 1914 e 1918, e novamente entre 1939 e 1945, o ritmo do desenvolvimento tecnológico disparou porque as nações envolvidas em uma guerra total mandaram a cautela e a economia para o espaço e investiram imensos recursos em todo tipo de projetos audaciosos e fantásticos. Muitos desses projetos fracassaram, mas alguns resultaram em tanques, radar, gás venenoso, jatos supersônicos, mísseis intercontinentais e bombas nucleares. Da mesma forma, as nações, ante um cataclismo climático, poderiam ficar tentadas a investir suas esperanças em apostas tecnológicas desesperadas. O gênero humano tem muitas e justificadas dúvidas quanto à IA e à bioengenharia, mas em tempos de crise as pessoas fazem coisas arriscadas. O que quer que você pense quanto a regular tecnologias disruptivas, pergunte a si mesmo se é provável que essas regulações se mantenham mesmo que a mudança climática cause escassez global de alimentos, inunde cidades em todo o mundo e obrigue centenas de milhões de refugiados a cruzar fronteiras.
As disrupções tecnológicas, por sua vez, poderiam aumentar o perigo de guerras apocalípticas não só ao acirrar as tensões globais, mas também ao desestabilizar o equilíbrio do poder nuclear. Desde a década de 1950, as superpotências evitam conflitos entre si porque sabem que uma guerra significaria destruição mútua garantida. Mas, à medida que surgem novos tipos de armas ofensivas e defensivas, uma superpotência tecnológica emergente poderia concluir que é capaz de destruir seus inimigos impunemente. Por outro lado, uma potência em declínio poderia temer que suas armas atômicas tradicionais ficassem logo obsoletas e que seria melhor usá-las antes de perdê-las. Tradicionalmente, confrontos nucleares se parecem com um jogo de xadrez hiper-racional. O que acontecerá quando jogadores forem capazes de usar ciberataques para se apoderar do controle das peças de um rival, ou quando terceiras partes anônimas puderem mover um peão sem que ninguém saiba quem fez a jogada — ou quando o Alfa-Zero for promovido do xadrez comum ao xadrez nuclear?
Assim como desafios diferentes tendem a se reforçar reciprocamente, também a boa vontade necessária para enfrentar um desafio pode ser corrompida devido a problemas em outra frente. Países envolvidos em competição armamentista não são propensos a concordar com restrições ao desenvolvimento de IA, e países que se esforçam por ultrapassar as conquistas tecnológicas de seus rivais acharão muito difícil concordar com um plano comum para deter a mudança climática. Enquanto o mundo permanecer dividido em nações rivais será muito difícil superar simultaneamente os três desafios — e o fracasso em uma única dessas frentes pode se mostrar catastrófico.
Para concluir, a onda nacionalista que varre o mundo não pode fazer o relógio recuar para 1939 ou 1914. A tecnologia mudou tudo ao criar um conjunto de ameaças existenciais globais que nenhuma nação é capaz de resolver sozinha. Um inimigo comum é o melhor catalisador para a formação de uma identidade comum, e o gênero humano tem agora pelo menos três desses inimigos — guerra nuclear, mudança climática e disrupção tecnológica. Se apesar dessas ameaças comuns os humanos privilegiarem suas lealdades nacionais particulares acima de tudo, os resultados serão muito piores que os de 1914 e 1939.
Um caminho muito melhor é o que foi delineado na Constituição da União Europeia: “enquanto permanecem orgulhosos de suas próprias identidades nacionais e de sua história, os povos da Europa estão determinados a transcender suas divisões anteriores e, ainda mais estreitamente unidos, forjar um destino comum”.16 Isso não significa a abolição de todas as identidades nacionais, o abandono de todas as tradições locais e a transformação da humanidade numa gosma homogênea e cinzenta. Nem significa o vilipêndio de todas as expressões de patriotismo. Na verdade, ao prover um escudo protetor continental, militar e econômico, a União Europeia sem dúvida fomentou o patriotismo local em lugares como Flandres, Lombardia, Catalunha e Escócia. A ideia de estabelecer uma Escócia ou uma Catalunha independentes fica mais atraente quando não se teme uma invasão alemã e quando se pode contar com uma frente europeia comum contra o aquecimento global e corporações multinacionais.
Por isso os nacionalistas europeus estão se portando com tranquilidade. Com todo o discurso do retorno da nação, poucos europeus estariam efetivamente dispostos a matar e serem mortos por isso. Quando os escoceses decidiram se livrar do controle de Londres na época de William Wallace e Robert Bruce, tiveram de pegar em armas. Em contraste, nem uma só pessoa foi morta durante o referendo escocês de 2014, e se na próxima vez os escoceses votarem pela independência, é altamente improvável que tenham de reeditar a Batalha de Bannockburn. A tentativa catalã de se separar da Espanha resultou em violência, mas tampouco se compara com as carnificinas de 1939 ou 1714 em Barcelona.
Oxalá o resto do mundo possa aprender com o exemplo europeu. Mesmo num planeta unido haverá muito espaço para o tipo de patriotismo que celebra a singularidade de minha nação e salienta minhas obrigações com ela. Mas, se queremos sobreviver e florescer, o gênero humano não tem outra opção a não ser complementar essas lealdades locais com obrigações reais para com a comunidade global. Uma pessoa pode e deve ser simultaneamente leal a sua família, sua vizinhança, sua profissão e sua nação — por que não acrescentar à lista a humanidade e o planeta? É verdade que quando se tem múltiplas lealdades os conflitos são às vezes inevitáveis. Mas quem disse que a vida era simples?
Em séculos passados as identidades nacionais eram forjadas porque os humanos enfrentavam problemas e oportunidades que estavam muito além do escopo de tribos locais, e somente com uma cooperação que abrangesse todo o país poder-se-ia lidar com eles. No século XXI, as nações encontram-se na mesma situação das tribos antigas: já não constituem mais o contexto no qual se tem de enfrentar os mais importantes desafios da época. Precisamos de uma nova identidade global porque as instituições nacionais são incapazes de lidar com um conjunto de situações globais sem precedentes. Hoje temos uma ecologia global, uma economia global e uma ciência global — mas ainda estamos encalhados em políticas nacionais. Essa incompatibilidade impede que o sistema político combata efetivamente nossos principais problemas. Para ter uma política efetiva temos ou de desglobalizar a ecologia, a economia e a marcha da ciência, ou globalizar nossa política. Como é impossível desglobalizar a ecologia e a marcha da ciência, e como o custo da desglobalização da economia seria provavelmente proibitivo, a única solução real é globalizar a política. Isso não significa criar um“governo global” — ideia duvidosa e pouco realista. Ao contrário, globalizar a política significa que a dinâmica política dos países e até mesmo das cidades deveria dar mais importância a interesses e problemas globais.
É pouco provável que sentimentos nacionalistas sejam de grande ajuda. Talvez, então, possamos confiar nas tradições religiosas universais da humanidade para que nos ajudem a unir o mundo? Centenas de anos atrás, religiões como o cristianismo e o islamismo pensavam em termos globais, e não locais, e estavam sempre profundamente interessadas nas grandes questões da vida, e não apenas nas lutas políticas desta ou aquela nação. Mas as religiões tradicionais ainda são relevantes? Teriam o poder de reconfigurar o mundo, ou são apenas relíquias inertes de nosso passado, arremessadas aqui e ali pelas poderosas forças de Estados, economias e tecnologias modernas?
Livros relacionados
